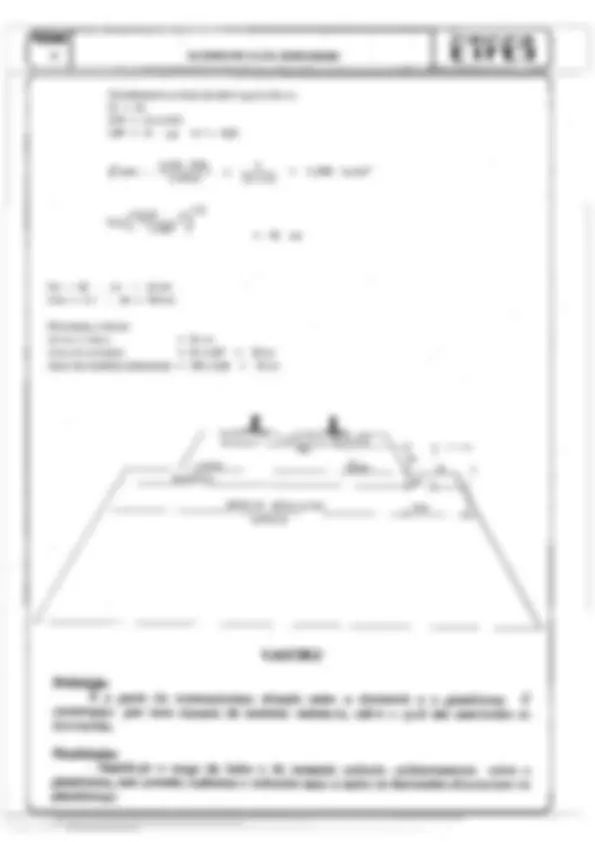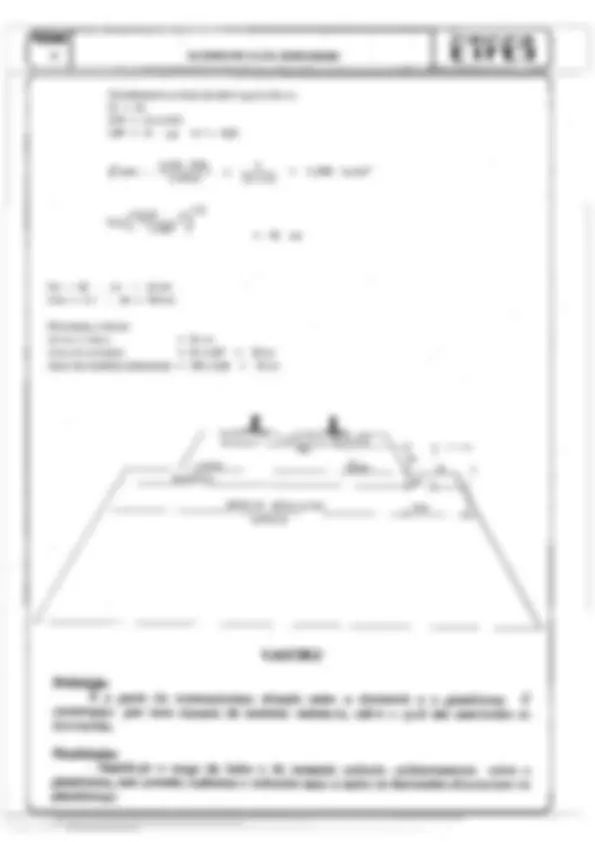Pré-visualização parcial do texto
Baixe Superestrutura ferroviaria - 2000 - Afonso Cláudio Benezath Cabral e outras Notas de estudo em PDF para Engenharia Civil, somente na Docsity!
“CEFETES Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo E da Educação Gerência de Apoio ao Ensino Coordenadoria de Recursos Didáticos * SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA ESTRADAS AFONSO CLÁUDIO BENEZATH CABRAL Vitória — ES 2005 ro PÁGINA) q E T r E q SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA 01 - ESTRADAS DE FERRO EVOLUÇÃO DAS FERROVIAS A primeira máquina a vapor, sobre rodas, foi desenhada por Richard Trevithick, em 1804, tendo numa experiência arrastado 10 toneladas de ferro, 5 vagões e 70 homens sobre uma via em Pennydonan, no País de Gales. A experiência não teve nenhum resultado prático. Nove anos mais tarde, Willian Hedley construiu duas máquinas a vapor para serem usadas nas minas de hulha de Wylan, próximo a Tyne. Finslmente, em 1814, George Stephenson construiu sua primeira locomotiva, a quai percorreu experimentalmente, o trajeto entre Stockton e Darlington. Essa foi a primeira ferrovia propriamente dita a ser destinada ao trátego regular de passageiros e pequenas cargas. Foi inaugurada a 27 de setembro de 1825, tendo levado sete anos para ser construída. Perfazia 61 km de extensão, numa única via e tinha desvios e intervalos regulares de 400m, para assegurar a circulação conveniente dos trens. Pouco mais tarde, foi inaugurada também a ferrovia entre as grandes cidades de Manchester e Liver- pool. No hemisfério ocidental, a primazia no desenvolvimento das ferrovias cabe aos E.U.A., com a primeira concessão obtida por John Stevens, conhecido como o “Pai das Estradas de Ferro”. No entanto, a falta de recursos monetários e de crédito, impediram que se pudesse aproveitar a concessão que obteve em 1815. A primeira estrada de ferro no hemisfério ocidental foi a “Detaware and Hudson Canol Company”, que em 1826, tigou por 26 km de trilhos, as localidades de Carbondale e Honesdale, cuja finalidade foi a de transportar car- vão de pedra. Em 28 de fevereiro de 1827, a “Baltimore and Ohio” obteve concessão para o transporte de passageiros e cargas, tendo sido assim, a primeira ferrovia propriamente dita, fora da Europa. As Estradas de Ferro começaram a se propagar pelo mundo, a princípio devagar, e mais tarde, de ma- neira mais acelerada, continuando a sua expansão até os nossos dias, notadamente após a crise do pretróleo. Em 1930 surgiu nos E.U.A, a locomotiva a diesel, usando como combustível um derivado de petróleo, que se transformou em grande número de países, no principal sistema de tração. Entretanto, até 1965, 54% das loco- motivas existentes no mundo eram a vapor. O sistema de tração que tem crescido consideravelmente nos anos recentes é o elétrico. A ferrovia mais moderna, no mundo, é movida a tração elétrica, a linha TOKAIDO, com 515 km de extensão, percorrida em aproxima- damente, 3 horas, com velocidade média de 200km/hora. O país de maior extensão ferroviária do mundo é o E.U.A,, com 350.000 km de linha, seguido da U.R.S.S. com 128 000 km, Canadá com 70 000 km, Índia com 56 000 km, Austrália com 41 000 km, Argentina com 40 009 km, França com 39 000 km e o Brasil com 33 000 km. A primeira ferrovia construída no Brasil foi a Estrada de Ferro MAUÁ, com 18,9 km de extensão, ligan- do o Porto de Mauá, no interior da Baía de Guanabara e Raiz da Serra, na direção de Petrópolis, inaugurada em 30 de abril de 1854, por irineu Evangelista de Souza — Barão de Mauá. No Espírito Santo temos, hoje, duas ferrovias - a E.F.V.M. (Estrada de Ferro Vitória a Minas), perten- cente à Companhia Vale do Rio Doce, com aproximadamente 180 km de extensão, em território capixaba, ligando o Espírito Santo a Minas gerais, e E.F.L. (Estrada de Ferro Leopoldina), pertecente à R.F.F.S.A., com aproximadamente 250 km em território capixaba, ligando o Espírito Santo ao Rio de Janeiro. Chegamos a ter três outras ferrovias, hoje erradicadas, ligando Nova Venécia - São Mateus, Castelo - Cachoeiro do Itapemirim e Marataízes - Cachoeiro do Ita- pemirim. PÁGINA T F E G [o7 SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA " e, EN GENERALIDADES SOBRE ESTRADAS DE FERRO VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS ESTRADAS DE FERRO QUANDO COMPARADAS COM OUTROS MEIOS DE TRANSPORTERS: VANTAGENS: “o -- a- Conexão crescente do número de vagões, movimentados economicamente por grandes distân- cias e por reduzido número de pessoal (comparado com caminhões); b- A operação ferroviária independe das condições climáticas; c- A operação ferroviária apresenta condições propícias para completa automatização d- Aproveitamento energético mais racional e eficiente; e- Possibilidade de desenvolver, sobre a linha férrea, velocidades elevadas; 1. Permite o uso de veículos ferroviários com elevada carga por eixo. DESVANTAGENS a- As ferrovias não oferecem o transporte “porta-a-porta”. Os caminhões oferecem um transporte mais rápido devido às facilidades de destocamento entre os pontos de embarque e desembarque das cargas; b- Custos elevados de investimento (custos fixos). Necessidade de transporte em larga escala, para a diminuição de custos; e- Problemas de bitolas. Necessidade de baldeação de cargas entre ferrovias de bitolas diferentes. « CLASSIFICAÇÃO a- Quanto ao aspecto politico-administrativo: Federais R.F.F.S.A, Estaduais FEPASA Outras administrações E.F.V.M. b- Quanto ao fim a que se destinam: Comerciais Objetivos econômico Estratégicos Objetivo militar Político Objetivo social c- Quanto ao tipo de tração: Comuns Simples aderência Especiais Tração especial d- Quanto à bitola: Estreita 1,00m Standard 144m Larga 1,60 m e- Quanto à intensidade de tráfego: Troncos Ramais Ligações CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS a- Definição: São os principais elementos de uma estrada e têm por finalidade, definir e uniformizar a execuação de projetos e construção de estradas (rodovias e ferrovias). , (PÁGINA 04 SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA Nu ” bitola ETFES) + DO A bitola estreita apresenta como vantagens: a) Curvas de menor raio; b) Menor largura da plataforma; c) Economia de lastro; d) Economia de dormentes; e) Economia de obras de artes correntes e especiais; f) Menor resistência à tração, nas curvas. Como desvantagens: a) Menor capacidade de tráfego; b) Menor velocidade; d) Quadro de Bitolas no mundo EUROPA: — Alemanha Ocidental (DB) — Alemanha Oriental (DR) - Áustria (OBB) - Bélgica (SNCB) - Checoslováquia (CSD) — Dinamarca (DSB) - Espanha (RENFE) — Finlândia (VR) França (SNCF) Holanda (NS) Hungria (M.A.V) Inglaterra (BR) hália (FS) Noruega (NSB) Polônia (PKP) Portugal (CP) Romênia (CFR) — Suécia (SJ) - Suiça (SBB, CFF, FFS) — lugoslávia (JZ) AMÉRICA: — Argentina -— Brasil — Canadá - Colômbia — cuba — Estados Unidos -— México — Venezuela c) Necessidade de baldeação, nos entroncamentos com ferrovias de outras bitolas. 1435 mm . 1435 mm 760 e 1 000 mm 1435 mm 1435, 1000, 1524 6 750 mm 1435 mm 1.668 e 1 006 mm 1524 mm 1437 mm “-». 1485 mm 760 e 1524 mm 1435 e 597 mm « 1435 e 950 mm 1435 mir. 1435, 1000, 800, 785, 750 e 600 mm 1.665 e 1 000 mm 1435, 891 e 1524 mm 1435, 89161067 mm 1435 e 1000 mm 1435, 1000, 760 e 600 mm 1000, 1 6767 e 750 mm 1000, 1600, 1435 mm 1435 mm 914 mm 1435 mm 1435 mm 1435 mm 1435, 1000e 762 mm r PÁGINA) q E T Fr E g SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA 05 A ÁFRICA: — África do Sul 1067 e610 mm — Argélia 1435, 1955 e 1000 mm - Congo 1067 mm - Etiópia 1000 mm - Guiné 10006 1435 mm - Marrocos 1 435 mm - Mauritânia . . . 1435 mm — Rodésia ..cccisiticaranercaecccccrnaannna rara nara nara rea nr 1067 mm ÁSIA: — Filipinas - 1067 mm - Índia 1876, 1000, 762 e 610 mm - Israel 1435 e 1050 mm - Japão . REDONDO 1067, 1435 e 1372 mm - Líbano RR 1435 e 1050 mm - Rússia 1520, 1435, 1 067, 1 000 e 600 mm - Vietname 1000 mm OCEANIA: - Austrália ..... 1435, 1067 1 600 mm PR 1067 mm — Nova Zelândia PLATAFORMA FERROVIÁRIA 1. INTRODUÇÃO Plataforma ferroviária é o suporte da estrutura da via, a qual recebe, através do lastro, as tensões devi- das ao tráfego e das demais instalações necessárias à operação Íerroviária, como: posteação da rede elétrica, condu- tores de cabos etc. Basicamente, a plataforma é constituída por solos naturais ou tratados, no caso de cortes e aterros, ou então por estruturas quaisquer, no caso de obras de arte. , Na construção das primeiras estradas, pouca importância era dada ao estudo da plataforma (iniraes- trutura), quanto aos materiais com que eram formados os aterros ou os cortes. Só recentemente começaram a aparecer, na literatura técnica ferroviária, destaques à importância que tem o estudo pormenorizada da plataforma: sus forma, sua constituição e as tensões a que está sujeita. 2. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS As características geométricas da plataforma dependem, principalmente, de: bitola, número de linhas, altura de lastro, tipo de dormente. Estes fatores inftuem, basicamente, em sua largura, A altura é função das condições topográficas. á PÁGINA) E T [ E g SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA 0 Na o, a — Conhecidos, entretanto, os materiais adequados pelas tabelas de A. CASAGRANDE, o dimensiona- mento das diversas camadas do terrapleno, pode ser feito através do conhecimento do CBR apenas. Como as pres- sões realmente importantes, devidas a carga móvel se dão até aproximadamente a 3 m de profundidade em relação ao dormente, procura-se dimensionar e classificar com o máximo rigor as diversas camadas, até essa profundidade. As camadas do terrapleno para esse efeito são: sublastro, material selecionado e subleito. 6. DIMENSIONAMENTO DA PLATAFORMA 6.1. Considerações iniciais OQ estudo do dimensionamento da plataforma, tem por objetivo, em função da altura do lastro, o conhe- cimento de: a. Espessura e características do sublastro b. Espessura e características da camada de material selecionado (MS) que fica logo abaixo do sublastro c. Espessura e características das demais camadas do terrapleno. Quanto maior for a espessura do lastro, maiores serão os recalques na plataforma, com a repetição da carga móvel. Deve-se conciliar a altura do iastro com a pressão na plataforma e o recalque. A altura do lastro aconselhável está em torno de 30 cm sob o dormente. 6.2 Sublastro O sublastro é a camada de material que completa a plataforma e que recebe o lastro. Sua função é ab- sorver os esforços transmitidos pelo lastro e transferi-los para o terreno subjacente, na taxa adequada à capacidade de suporte do terreno referido. Seu funcionamento é semelhante ao da sub-base dos pavimentos rodoviários. Além dis- so o sublastro não deverá permitir a penetração dos agregados situados na parte inferior do lastro, tendo ainda que propiciar uma perfeita drenagem das águas dele provenientes. 6.3. Material selecionado Camada intermediária de material situada entre o sublastro e o subleito, considerada como reforço do subteito, para que as diversas camadas da plataforma não tenham variação muito grande de CBR. 6.4. Tensões admissíveis na plataforma As tensões na plataforma ferroviária, até épocas recentes e seguindo diretrizes utilizadas nas rodovias, eram de modo a considerar que o CBR não fosse inferior a 4, Do mesmo modo o índice de grupo, pode definir a capacidade resistente da infraestrutura, de acordo com o quadro: TERRENO ÍNDICE DE GRUPO Excelente 0 Bom ' 4 Regular 9 Mau 20 Modernamente, as tensões admissíveis na plataforma, têm sido determinadas por esta fórmula, atribuí- da a HEUKELON, aplicada em rodovias: PAGINA E T F E G h os SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA ) r n 0,006 . Ed Vad Im = — 2 140,7 log N onde: Ed = módulo de elasticidade do solo obtido em condições dinâmicas (Ed É 100 CBR) N = número de ciclos. Varia conforme a classe da ferrovia em estudo. Exemplo: Classe A: N = 2,2 x 198 6 Classe B:N = 1,6x10 6 ClasseC:N =1,0x10 6 Classe D:N = 0,6x 10 6.5. Distribuição de pressões no lastro Calcula-se a distribuição da pressão abaixo do dormente, transmitida para o lastro e a plataforma, atra- vés da seguinte fórmula: Ph= e - Pm (Fórmula TALBOT) onde : Ph = Pressão à profundidade h (kg/em?) Pm = Pressão à superfície do lastro (kg/cm?) h = Profundidade abaixo do dormente (cm) A fórmula de Talbot é válida somente para h >24,3 cm, pois para esse valor tem-se Ph = Pm, Ela apresenta boa margem de segurança para determinação das pressões a uma profundidade h abaixo do dormente. 8.6. Critérios de dimensionamento A preocupação por um detalhamento rigoroso das diversas camadas da plataforma ferroviária é relati- vamente recente, mesmo nos países de grande progresso tecnológico no setor ferroviário. Ainda existem dúvidas quanto à necessidade au não do sublastro, sendo pouco empregado, em ferro- vias brasileiras. Procura-se estabelecer uma metodologia de dimensionamento das camadas, partindo da pressão sobre o lastro e do conhecimento do CBR do material do subleito que vai receber o material selecionado (MS), Como a distribuição de pressões é diferente ao longo das diferentes camadas, de diversas granulome- trias, tem-se que admitir um coeficiente de distribuição (CD) para cada camada, tomando por base o do lastro. O coe- ficiente de distribuição de cada uma das camadas, em relação ao lastro, será: Lastro CD=1 Sublastro CD = 087 Material selecionado CD = 0,69 Metodologia de cáteuto: 1. conhece-se o CBR do subleito que vai receber as três camadas principais da ferrovia: lastro, sublastro e material selecionado (MS). 2. conhece-se o valor Pm da pressão exercida sobre o lastro. 3, classifica-se a linha em estudo num dos grupos A, B, € e D, significando dizer que se tem o valor de N. a Pas (PÁBINA ETF ES 3 10 SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA ) a Considerando a altura do lastro igual a 30 em: ht = 30 CBR = 10 do MS CBR = 10 —» Ed = 1000 0,008 . 1000 6 ; - 1000 6 44089 kgiom Wadm 541072 5A1072 º hs» (EE . sy* 1,1089 = e em hsi = 68 - 30 = 38em hms = 177 - 68 = 109cm Dimensões efetivas: altura do lastro = 30em altura do sublastro = 38x0,87 = 33em attura do material selecionado = 109x0,69 = 75cm es E GO NS GR 2h 1 í Lastro (adm ins In Sublastro ns Ni Material selecionado subleito LASTRO Definição É a parte da superestrutura situado entre o dormente e a plataforma. É constituído por uma camada de material resistente, sobre o qual são assentados os dormentes, Finalidades - Distribuir a carga da linha e do material rodante, uniformemente sobre a plataforma, com pressão uniforme e reduzida (sem o lastro os dormentes afundariam na plataforma); . — ) PÁGINA) E T r E g SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA 1 , 4 —, - Sobrepondo-se à plataforma, suprimir suas irregularidades, formando uma superfície contínua e uniforme para o dormente; - Estabilizar vertical, longitudinal-e lateralmente a via; - Amortizar as ações dos veículos sobre à via; - Manter os dormentes em sua posição correta; - Permitir o escoamento das águas de chuvas para fora da plataforma; - Assegurar o perfeito alinhamento e nivelamento dos trilhos, nas tangentes e no arredondamento das curvas; - Dificultar a capilaridade (subida d'água até os dormentes); - Dificultar o crescimento da vegetação; - Elasticidade (funcionar como suporte elástico da via). Elasticidade Quando o trem desloca-se sobre a superestrutura da via, existe o movimento oscilatório, isto é, a via sobe e desce na passagem de cada eixo. Esses movimentos causam uma perda de energia que se traduz por uma maior resistência à tração. A energia absorvida depende do coeficiente de elasticidade da linha, sendo que o lastro muito elástico (mal socado), resulta em maior movimento ocscilatório e consegiiente perda de energia e, rigidez elevada do lastro a um justo valor, resuita em movimentos oscilatórios pequenos e menor resistência à tração. Características de um bom lastro Qualquer material a ser utilizado como lastro ferroviário, deve atender a certas características que não o inviabilize e que atenda as finalidades requeridas de um bom lastro, são elas: Resistência - para suportar os esforços das cargas móveis. Durabilidade - para resistir aos desgastes e ação do tempo. Estabilidade - para não se deformar e não se deslocar sob a ação dos esforços. Drenabilidade - para permitir o rápido escoamento das águas de chuvas. Limpeza - para não permitir o crescimento da vegetação e propiciar melhor drenabilidade. Materiais Utilizados Desde que um material atenda as características de um bom lastro, ele poderá ser utilizado para tal finalidade. Os materiais mais ; frequentemente 1 usados, são: Terra - é o mais barato mas, em compensação, o pior tipo de lastro. Além de propiciar o crescimento da vegetação, em épocas de secas produz poeira e, em épocas de chuvas, produz bolsões de lama sob o dormente, causando o desnivelamento da linha (laqueamento da linha), podendo causar acidentes. Saibro - material pouco melhor que a terra, mas que não reúne qualidades de um bom lastro. Areia - não se altera em presença das águas, oferece boa drenagem e boa resistência mas, produz uma poeira de grãos muito duros, sendo prejudicial aos trilhos, rodas e peças dos vagões e locomotivas, por ser poderoso abrasivo, causando desgaste prematuro. Cascalho - pouco melhor que a areia porque não pode ser arrastado pelas águas e pelo vento. É um bom material quando quebrado, formando arestas vivas. Seixo rolado - apresenta como inconveniente a forma arredondada que diminue o atrito entre si, facilitando o desnivelamento e desalinhamento da via. Quando quebrado, formando arestas vivas, é um ótimo material. 0) r PÁGINA) r T r E g SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA 13 a » pa Reforço q Quando necessário, faz-se o reforço do lastro. Isto acontece quando existir : - aumento de tráfego; - compensação de volume devido ao recalque continuo do lastro na plataforma; - compensação do volume devido à limpeza parcial ou total. Quando o lastro penetra na plataforma, formando uma bolsa de lastro, é necessária a inspeção e sondagens no local, para verificar a profundidade e extensão da boisa. Tal problema é corrigido por meio de injeção de argamassa (cimento e areia) através de equipamentos especiais. Serviços Consistem em: a. Conservação - limpeza parcial, socaria, nivelamento e alinhamento. b. Renovação - limpeza parcial ou total, correção da plataforma, reforço com pedra nova, socaria, nivelamento e alinhamento. Espessura A espessura do lastro é função das pressões exercidas pela superestrutura na plataforma, pressões estas decorrentes das cargas móveis. Na via férrea, a distribuição das pressões exercidas para cada dormente , decorrente das passagens das cargas móveis, se transmite a uma grande área da plataforma. A espessura da camada do lastro deve assegurar uma boa distribuição das cargas na plataforma, de acordo com a natureza do solo. Manutenção do lastro Para que o lastro conserve suas características por um tempo mais longo e atinja sua finalidade mais eficiente , é necessário que se tome os seguintes cuidados: Não permitir terra sobre o mesmo e quando tal acontecer, retirar imediatamente, antes que penetre no seu interior. Impedir o crescimento de vegetação que conseguem florescer no seu interior. Manter boa drenagem da plataforma a fim de impedir que as águas de chuvas permaneçam empoçadas no seu interior ou mesmo lateralmente, que certamente irá produzir Boisas de Lastro. Nos locais de plataforma úmida, deve-se procurar secá-las, através de valas profundas paralelamente ao lastro ou atravessando-o de um iado para o outro. Estas valas, devem ser preenchidas com brita de boa qualidade, afim de evitar o desmoronamento de suas paredes, sem impedir o escoamento das águas superficiais e subterrâneas. Manter o ombro da brita no mínimo com 30cm para evitar o "despuchamento" da via; e no máximo com 50cm por questão de estética (beleza), nos lugares onde haja sobra de material ocasionada por descarga mal feita. Manter o Lastro batido na sua superfície, principalmente entre os dormentes afim de assegurar uma boa ancoragem dos dormentes. (PÁGINA E T F g 14 SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA E DORMENTES 1. HISTÓRICO São elementos que se situam na direção transversal ao eixo da linha, sobre os quais se colocam os tri- lhos e, constituem através da fixação, no elemento de união entre o trilho e o lastro, formando com eles, a superes- trutura da via. São considerados um dos componentes da superestrutura de maior importância, e por isso, têm sido objeto de constantes pesquisas, visando melhorar a sua capacidade de resistência, aumentar a sua vida útil e reduzir seus custos. Existem, hoje, três tipos principais de dormentes, em uso: Madeira, aço e Concreto. Dos três tipos, o que reúne melhores qualidades é o de madeira, seguido do de concreto, que tem al- cançado um avanço tecnológico bem acentuado, competindo com os de madeira nas linhas de alta velocidade, princi- palmente na Europa. Existem dois aspectos principais dos dormentes para a sua classificação: o de material de constituição e a forma e características externas. 2. FINALIDADE a. distribuição das pressões dos trilhos sobre o lastro b. manutenção correta da bitola da linha c. garantia de alinhamento dos trilhos d. fixação dos trilhos e. nivelamento dos trilhos f. absorção dos esforços transversais e longitudinais (choques e vibrações). 3. CONDIÇÕES TEÓRICAS DE TRABALHO a. os dormentes golpeam o lastro, na passagem das cargas móveis b. no lastro socado em toda a extensão dos dormentes, a flexão é anormal (figura 1). No lastro socado embaixo dos dormentes, abaixo dos trilhos (30 a 40 cm de cada tado) a flexão é normal (figura 2). Socagem em todo extensão do dormente Deformação e ruptura do dôrmente Lig. 1) a 4 LEE tfig.2) c. as difíceis condições de trabalho dos dormentes, exigem boa conservação e duração d. o comprimento dos dormentes independe do peso dos eixos, é função da bitola e do material dos dormentes e. o dormente muito comprido, estreita a bitola (figura 3) e, o dormente muito curto, alarga a bitola (figura 4). Cb ft, (fig.3) (tig.4) PÁGINA 16 SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA ETFES) 4.5. Datação Na determinação da vida efetiva dos dormentes, são usados os pregos datadores. , Nos lotes de dormentes, ou individualmente, são cravados pregos datadores que acusam a data de sua utilização na linha, para com isto, na época certa, haver a troca dos dormentes que atingiram o limite de sua vida útil. Este sistema pode ser substituido pela utilização de programas de computação. 4.6. Recuperação Quando o dormente atinge o limite de sua vida útil, em ferrovias principais e, ainda apresentam carac- terísticas que mostram poderem ser utilizados em ferrovias secundárias (desvios, linhas secundárias, linhas provisó- rias etc.) eles são recuperados e reutilizados. Esta recuperação consiste em se fechar Os furos de fixação com tarugos de madeira, verificar as fendas e se fazer a cintagem etc. 4.7. Classificação , a. Quanto à finalidade: dormente de via dormentes especiais - pontes e chaves b. Quanto ao tipo: dormente de cerne dormente branco c. Quanto ao tratamento: tratados não tratados d. Quanto à qualidade -madeiras duras da madeira: semi-duras fdurabilidade) motes brancas (tratadas) 1º classe - dureza média provável - 10 anos 2º classe - dureza média provável - Sanos 3º classe - dureza média provável - -3anos Esta classificação depende do serviço florestal. 4.8. Vantagens e Desvantagens a. Vantagens: Resistência Elasticidade Facilidade de substituição da fixação Facitidade de manuseio - carga descarga e aplicação Nos casos de descarrilhamento, não sofrem muito Reemprego em linhas secundárias Bom isolamento em linhas sinalizadas b. Desvantagens: Apodrecimento progressivo e rápido (não tratados) Queima quando usada tração a vapor Não mantém firme a fixação Desgaste mecânico Sujeito a escassez 4.9. Tratamento ou Preservação dos dormentes de Madeira 4.91. Durabilidade dos Dormentes A durabilidade dos dormentes depende de: Clima Drenagem do lastro Volume, peso e velocidade do tráfego Curvatura da linha Uso da chapas de apoio Época do ano para o corte da madeira Idade da madeira e grau de secagem Natureza do terreno de que é extraída a madeira Espécie de madeira empregada PÁGINA) — E T Fr E 5 SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA vo) Na " 4.9.2. Causas principais da Deterioração dos Dormetes de Madeira . Apodrecimento - ação def ungos e cogumelos. Umidade e falta de aeração b. Fendilhamento - depende da época do corte e secagem da madeira e. Desgaste - ação mecânica dos trilhos ou chapas de apoio, sob a ação das cargas. Movimento dos pregos ou tire- fonds alargando os furos, permitindo a penetração da umidade d. Repregação - acerto da bitola, novos furos para pregos, permitindo a penetração da umidade e. Outras causas - descarrilamentos, brasas de caldeiras. o 4.9.3. Meios de Atenuar as Causas cortar os dormentes na época certa Fazer pilhas para a secagem Aplicar cintas e parafusos contra fendilhamentos Aplicar medidas contra desgaste Tratar as madeiras 4.94, Necessidade e Conveniência do Tratamento Durabilidade dos dormentes quanto aa desgaste e apodrecimento Alongamento da vida útil Destruição dos fungos 4.9.5. Produtos Usados Bicloreto de mercúrio Cloreto de zinco Sulfato de ferro Pentacloro feno! Sais de Wolman Arseniato de cobre Creosato (o melhor) CREOSOTO Da destilação do alcatrão, produto proveniente por sua vez da destilação da madeira, obtém-se um sub-produto, oleaginoso, incolor, odorante, muito venenoso, pouco solúvel em água, inflamávet a cerca de 2002 C, denominado Creosoto. Tema propriedade de coagular a albumina e impedir a decomposição das matérias orgênicas. Da destilação do carvão de pedra e do petróleo, obtém-se produtos análogos, que, por extensão, são chamados, também, creosoto. Na composição do creosoto encontra-se ácido fênico, sendo a ação preservativa desse produto devida à presença deste ácido. 4.9.6. Tratamento de dormentes O tratamento dos dormentes empregados nas linhas férreas pode ser feito por dois processos gerais, que são: tratamento superficial e tratamento por impregnação ou penetração. Tratamento superficial Consiste em: a. Na carbonização superficial da madeira b. Na pincelagem da madeira, superficialmente, com um preservativo c. No mergulho rápido da madeira, em um líquido preservativo. Como é evidente, qualquer desses processos protege somente a parte externa da madeira. Enquanto não se modifica a estrutura dessa parte, a proteção é eficiente. Porém, qualquer ruptura da capa protetora, permite a penetração dos agentes destruidores. Tratamento por impregnação ou Penetração Por este meio, não só a camada externa fica protegida, mas, também, o interior da madeira, tanto mais, quanto mais aperfeiçoado for o processo de tratamento empregado. Baseia-se na propriedade que tem a madeira de absorver os líquidos, mais ou menos, de acordo com o seu estado de hidratação. )