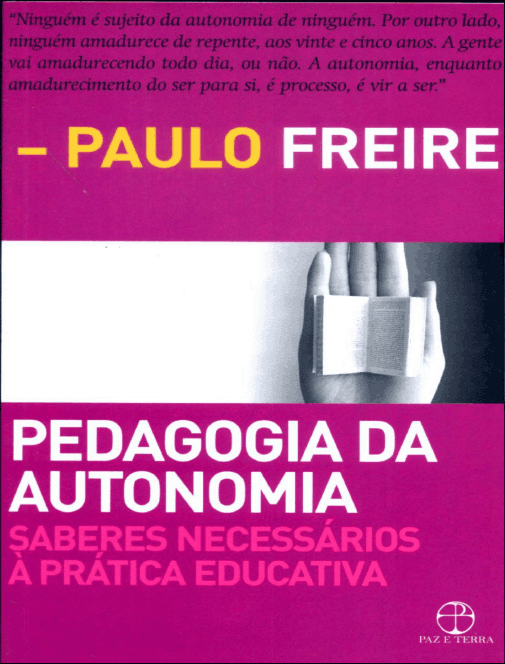






































































Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity
Os melhores documentos à venda: Trabalhos de alunos formados
Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade
Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.

Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Comunidade
Peça ajuda à comunidade e tire suas dúvidas relacionadas ao estudo
Descubra as melhores universidades em seu país de acordo com os usuários da Docsity
Guias grátis
Baixe gratuitamente nossos guias de estudo, métodos para diminuir a ansiedade, dicas de TCC preparadas pelos professores da Docsity
O livro "Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa", escrito por Paulo Freire. A obra, publicada originalmente em 1996, é um dos textos mais importantes e concisos do autor, servindo como uma síntese de suas principais ideias sobre a educação como ato de conhecimento, criação e emancipação. Referência bibliografia: FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
Tipologia: Manuais, Projetos, Pesquisas
1 / 76

Esta página não é visível na pré-visualização
Não perca as partes importantes!
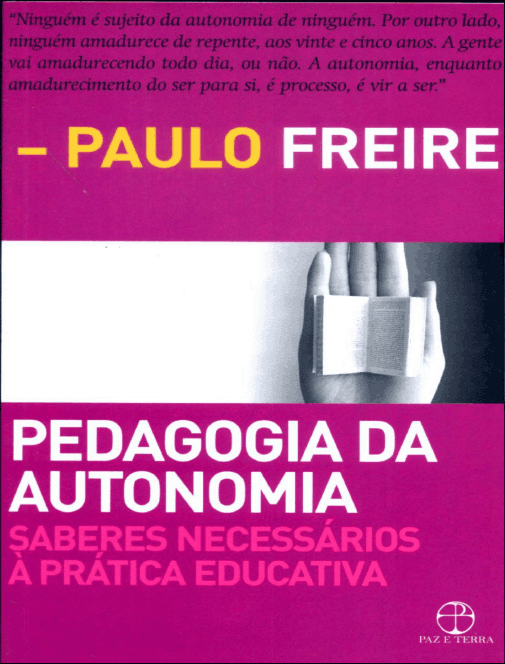




































































Autonomia do educando: Educação
Pedagogia da autonomia: Educação
EDITORA PAZ E TERRA S/A
Rua do Triunfo, 177
Santa Efigência, São Paulo, SP – CEP: 01212-
Tel.: (011) 3337-
Rua General Venâncio Flores, 305, sala 904
Rio de Janeiro, RJ – CEP: 22441-
Tel.: (021) 2512-
E-mail: vendas@pazeterra.com.br
Home Page: www.pazeterra.com.br
2002
Impresso no Brasil / Printed in Brazil
Dedicatórias
A Ana Maria, minha mulher, com alegria e amor.
Paulo
A Fernando Gasparin, a cujo gosto da rebeldia e a cuja disponibilidade à luta pela liberdade e pela democracia muito devemos.
Paulo Freire
À memória de Admardo Serafim de Oliveira.
Paulo Freire
A João Francisco de Souza, intelectual cujo respeito as saber de senso comum jamais o fez um basista e cujo acatamento à rigorosidade científica jamais o tornou um elitista e a Inês de Souza,
sua companheira e amiga, com admiração de
Paulo Freire
A Eliete Santiago, em cuja prática docente ensinar jamais foi transferência de conhecimento feita pela educadora aos alunos. Ao contrário, para ela, ensinar é uma aventura criadora.
Paulo Freire
Aos educandos e educandas, às educadoras e educadores do Projeto Axé, de Salvador da Bahia, na pessoa de sue incansável animador Cesare de La Roca, com minha profunda admiração.
Paulo Freire
A Ângela Antunes Ciseski, Moacir Gadotti, Paulo Roberto Padilha e Sônia Couto, do Instituto Paulo Freire, com meus agradecimentos pelo excelente trabalho de organização dos capítulos desta Pedagogia da Autonomia.
Paulo Freire
Gostaria igualmente de agradecer a Christine Röhrig e a equipe de produção e revisão da Paz e Terra pela dedicação com relação não só a este como a outros livros meus.
ÍNDICE
Prefácio ............................................................................................................................ 7
Primeiras Palavras ............................................................................................................. 9
Cap. 1 - Não há docência sem discência ............................................................................... 12
1.1 – Ensinar exige rigorosidade metódica............................................................................ 13
1.2 – Ensinar exige pesquisa.............................................................................................. 14
1.3 – Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos ......................................................... 15
1.4 – Ensinar exige criticidade............................................................................................ 15
1.5 – Ensinar exige estética e ética..................................................................................... 16
1.6 – Ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo .............................................. 16
1.7 – Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação ........... 17
1.8 – Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática................................................................. 17
uma das exigências da ação educativo-crítica por ele defendida: a de testemunhar a minha disponibilidade à vida e os seus chamamentos. Comecei a estudar Paulo Freire no Canadá, com meu marido, Admardo, a quem este livro é em parte dedicado. Não poderia aqui me pronunciar sem a ele me referir, assumindo-o afetivamente como companheiro com quem, na trajetória possível, aprendi a cultivar vários dos saberes necessários à prática educativa transformadora. E o pensamento de Paulo Freire foi, sem dúvida, uma de suas grandes inspirações.
As idéias retomadas nesta obra resgatam de forma atualizada, leve, criativa, provocativa, corajosa e esperançosa, questões que no dia a dia do professor continuam a instigar o conflito e o debate entre os educadores e as educadoras. O cotidiano do professor na sala de aula e fora dela, da educação fundamental à pós-graduação. É explorado como numa codificação, enquanto espaço de
reafirmação, negação, criação, resolução de saberes que constituem os “conteúdos obrigatórios à organização programática e o desenvolvimento da formação docente". São conteúdos que, extrapolando os já cristalizados pela prática escolar, o educador progressista, principalmente, não pode prescindir para o exercício da pedagogia da autonomia aqui proposta. Uma pedagogia fundada na ética, no respeito à dignidade e à própria autonomia do educando.
Como os demais saberes, este demanda do educador um exercício permanente. É a convivência amorosa com seus alunos e na postura curiosa e aberta que assume e, ao mesmo tempo, provoca-os a se assumirem enquanto sujeitos sócios-históricos-culturais do ato de conhecer, é que ele pode falar do respeito à dignidade e autonomia do educando. Pressupõe romper com concepções e práticas que negam a compreensão da educação como uma situação gnoseológica. A competência técnico científica e o rigor de que o professor não deve abrir mão no desenvolvimento do seu trabalho, não são incompatíveis com a amorosidade necessária às relações educativas. Essa postura ajuda a construir o ambiente favorável à produção do conhecimento onde o medo do professor e o mito que se cria em torno da sua pessoa vão sendo desvalados. É preciso aprender a ser coerente.
De nada adianta o discurso competente se a ação pedagógica é impermeável à mudanças.
No âmbito dos saberes pedagógicos em crise, ao recolocar questões tão relevantes agora quanto foram na década de 60, Freire, como homem de seu tempo, traduz, no modo lúcido e peculiar, aquilo que os estudos das ciências da educação vêm apontando nos últimos anos: a ampliação e a diversificação das fontes legítimas de saberes e a necessária coerência entre o “saber-fazer é o saber-ser-pedagógicos”.
Num momento de aviamento e de desvalorização do trabalho do professor em todos os níveis, a pedagogia da autonomia nos apresenta elementos constitutivos da compreensão da prática docente enquanto dimensão social da formação humana. Para além da redução ao aspecto estritamente pedagógico e marcado pela natureza política de seu pensamento, Freire, adverte-nos para a necessidade de assumirmos uma postura vigilante contra todas as práticas de desumanização. Para tal o saber-fazer da auto reflexão crítica e o saber-ser da sabedoria exerc
itados permanentemente, podem nos ajudar a fazer a necessária leitura crítica das verdadeiras causas da degradação humana e da razão de ser do discurso fatalista da globalização.
Nesse contexto em que o ideário neoliberal incorpora, dentre outras, a categoria da autonomia, é preciso também atentar para a força de seu discurso ideológico e para as inversões que pode operar no pensamento e na prática pedagógica ao estimular o individualismo e a competitividade. Como contraponto, denunciando o mal estar que vem sendo produzido pela ética do mercado, Freire, anuncia a solidariedade enquanto compromisso histórico de homens e mulheres, como uma das formas de luta capazes de promover e instaurar a “ética universal do ser humano”. Essa dimensão utópica tem na pedagogia da autonomia uma de suas possibilidades.
Finalmente, impossível não ressaltar a beleza produzida e traduzida nesta obra. A sensibilidade com que Freire problematiza e toca o educador aponta para a dimensão estética de sua prática que, por isso mesmo pode ser movida pelo desejo e vivida com alegria, sem abrir mão do sonho, do rigor, da seriedade e da simplicidade inerente ao saber-da-competência.
Edina Castro de Oliveira
Mestre em Educação pelo PPCF/DEFS Prof' do Dpto de Fundamentos da Educação e
Orientação Educacional
Vitória, novembro de 1996.
Primeiras Palavras
A questão da formação docente ao lado da reflexão sobre a prática educativo-progressiva em favor da autonomia do ser dos educandos é a temática central em torno de que gira este texto. Temática a que se incorpora a análise de saberes fundamentais àquela prática e aos quais espero que o leitor crítico acrescente alguns que me tenham escapado ou cuja importância não tenha percebido.
Devo esclarecer aos prováveis leitores e leitoras o seguinte: na medida mesma em que esta vem sendo uma temática sempre presente às minhas preocupações de educador, alguns dos aspectos aqui discutidos não têm sido estranhos a análises feitas em livros meus anteriores. Não creio, porém, que a retomada de problemas entre um livro e outro e no corpo de um mesmo livro enfade o leitor.
Sobretudo quando a retomada do tema não é pura repetição do que já foi dito. No meu caso pessoal retomar um assunto ou tema tem que ver principalmente com a marca oral de minha escrita. Mas tem que ver também com a relevância que o tema de que falo e a que volto tem no conjunto de objetos a que direciono minha curiosidade. Tem que ver também com a relação que certa matéria tem com outras que vêm emergindo no desenvolvimento de minha reflexão. É neste sentido, por exemplo, que me aproximo de novo da questão da inconclusão do ser humano, de sua inserção num permanente movimento de procura, que rediscuto a curiosidade ingênua e a
gosto de falar mal. A ética de que falo é a que se sabe traída e negada nos comportamentos grosseiramente imorais como na perversão hipócrita da pureza em puritanismo. A ética de que falo é a que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, de gênero, de classe. É por esta ética inseparável da prática educativa, não importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, que devemos lutar. E a melhor maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa prática, é testemunhá-la, vivaz, aos educandos em nossas relações com eles. Na maneira como lidamos com os conteúdos que ensinamos, no modo como citamos autores de cuja obra discordamos ou com cuja obra concordamos. Não podemos basear nossa crítica a um autor na leitura feita por cima de uma ou outra de suas obras. Pior ainda, tendo lido apenas a crítica de quem só leu a contracapa de um de seus livros.
Posso não aceitar a concepção pedagógica deste ou daquela autora e devo inclusive expor aos alunos as razões por que me oponho a ela mas, o que não posso, na minha crítica, é mentir. É dizer inverdades em torno deles. O preparo científico do professor ou da professora deve coincidir com sua retidão ética. É uma lástima qualquer descompasso entre aquela e esta. Formação científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, capacidade de viver e de aprender com o diferente, não permitir que o nosso mal-estar pessoal ou a nossa antipatia com relação ao outro nos façam acusá-lo do que não fez são obrigações a cujo cumprimento devemos humilde mas
perseverantemente nos dedicar.
É não só interessante mas profundamente importante que os estudantes percebam as diferenças de compreensão dos Faros, as posições às vezes antagônicas entre professores na apreciação dos problemas e no equacionamento de soluções. Mas é fundamental que percebam o respeito e a lealdade com que um professor analisa e critica as posturas dos outros.
De quando em vez, ao longo deste texto, volto a este tema. É que me acho absolutamente convencido da natureza ética da prática educativa, enquanto prática especificamente humana. É que, por outro lado, nos achamos, ao nível do mundo e não apenas do Brasil, de tal maneira submetidos ao comando da malvadez da ética do mercado, que me parece ser pouco tudo o que façamos na defesa e na prática da ética universal do ser humano. Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não ser assumindo-nos como sujeitos éticos. Neste sentido, a transgressão dos princípios éticos é uma possibilidade mas não é uma virtude. Não podemos aceitá-la.
Não é possível ao sujeito ético viver sem estar permanentemente exposto á transgressão da ética.
Uma de nossas brigas na História, por isso mesmo, é exatamente esta: fazer tudo o que possamos em favor da eticidade, sem cair no moralismo hipócrita, ao gosto reconhecidamente farisaico. Mas, faz parte igualmente desta luta pela eticidade recusar, com segurança, as críticas que vêem na defesa da ética, precisamente a expressão daquele moralismo criticado. Em mim a defesa da
ética jamais significou sua distorção ou negação.
Quando, porém, falo da ética universal do ser humano estou falando da ética enquanto marca da natureza humana, enquanto algo absolutamente indispensável à convivência humana. Ao fazê-lo estou advertido das possíveis críticas que, infiéis a meu pensamento, me apontarão como ingênuo e idealista. Na verdade, falo da ética universal do ser humano da mesma forma como falo de sua vocação ontológica para o ser mais, como falo de sua natureza constituindo-se social e historicamente não como um “a priori” da História. A natureza que a ontologia cuida se gesta socialmente na História. É uma natureza em processo de estar sendo com algumas conotações fundamentais sem as quais não teria sido possível reconhecer a própria presença humana no mundo como algo original e singular. Quer dizer, mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma Presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, reconhecendo a outra presença como um “não-eu” se reconhece como “si própria”. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz mas também do que sonha, que constata, compara, avalia, valora, que decide, que rompe. E é no domínio da decisão, da avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a necessidade da ética e se impõe a responsabilidade. A ética se torna inevitável e sua transgressão possível é um desvalor, jamais uma virtude.
Na verdade, seria incompreensível se a consciência de minha presença no mundo não significasse já a impossibilidade de minha ausência na construção da própria presença. Como presença consciente no mundo não posso escapar à responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Se sou puro produto da determinação genética ou cultural ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no mover-me no mundo e se careço de responsabilidade não posso falar em ética. Isto não significa negar os condicionamentos genéticos, culturais, sociais a que estamos submetidos. Significa reconhecer que somos seres condicionados mas não determinados. Reconhecer que a História é tempo de possibilidade e não de determinismo, que o futuro, permita-se-me reiterar, é problemático e não inexorável.
Devo enfatizar também que este é um livro esperançoso, um livro otimista, mas não ingenuamente construído de otimismo falso e de esperança vã. As pessoas, porém, inclusive de esquerda, para quem o futuro perdeu sua problematicidade – o futuro é um dado dado – dirão que ele é mais um devaneio de sonhador inveterado.
Não tenho raiva de quem assim pensa. Lamento apenas sua posição: a de quem perdeu seu endereço na História.
A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal anda solta no mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social que, de histórica e cultural, passa a ser ou a virar “quase natural”. Frases como “a realidade é assim mesmo, que podemos fazer?” ou “o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século”
expressam bem o fatalismo desta ideologia e sua indiscutível vontade imobilizadora. Do ponto de
A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blablablá e a prática, ativismo.
O que me interessa agora, repito, é alinhar e discutir alguns saberes fundamentais à prática educativo-crítica ou progressista e que, por isso mesmo, devem ser conteúdos obrigatórios à organização programática da formação docente. Conteúdos cuja compreensão, tão clara e tão lúcida quanto possível, deve ser elaborada na prática formadora. É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção.
Se, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considero o objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto por ele formado, me considero como um paciente que recebe os conhecimentos- conteúdos-acumulados pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos. Nesta forma de compreender e de viver o processo formador, eu, objeto agora, terei a possibilidade, amanhã, de me tornar o falso sujeito da “formação” do futuro objeto de meu ato formador. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao for-mar e quem é formado forma -se e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem forrar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina ensina alguma coisa a alguém. Por isso é que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo- relativo. Verbo que pede um objeto direto
- alguma coisa – e um objeto indireto – a alguém. Do ponto de vista democrá tico em que me situo, mas também do ponto de vista da radicalidade metafísica em que me coloco e de que decorre minha compreensão do homem e da mulher como seres históricos e inacabados e sobre que se funda a minha inteligência do processo de conhecer, ensinar é algo mais que um verbo transitivo-relativo.
Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e homens perceberam que era possível – depois, preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender. Não temo dizer que inexiste validade no ensino de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi apreendido não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz.
Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender participamos de uma
experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a seriedade.
Às vezes, nos meus silêncios em que aparentemente me perco, desligado, flutuando quase, penso na importância singular que vem sendo para mulheres e homens sermos ou nos termos tornado, como constata François Jacob, “seres programados, mas, para aprender”. É que o processo de aprender, em que historicamente descobrimos que era possível ensinar como tarefa não apenas embutida no aprender, mas perfilada em si, com relação a aprender, é um processo que pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-la mais e mais criador. O que quero dizer é o seguinte: quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender tanto mais se constrói e desenvolve o que venho chamando “curiosidade epistemológica”*, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do objeto.
É isto que nos leva, de um lado, à crítica e à recusa ao ensino “bancário”***, de outro, a compreender que, apesar dele, o educando a ele submetido não está fadado a fenecer; em que pese o ensino
"bancário”, que deforma a necessária criatividade do educando e do educador, o educando a ele sujeitado pode, não por causa do conteúdo cujo “conhecimento” lhe foi transferido, mas por causa do processo mesmo de aprender, dar, como se diz na linguagem popular, a volta por cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico do “bancarismo”.
O necessário é que, subordinado, embora, à prática “bancária”, o educando mantenha vivo em si o gosto da rebeldia que, aguçando sua curiosidade e estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma o “imuniza” contra o poder apassivador do "bancarismo". Neste caso, é a força criadora do aprender de que fazem parte a comparação, a repetição, a constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, que supera os efeitos negativos do falso ensinar.
Esta é uma das significativas vantagens dos seres humanos – a de se terem tornado capazes de ir mais além de seus condicionantes. Isto não significa, porém, que nos seja indiferente ser um educador “bancário” ou um educador “problematizador”.
1.1 – Ensinar exige rigorosidade metódica
O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se “aproximar” dos objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada que ver com o discurso “bancário”
meramente transferidor do perfil do objeto ou do conteúdo. É exatamente neste sentido que ensinar não se esgota no “tratamento” do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que aprender criticamente é possível. E essas condições
pensar certo. E uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Por isso é que o pensar certo, ao lado sempre da pureza e necessariamente distante do puritanismo, rigorosamente ético e gerador de boniteza, me parece inconciliável com a desvergonha da arrogância de quem se acha cheia ou cheio de si mesmo.
O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que uma das bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres históricos, é a capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o mundo. Mas, histórico como nós, o nosso conhecimento do mundo tem
historicidade. Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se fez velho e se “dispõe” a ser ultrapassado por outro amanhã*. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente. Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente. A "do-discência” – docência-discência
1.2 – Ensinar exige pesquisa
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino**. Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.
Pensar certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos do ciclo gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho chamando “curiosidade epistemológica”. A curiosidade ingênua, do que resulta indiscutivelmente um certo saber, não importa que metodicamente desrigoroso, é a que caracteriza o senso comum. O saber de pura experiência feito. Pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso da educadora com a consciência crítica do educando cuja “promoção” da ingenuidade não se faz automaticamente.
1.3 – Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos
Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os da classes populares, chegam a ela –
saberes socialmente construídos na prática comunitária – mas também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes. Por que não há lixões no coração dos bairros ricos e mesmo puramente remediados dos centros urbanos? Esta pergunta é considerada em si demagógica e reveladora da má vontade de quem a faz. É pergunta de subversivo, dizem certos defensores da democracia.
Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida? Por que não estabelecer uma necessária
“intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida neste descaso? Porque, dirá um educador reacionariamente pragmático, a escola não tem nada que ver com isso. A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferí-los aos alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos.
1.4 – Ensinar exige criticidade
Não há para mim, na diferença e na “distância” entre a ingenuidade e a criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação. A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se então, permito-me repetir, curiosidade epistemológica, metodicamente
“rigorizando-se” na sua aproximação ao objeto, conota seus achados de maior exatidão.
Na verdade, a curiosidade ingênua que, “desarmada”, está associada ao saber do senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se, aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se torna curiosidade epistemológica. iluda de qualidade mas não de essência. A curiosidade de camponeses com quem tenho dialogado ao longo de minha experiência político-pedagógica, fatalistas ou já rebeldes diante da violência das injustiças, é a mesma curiosidade, enquanto abertura mais ou menos espancada diante de “não- eus”, com que cientistas ou filósofos acadêmicos “admiram” o mundo. Os cientistas e os filósofos superam, porém, a ingenuidade da curiosidade do camponês e se tornam
1.6 – Ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo
O professor que realmente ensina, quer dizer, que trabalha os conteúdos no quadro da rigorosidade do pensar certo, nega, como falsa, a fórmula farisaica do “faça o que mando e não o que eu faço”.
Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras a que falta a corporeidade do exemplo pouco ou quase nada valem. Pensar certo é fazer certo.
Que podem pensar alunos sérios de um professor que, há dois semestres, falava com quase ardor sobre a necessidade da luta pela autonomia das classes populares e hoje, dizendo que não mudou, faz o discurso pragmático contra os sonhos e pratica a transferência de saber do professor para o aluno?! Que dizer da professora que, de esquerda ontem, defendia a formação da classe trabalhadora e que, pragmática hoje, se satisfaz, curvada ao fatalismo neoliberal, com o puro treinamento do operário, insistindo, porém, que é progressista?
Não há pensar certo fora de uma prática testemunhal que o re-diz em lugar de desdizê-lo. Não é possível ao professor pensar que pensa certo mas ao mesmo tempo perguntar ao aluno se “sabe com quem está falando”.
O clima de quem pensa certo é o de quem busca seria-mente a segurança na argumentação, é o de quem, discordando do seu oponente não tem por que contra ele ou contra ela nutrir uma raiva desmedida, bem maior, às vezes, do que a razão mesma da discordância. Uma dessas pessoas desmedidamente raivosas proibiu certa vez estudante que trabalhava dissertação sobre alfabetização e cidadania que me lesse. “Já era”, disse com ares de quem trata com rigor e neutralidade o objeto, que era eu. “Qualquer leitura que você faça deste senhor pode prejudicá- la”. Não é assim que se pensa certo nem é assim que se ensina certo**. Faz parte do pensar certo o gosto da generosidade que, não negando a quem o tem o direito à raiva, a distingue da raivosidade irrefreada.
A este propósito ver Postman, Neil. Technopoly - The Surrender of Culture to Technology, Nova York, Alfred A. Knopf, 1992
1.7 – Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico. O
velho que preserva sua validade ou que encarna uma tradição ou marca uma presença no tempo continua novo.
Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade
do ser humano e nega radicalmente a democracia. Quão longe dela nos achamos quando vivemos a impunidade dos que matam meninos nas ruas, dos que assassinam camponeses que lutam por seus direitos, dos que discriminam os negros, dos que inferiorizam as mulheres. Quão ausentes da democracia se acham os que queimam igrejas de negros porque, certamente, negros não têm alma. Negros não rezam. Com sua negritude, os negros sujam a branquitude das orações... A mim me dá pena e não raiva, quando vejo a arrogância com que a branquitude de sociedades em que se faz isso, em que se queimam igrejas de negros, se apresenta ao mundo como pedagoga da democracia. Pensar e fazer errado, pelo visto, não têm mesmo nada que ver com a humildade que o pensar certo exige. Não têm nada que ver com o bom senso que regula nossos exageros e evita as nossas caminhadas até o ridículo e a insensatez.
Às vezes, temo que algum leitor ou leitora, mesmo que ainda não totalmente convertido ao
“pragmatismo” neoliberal mas por ele já tocado, diga que, sonhador, continuo a falar de uma educação de anjos e não de mulheres e de homens. O que tenho dito até agora, porém, diz respeito radicalmente à natureza de mulheres e de homens. Natureza entendida como social e historicamente constituindo-se e não como um “a priori” da História*.
O problema que se coloca para mim é que, compreendendo como compreendo a natureza humana, seria uma contradição grosseira não defender o que venho defendendo. Faz parte da exigência que a mim mesmo me faço de pensar certo, pensar como venho pensando enquanto escrevo este texto.
Pensar, por exemplo, que o pensar certo a ser ensinado concomitantemente com o ensino dos conteúdos não é um pensar formalmente anterior ao e desgarrado do fazer certo. Neste sentido é que ensinar a pensar certo não é uma experiência em que ele – o pensar certo – é tomado em si mesmo e dele se fala ou uma prática que puramente se descreve, mas algo que se faz e que se vive enquanto dele se fala com a força do testemunho. Pensar certo implica a existência de sujeitos que pensam mediados por objeto ou objetos sobre que incide o próprio pensar dos sujeitos. Pensar certo não é que – fazer de quem se isola, de quem se “aconchega” a si mesmo na solidão, mas um ato comunicante. Não há por isso mesmo pensar sem entendimento e o entendimento, do ponto de vista do pensar certo, não é transferido mas co-participado. Se, do ângulo da gramática, o verbo entender é transitivo no que concerne à “sintaxe” do pensar certo ele é um verbo cujo sujeito é sempre co-partícipe de outro. Todo entendimento, se não se acha “trabalhado” mecanicistamente, se não vem sendo submetido aos “cuidados” alienadores de um tipo especial e cada vez mais ameaçadoramente comum de mente que venho chamando "burocratizada”, implica, necessariamente, comunicabilidade.
Não há inteligência – a não ser quando o próprio processo de inteligir é distorcido – que não seja também comunicação do inteligido. A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, oferecer, do¿r ao outro, tomado como paciente de seu pensar, a intelegibilidade das coisas, dos fatos, dos conceitos. A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Não há