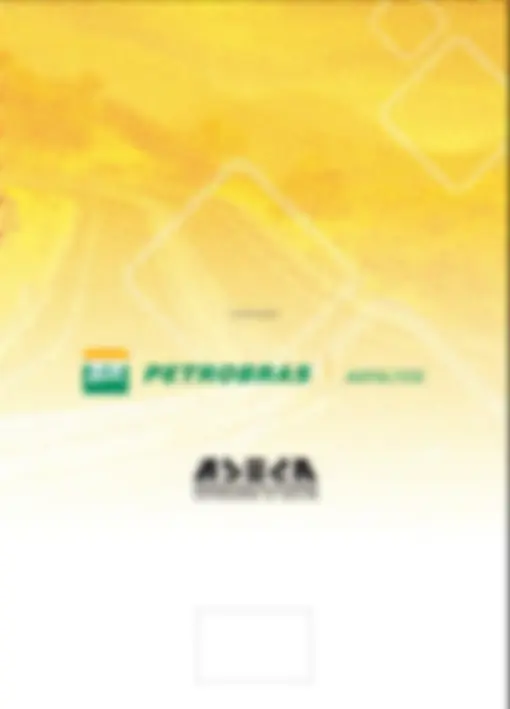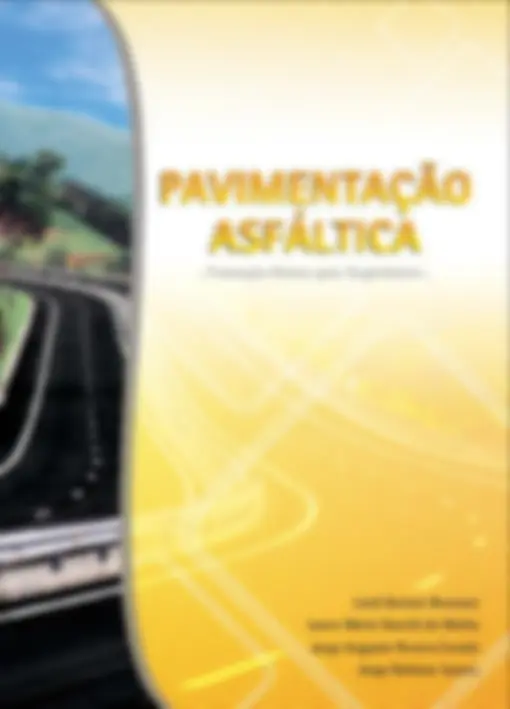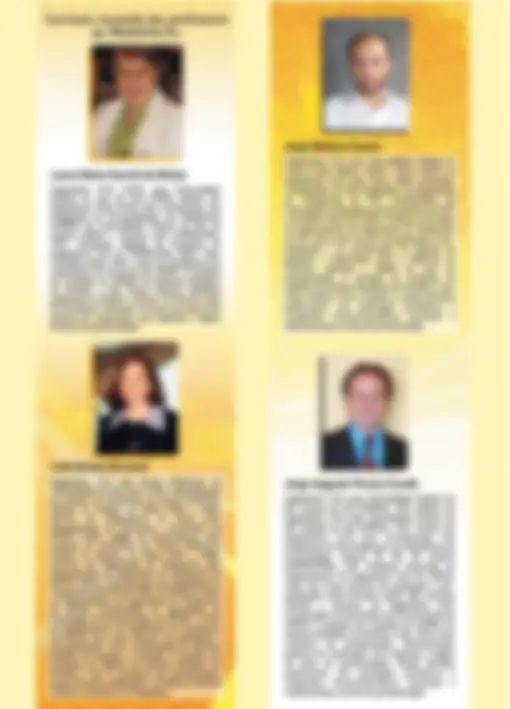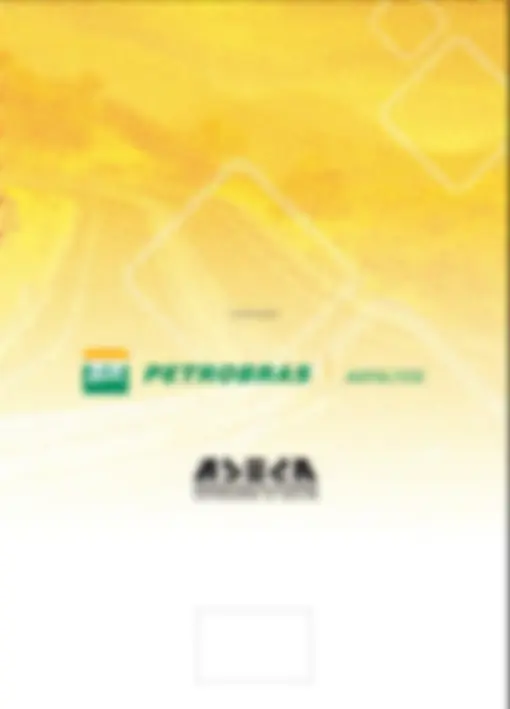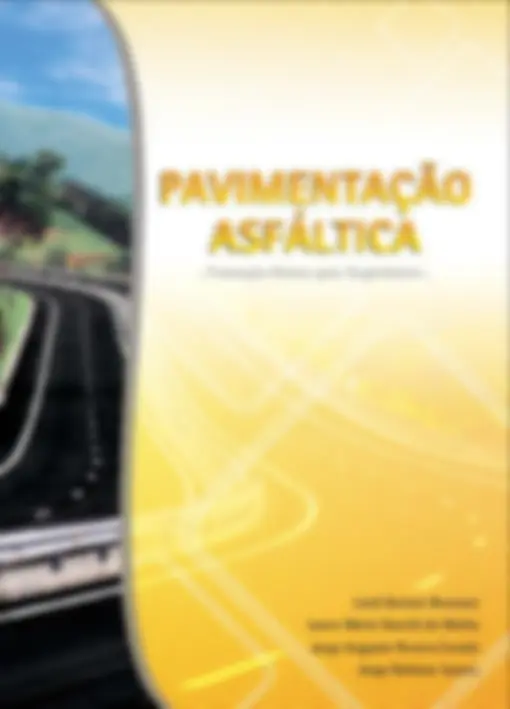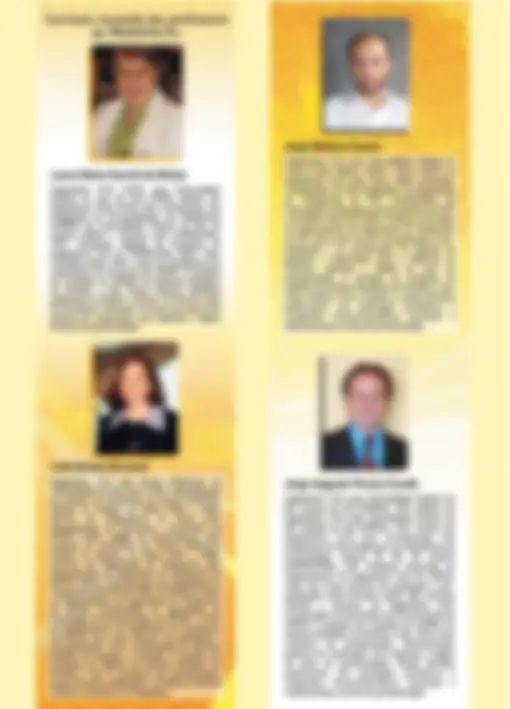Baixe Pavimentação Asfáltica e outras Manuais, Projetos, Pesquisas em PDF para Engenharia Civil, somente na Docsity!
Liedi Bariani Bernucci
Jorge Augusto Pereira Ceratti
Jorge Barbosa Soares
Laura Maria Goretti da Motta
- Formação Básica para Engenheiros •
PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA
PAtRoCinAdoReS
Petrobras – Petróleo Brasileiro S. A. Petrobras distribuidora Abeda – Associação Brasileira das empresas distribuidoras de Asfaltos
Copyright © 2007 Liedi Bariani Bernucci, Laura Maria Goretti da Motta, Jorge Augusto Pereira Ceratti e Jorge Barbosa Soares
P338 Pavimentação asfáltica : formação básica para engenheiros / Liedi Bariani Bernucci... [et al.]. – Rio de Janeiro : PetRoBRAS: ABedA,
504 f. : il. inclui Bibliografias. Patrocínio PetRoBRAS
- Asfalto. 2. Pavimentação. 3. Revestimento asfáltico. 4. Mistura. i. Bernucci, Liedi Bariani. ii. Motta, Laura Maria Goretti da. iii. Ceratti, Jorge Augusto Pereira. iV. Soares, Jorge Barbosa.
Cdd 625.
CooRdenAção de PRodução trama Criações de Arte
PRoJeto GRáFiCo e diAGRAMAção Anita Slade Sonia Goulart
deSenhoS Rogério Corrêa Alves
ReViSão de texto Mariflor Rocha
CAPA Clube de idéias
iMPReSSão Gráfica imprinta
Ficha catalográfica elaborada pela Petrobras / Biblioteca dos Serviços Compartilhados
APRESENTAÇÃO
tendo em vista a necessidade premente de melhoria da qualidade das rodovias
brasileiras e a importância da ampliação da infra-estrutura de transportes, a Pe-
tróleo Brasileiro S.A., a Petrobras distribuidora S.A. e a Associação Brasileira das
empresas distribuidoras de Asfaltos – Abeda vêm investindo no desenvolvimento
de novos produtos asfálticos e de modernas técnicas de pavimentação. Para efeti-
vamente aplicar estes novos materiais e a recente tecnologia, é preciso promover a
capacitação de recursos humanos.
Assim, essas empresas, unidas em um empreendimento inovador, conceberam
uma ação para contribuir na formação de engenheiros civis na área de pavimenta-
ção: o Proasfalto – Programa Asfalto na universidade. este projeto arrojado foi criado
para disponibilizar material didático para aulas de graduação de pavimentação visan-
do oferecer sólidos conceitos teóricos e uma visão prática da tecnologia asfáltica.
Para a elaboração do projeto didático, foram convidados quatro professores de
renomadas instituições de ensino superior do Brasil. iniciou-se então o projeto que,
após excelente trabalho dos professores Liedi Bariani Bernucci, da universidade de
São Paulo, Laura Maria Goretti da Motta, da universidade Federal do Rio de Janei-
ro, Jorge Augusto Pereira Ceratti, da universidade Federal do Rio Grande do Sul, e
Jorge Barbosa Soares, da universidade Federal do Ceará, resultou no lançamento
deste importante documento.
o livro Pavimentação Asfáltica descreve os materiais usados em pavimentação
e suas propriedades, além de apresentar as técnicas de execução, de avaliação e
de restauração de pavimentação. A forma clara e didática como o livro apresenta
o tema o transforma em uma excelente referência sobre pavimentação e permite
que ele atenda às necessidades tanto dos iniciantes no assunto quanto dos que já
atuam na área.
A universidade Petrobras, co-editora do livro Pavimentação Asfáltica , sente-se
honrada em participar deste projeto e cumprimenta os autores pela importante ini-
ciativa de estabelecer uma bibliografia de consulta permanente sobre o tema.
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras Petrobras distribuidora S.A. – Asfaltos Abeda – Associação Brasileira das empresas distribuidoras de Asfaltos
- PReFáCio
- 1 Introdução
- 1.1 PAViMento do Ponto de ViStA eStRutuRAL e FunCionAL
- 1.2 uM BReVe hiStÓRiCo dA PAViMentAção
- 1.3 SituAção AtuAL dA PAViMentAção no BRASiL
- 1.4 ConSideRAçÕeS FinAiS
- BiBLioGRAFiA CitAdA e ConSuLtAdA
- 2 Ligantes asfálticos
- 2.1 intRodução
- 2.2 ASFALto
- 2.3 eSPeCiFiCAçÕeS BRASiLeiRAS
- 2.4 ASFALto ModiFiCAdo PoR PoLÍMeRo
- 2.5 eMuLSão ASFáLtiCA
- 2.6 ASFALto diLuÍdo
- 2.7 ASFALto-eSPuMA
- 2.8 AGenteS ReJuVeneSCedoReS
- 2.9 o PRoGRAMA ShRP
- BiBLioGRAFiA CitAdA e ConSuLtAdA
- 3 Agregados
- 3.1 intRodução
- 3.2 CLASSiFiCAção doS AGReGAdoS
- 3.3 PRodução de AGReGAdoS BRitAdoS
- PARA PAViMentAção ASFáLtiCA
- 3.5 CARACteRiZAção de AGReGAdoS SeGundo o ShRP
- BiBLioGRAFiA CitAdA e ConSuLtAdA
- 4 Tipos de revestimentos asfálticos
- 4.1 intRodução
- 4.2 MiStuRAS uSinAdAS
- 4.3 MiStuRAS IN SITU eM uSinAS MÓVeiS
- 4.4 MiStuRAS ASFáLtiCAS ReCiCLAdAS
- 4.5 tRAtAMentoS SuPeRFiCiAiS
- BiBLioGRAFiA CitAdA e ConSuLtAdA
- 5 Dosagem de diferentes tipos de revestimento
- 5.1 intRodução
- 5.2 deFiniçÕeS de MASSAS eSPeCÍFiCAS PARA MiStuRAS ASFáLtiCAS
- 5.3 MiStuRAS ASFáLtiCAS A Quente
- 5.4 doSAGeM de MiStuRAS A FRio
- 5.5 MiStuRAS ReCiCLAdAS A Quente
- 5.6 tRAtAMento SuPeRFiCiAL
- 5.7 MiCRoRReVeStiMento e LAMA ASFáLtiCA
- BiBLioGRAFiA CitAdA e ConSuLtAdA
- 6 Propriedades mecânicas das misturas asfálticas
- 6.1 intRodução
- 6.2 enSAioS ConVenCionAiS
- 6.3 enSAioS de MÓduLo
- 6.4 enSAioS de RuPtuRA
- 6.5 enSAioS de deFoRMAção PeRMAnente
- 6.6 enSAioS CoMPLeMentAReS
- BiBLioGRAFiA CitAdA e ConSuLtAdA
- 7 Materiais e estruturas de pavimentos asfálticos
- 7.1 intRodução
- e ReFoRço do SuBLeito 7.2 PRoPRiedAdeS doS MAteRiAiS de BASe, SuB-BASe
- 7.3 MAteRiAiS de BASe, SuB-BASe e ReFoRço do SuBLeito
- 7.4 ALGuMAS eStRutuRAS tÍPiCAS de PAViMentoS ASFáLtiCoS
- BiBLioGRAFiA CitAdA e ConSuLtAdA
- 8 Técnicas executivas de revestimentos asfálticos
- 8.1 intRodução
- 8.2 uSinAS ASFáLtiCAS
- 8.3 tRAnSPoRte e LAnçAMento de MiStuRAS ASFáLtiCAS
- 8.4 CoMPACtAção
- 8.5 exeCução de tRAtAMentoS SuPeRFiCiAiS PoR PenetRAção
- 8.6 exeCução de LAMAS e MiCRoRReVeStiMentoS ASFáLtiCoS
- 8.7 ConSideRAçÕeS FinAiS
- BiBLioGRAFiA CitAdA e ConSuLtAdA
- 9 Diagnóstico de defeitos, avaliação funcional e de aderência
- 9.1 intRodução
- 9.2 SeRVentiA
- 9.3 iRReGuLARidAde LonGitudinAL
- 9.4 deFeitoS de SuPeRFÍCie
- 9.5 AVALiAção oBJetiVA de SuPeRFÍCie PeLA deteRMinAção do iGG
- 9.6 AVALiAção de AdeRÊnCiA eM PiStAS MoLhAdAS
- 9.7 AVALiAção de RuÍdo PRoVoCAdo PeLo tRáFeGo
- BiBLioGRAFiA CitAdA e ConSuLtAdA
- 10 Avaliação estrutural de pavimentos asfálticos
- 10.1 intRodução
- 10.2 MÉtodoS de AVALiAção eStRutuRAL
- 10.3 eQuiPAMentoS de AVALiAção eStRutuRAL não-deStRutiVA
- 10.4 noçÕeS de RetRoAnáLiSe
- 10.5 SiMuLAdoReS de tRáFeGo
- 10.6 ConSideRAçÕeS FinAiS
- BiBLioGRAFiA CitAdA e ConSuLtAdA
- 11 Técnicas de restauração asfáltica
- 11.1 intRodução
- CoM PRoBLeMAS FunCionAiS 11.2 tÉCniCAS de ReStAuRAção de PAViMentoS
- CoM PRoBLeMAS eStRutuRAiS 11.3 tÉCniCAS de ReStAuRAção de PAViMentoS
- 11.4 ConSideRAçÕeS SoBRe o tRinCAMento PoR ReFLexão
- BiBLioGRAFiA CitAdA e ConSuLtAdA
- ÍndiCe de FiGuRAS
- ÍndiCe de tABeLAS
- ÍndiCe ReMiSSiVo de teRMoS
- ÍndiCe ReMiSSiVo dAS BiBLioGRAFiAS
(Centro de Pesquisa da Petrobras), eng. ilonir Antonio tonial (Petrobras distribui-
dora), eng. Armando Morilha Júnior (Abeda), Prof. dr. Glauco túlio Pessa Fabbri
(escola de engenharia de São Carlos/universidade de São Paulo), Prof. Sérgio
Armando de Sá e Benevides (universidade Federal do Ceará) e Prof. álvaro Vieira
(instituto Militar de engenharia).
A experiência de escrever este livro a oito mãos foi deveras enriquecedora,
construindo-o em camadas, com materiais convencionais e alternativos, cuida-
dosamente analisados, compatibilizando-se sempre as espessuras das camadas
e a qualidade dos materiais. no livro, competências e disponibilidades de tempo
foram devidamente dosadas entre os quatro autores. um elemento presente foi
o uso de textos anteriormente escritos pelos quatro autores em co-autoria com
seus respectivos alunos e colegas de trabalho, sendo estes devidamente referen-
ciados.
Por fim, tal qual uma estrada, por melhor que tenha sido o projeto e a execu-
ção, esta obra está sujeita a falhas, e o olhar atento dos pares ajudará a realizar
a manutenção no momento apropriado. o avanço do conhecimento na fascinante
área de pavimentação segue em alta velocidade e, portanto, alguns trechos da
obra talvez mereçam restauração num futuro não distante. novos trechos devem
surgir. Aos autores e aos leitores cabe permanecer viajando nas mais diversas es-
tradas, em busca de paisagens que ampliem o horizonte do conhecimento. Aqui,
espera-se ter pavimentado mais uma via para servir de suporte a uma melhor
compreensão da engenharia rodoviária. Que esta via estimule novas vias, da
mesma forma que uma estrada possibilita a construção de outras tantas.
os autores
notA iMPoRtAnte: os quatro autores participaram na seleção do conteúdo, na
organização e na redação de todos os onze capítulos, e consideram suas respec-
tivas contribuições ao livro equilibradas. A ordem relativa à co-autoria levou em
consideração tão somente a coordenação da produção do livro.
1.1 PAVIMENTO DO PONTO DE VISTA ESTRUTURAL E FUNCIONAL
Pavimento é uma estrutura de múltiplas camadas de espessuras finitas, construída sobre
a superfície final de terraplenagem, destinada técnica e economicamente a resistir aos
esforços oriundos do tráfego de veículos e do clima, e a propiciar aos usuários melhoria
nas condições de rolamento, com conforto, economia e segurança.
O pavimento rodoviário classifica-se tradicionalmente em dois tipos básicos: rígidos e
flexíveis. Mais recentemente há uma tendência de usar-se a nomenclatura pavimentos de
concreto de cimento Portland (ou simplesmente concreto-cimento) e pavimentos asfálti-
cos, respectivamente, para indicar o tipo de revestimento do pavimento.
Os pavimentos de concreto-cimento são aqueles em que o revestimento é uma placa
de concreto de cimento Portland. Nesses pavimentos a espessura é fixada em função da
resistência à flexão das placas de concreto e das resistências das camadas subjacentes.
As placas de concreto podem ser armadas ou não com barras de aço – Figura 1.1(a).
É usual designar-se a subcamada desse pavimento como sub-base, uma vez que a qua-
lidade do material dessa camada equivale à sub-base de pavimentos asfálticos.
Os pavimentos asfálticos são aqueles em que o revestimento é composto por uma
mistura constituída basicamente de agregados e ligantes asfálticos. É formado por quatro
camadas principais: revestimento asfáltico, base, sub-base e reforço do subleito. O reves-
timento asfáltico pode ser composto por camada de rolamento – em contato direto com
as rodas dos veículos e por camadas intermediárias ou de ligação, por vezes denomina-
das de binder , embora essa designação possa levar a uma certa confusão, uma vez que
esse termo é utilizado na língua inglesa para designar o ligante asfáltico. Dependendo do
tráfego e dos materiais disponíveis, pode-se ter ausência de algumas camadas. As cama-
das da estrutura repousam sobre o subleito, ou seja, a plataforma da estrada terminada
após a conclusão dos cortes e aterros – Figura 1.1(b).
O revestimento asfáltico é a camada superior destinada a resistir diretamente às
ações do tráfego e transmiti-las de forma atenuada às camadas inferiores, impermeabi-
lizar o pavimento, além de melhorar as condições de rolamento (conforto e segurança).
Os diversos materiais que podem constituir esse revestimento são objeto deste livro.
As tensões e deformações induzidas na camada asfáltica pelas cargas do tráfego estão
associadas ao trincamento por fadiga dessa camada. Ela ainda pode apresentar trin-
camento por envelhecimento do ligante asfáltico, ação climática etc. Parte de problemas
1
Introdução
Introdução 11
1.2 UM BREVE HISTÓRICO DA PAVIMENTAÇÃO
Embora este livro apresente fundamentalmente aspectos técnicos relativos a pavimentos
asfálticos, o seu caráter didático levou os autores a abordarem, mesmo que de forma
resumida, um histórico da pavimentação. A literatura é vasta no assunto, freqüentemente
objeto de trabalho de profissionais dedicados à historiografia desse tipo de construção.
De forma alguma é intenção apresentar aqui um texto de referência, mas apenas uma
coletânea de informações selecionadas a partir de trabalhos nacionais e internacionais
específicos no assunto e recomendados ao leitor mais interessado.
No Brasil, Bittencourt (1958) apresenta um memorável apanhado dessa história desde
os primeiros povos organizados até o início do século XX. Destaca-se também o esforço de
Prego (2001) de concluir a ação iniciada em 1994 pela Associação Brasileira de Pavimen-
tação, por meio de sua Comissão para Elaborar a Memória da Pavimentação, que nomeou
inicialmente o engenheiro Murillo Lopes de Souza para escrever sobre o tema.
Percorrer a história da pavimentação nos remete à própria história da humanidade,
passando pelo povoamento dos continentes, conquistas territoriais, intercâmbio comer-
cial, cultural e religioso, urbanização e desenvolvimento. Como os pavimentos, a história
também é construída em camadas e, freqüentemente, as estradas formam um caminho
para examinar o passado, daí serem uma das primeiras buscas dos arqueólogos nas ex-
plorações de civilizações antigas.
Uma das mais antigas estradas pavimentadas implantadas não se destinou a veículos
com rodas, mas a trenós para o transporte de cargas. Para a construção das pirâmides
no Egito (2600-2400 a.C.), foram construídas vias com lajões justapostos em base com
boa capacidade de suporte. O atrito era amenizado com umedecimento constante por
meio de água, azeite ou musgo molhado (Saunier, 1936). Alguns exemplos de estradas
de destaque da antigüidade são descritos a seguir.
Na região geográfica histórica do Oriente Médio, nos anos 600 a.C., a Estrada de
Semíramis cruzava o rio Tigre e margeava o Eufrates, entre as cidades da Babilônia
(região da Mesopotâmia – em grego, região entre rios – que abrangia na antigüidade
aproximadamente o que é hoje o território do Iraque) e Ecbatana (reino da Média, no pla-
nalto iraniano). Na Ásia Menor, ligando Iônia (Éfeso) do Império Grego ao centro do Im-
pério Persa, Susa (no Irã de hoje), há registro da chamada Estrada Real (anos 500 a.C.),
que era servida de postos de correio, pousadas e até pedágio, tendo mais de 2.000km
de extensão. À época de Alexandre, o Grande (anos 300 a.C.), havia a estrada de Susa
até Persépolis (aproximadamente a 600km ao sul do que é hoje Teerã, capital do Irã),
passando por um posto de pedágio, as Portas Persas, possibilitando o tráfego de veículos
com rodas desde o nível do mar até 1.800m de altitude.
Bittencourt (1958) registra diversas referências históricas de estradas construídas
na antigüidade e que atendiam à Assíria (reino também na Mesopotâmia) e à Babilônia,
bem como velhos caminhos da Índia e da China, mesmo aqueles considerados ape-
nas itinerários, e identificados a partir de estudos arqueológicos, históricos, agrícolas e
12 Pavimentação asfáltica: formação básica para engenheiros
lingüísticos. Entre esses caminhos, merece destaque a chamada Estrada da Seda, uma
das rotas de comércio mais antigas e historicamente importantes devido a sua grande
influência nas culturas da China, Índia, Ásia e também do Ocidente. Sua localização é na
região que separa a China da Europa e da Ásia, nas proximidades de um dos mais hostis
ambientes do planeta, o deserto de Taklimakan, cercado ao norte pelo deserto de Gobi
e nos outros três extremos pelas maiores cadeias de montanha do mundo, Himalaia,
Karakorum e Kunlun. A Estrada da Seda não existia apenas com o propósito do comér-
cio da seda, mas de diversas outras mercadorias como ouro, marfim, animais e plan-
tas exóticas. Wild (1992) aponta que o bem mais significativo carregado nessa rota
não era a seda, mas a religião, o budismo. O apogeu da estrada foi na dinastia Tang
(anos 600 d.C.) e, após um período de declínio, voltou a se tornar importante com o
surgimento do Império Mongol sob a liderança de Gêngis Khan (anos 1200 d.C.), por
ser o caminho de comunicação entre as diversas partes do império. Um dos visitantes
mais conhecidos e com melhor documentação na história da estrada foi Marco Pólo,
negociante veneziano, que iniciou suas viagens com apenas 17 anos em 1271 (Bohong,
1989). O declínio da estrada se deu ainda no século XIII com o crescimento do trans-
porte marítimo na região. O interesse na rota ressurgiu no final do século XIX após
expedições arqueológicas européias.
Muitas das estradas da antigüidade, como a de Semíramis, transformaram-se na
modernidade em estradas asfaltadas. Embora seja reconhecida a existência remota
de sistemas de estradas em diversas partes do globo, construídas para fins religiosos
(peregrinações) e comerciais, foi atribuída aos romanos a arte maior do planejamento e
da construção viária. Visando, entre outros, objetivos militares de manutenção da ordem
no vasto território do império, que se iniciou com Otaviano Augusto no ano 27 a.C., des-
locando tropas de centros estratégicos para as localidades mais longínquas, os romanos
foram capazes de implantar um sistema robusto construído com elevado nível de critério
técnico. Vale notar que o sistema viário romano já existia anteriormente à instalação
do império, embora o mesmo tenha experimentado grande desenvolvimento a partir de
então. Portanto, há mais de 2.000 anos os romanos já possuíam uma boa malha viária,
contando ainda com um sistema de planejamento e manutenção. A mais extensa das
estradas contínuas corria da Muralha de Antonino, na Escócia, a Jerusalém, cobrindo
aproximadamente 5.000km (Hagen, 1955).
Chevallier (1976) aponta que não havia uma construção padrão para as estradas roma-
nas, embora características comuns sejam encontradas. As informações hoje disponíveis
advêm fundamentalmente das vias remanescentes. De documentos antigos do século I,
sabe-se que as vias eram classificadas de acordo com a sua importância, sendo as mais
importantes as vias públicas do Estado ( viae publicae ), seguidas das vias construídas pelo
exército ( viae militare ), que eventualmente se tornavam públicas; das vias locais ou actus ,
e finalmente das vias privadas ou privatae (Adam, 1994). Semelhantemente aos dias de
hoje, as vias eram compostas por uma fundação e uma camada de superfície, que varia-
vam de acordo com os materiais disponíveis e a qualidade do terreno natural.
14 Pavimentação asfáltica: formação básica para engenheiros
devidamente intervaladas para permitir a circulação dos veículos rodantes; as calçadas
para pedestres utilizavam a mesma técnica.
A partir da queda do Império Romano em 476 d.C., e durante os séculos seguintes,
as novas nações européias fundadas perderam de vista a construção e a conservação das
estradas. A França foi a primeira, desde os romanos, a reconhecer o efeito do transporte
no comércio, dando importância à velocidade de viagem (Mascarenhas Neto, 1790).
Carlos Magno, no final dos anos 700 e início dos anos 800, modernizou a França, seme-
lhantemente aos romanos, em diversas frentes: educacional, cultural e também no que
diz respeito ao progresso do comércio por meio de boas estradas (Bely, 2001). Masca-
renhas Neto (1790) aponta os séculos X a XII como de pouco cuidado com os Caminhos
Reais da França, sendo esse descuido uma das causas da decadência do comércio e das
comodidades da Europa civilizada. O mesmo autor aponta uma mudança significativa no
reinado de Felipe Augusto (1180-1223), a partir do qual a França passa a ter novamente
a preocupação de construir novas estradas e conservá-las. O autor indica a legislação
francesa pertinente ao longo dos anos até a data de sua obra, 1790. Aponta ainda que os
ingleses, observando a forma como eram calçados os caminhos da França, conseguiram
então construir as vias mais cômodas, duráveis e velozes da Europa, o que foi importante
para o progresso da indústria e comércio do país.
A partir da experiência praticada na Inglaterra, Escócia e França, e de sua própria
experiência nas províncias de Portugal, Mascarenhas Neto (1790) apresenta um Tratado
para construção de estradas , uma preciosa referência para o meio rodoviário. Destaca o
autor a facilidade de se encontrar em todas as províncias do reino de então, na superfície
ou em minas, o saibro, o tufo, terras calcárias e arenosas, podendo, assim, construir em
Portugal estradas com menos despesas do que na Inglaterra e na França.
Figura 1.3 Vias romanas
(a) Via Ostiense, ligando Óstia a Roma (b) Via urbana em Pompéia, Itália
Introdução 15
Já à época havia uma grande preocupação com diversos aspectos hoje sabidamente
importantes de se considerar para uma boa pavimentação (trechos extraídos de Masca-
renhas Neto, 1790):
l drenagem e abaulamento : “o convexo da superfície da estrada é necessário para que
as águas, que chovem sobre ela, escorram mais facilmente para os fossos, por ser
esta expedição mais conveniente à solidez da estrada”;
l erosão : “quando o sítio não contém pedra, ou que ela não se consegue sem longo
carreto, pode suprir-se formando os lados da estrada com um marachão de terra de
grossura de quatro pés, na superfície do lado externo, formando uma escarpa; se
devem semear as gramas ou outras quaisquer ervas, das que enlaçam as raízes”;
l distância de transporte : “o carreto de terras, que faz a sua maior mão-de-obra”;
l compactação : “é preciso calcar artificialmente as matérias da composição da estrada,
por meio de rolos de ferro”;
l sobrecarga : “devia ser proibido, que em nenhuma carroça de duas rodas se pudessem
empregar mais de dois bois, ou de duas bestas, e desta forma se taxava a excessiva
carga; liberdade para o número de forças vivas, empregadas nos carros de quatro
rodas, ... peso então se reparte, e causa menos ruína”;
l marcação : “todas as léguas devem estar assinaladas por meio de marcos de pedra”.
O autor discorre ainda sobre temas como a importância de se ter na estrada em
construção uma casa móvel com ferramentas, máquinas e mantimentos, e até sobre a
disciplina de trabalho e a presença de um administrador (fiscal). É dedicado um capítulo
específico à conservação das estradas no qual se coloca entre as obrigações “vigiar qual-
quer pequeno estrago, que ou pelas chuvas, ou pelo trilho dos transportes, principia a
formar-se no corpo da estrada, nos caixilhos, nos fossos e nos aquedutos”. Finalmente o
autor discorre sobre os fundos específicos para construção e administração das estradas,
reconhecendo a importância do pedágio em alguns casos: “A contribuição de Barreira
é evidentemente o melhor meio para a construção das estradas, e como tal se tem es-
tabelecido legitimamente na Inglaterra”; mas não em todos, “pela pouca povoação, ou
pela pouca afluência de viajantes nacionais, e estrangeiros, a maior parte das estradas
de Portugal não são suscetíveis de semelhante meio”.
Na América Latina, merecem destaque as estradas construídas pelos incas, habitan-
tes da região hoje ocupada pelo Equador, Peru, norte do Chile, oeste da Bolívia e noroes-
te da Argentina. O alemão Alexander Von Humboldt, combinação de cientista e viajante
que durante os anos de 1799 e 1804 realizou expedições científicas por várias partes
da América do Sul, qualifica as estradas dos incas como “os mais úteis e estupendos
trabalhos realizados pelo homem”. O império incaico se inicia em 1438, sendo invadido
por Francisco Pizarro em 1532, quando cai sob o domínio espanhol. A avançada civili-
zação inca construiu um sistema de estradas que abrangia terras hoje da Colômbia até o
Chile e a Argentina, cobrindo a região árida do litoral, florestas, até grandes altitudes na
Cordilheira dos Andes. Havia duas estradas principais correndo no sentido longitudinal:
Introdução 17
A Estrada Real (Figura 1.5), designação usada em Minas Gerais, ou Caminho do Ouro
(designação usada em Paraty, RJ) tem sua origem atribuída a uma trilha usada pelos
índios goianás anteriormente à chegada dos portugueses, daí Trilha Goianá ser também
uma designação do caminho, entre outras. A estrada possui dois caminhos, o velho, que
liga Ouro Preto (MG) a Paraty (RJ), e o mais novo, que segue do Rio de Janeiro a Dia-
mantina (MG), também passando por Ouro Preto. Ribas (2003), em uma rica cronologia
comentada, indica que em 1660, Salvador Correia de Sá e Benevides, então governador
e administrador geral das Minas (região que englobava o Rio de Janeiro, São Paulo e
Espírito Santo), deu a ordem de “abrir e descobrir” a trilha dos goianás, com a intenção
de facilitar a ligação do Rio de Janeiro e São Paulo. Calçado para transportar o ouro das
minas no século XVIII, melhorado para transportar o café no século XIX, o caminho foi
abandonado e esquecido no século XX. Já no século XXI, o Caminho do Ouro está sendo
reestruturado de modo a viabilizar a utilização turística dessa importante veia da história
do Brasil.
Em 1841, D. Pedro II encarregou o engenheiro alemão Júlio Frederico Koeler de cons-
truir um caminho de Porto da Estrela (RJ) a Petrópolis ( História das rodovias , 2004). Sur-
giu assim a Estrada Normal da Serra da Estrela , existente até hoje. Em 1854, facilitando
o percurso Rio de Janeiro-Petrópolis, a estrada passava a ser usada de forma conjunta
com a primeira ferrovia do Brasil, ligando Porto Mauá à Raiz da Serra (RJ), inaugurada
graças ao empreendedorismo de Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá. A viagem
até Petrópolis era iniciada por via marítima até Porto Mauá, depois por trem até Raiz da
Serra, seguindo por diligência na Estrada Normal da Serra da Estrela.
Concer (1997) apresenta um belo trabalho, a partir do livro do fotógrafo do imperador,
o francês Revert Henrique Klumb (Klumb, 1872), sobre a história da Estrada de Roda-
gem União e Indústria , ligando Petrópolis (RJ) a Juiz de Fora (MG), sendo a primeira
rodovia concessionada do Brasil (Figura 1.6). Idealizada pelo comendador Mariano Pro-
cópio e inaugurada por D. Pedro II em 1860 é a primeira estrada brasileira a usar ma-
cadame como base/revestimento. Até então era usual o calçamento de ruas com pedras
importadas de Portugal. Com uma largura de 7m, leito ensaibrado e compactado, ma-
cadame incluindo pedra passando na peneira de 5” de malha quadrada (Prego, 2001),
cuidadosamente drenada, inclusive com valetas de alvenaria, várias obras de arte, esta
Figura 1.5 Resquícios do Caminho do Ouro ou Estrada Real e pavimentação urbana em Paraty, RJ
18 Pavimentação asfáltica: formação básica para engenheiros
estrada tinha um traçado que permitia a então impressionante velocidade de 20km/h
das diligências. Muito além do seu percurso de 144km, a União e Indústria representa
um marco na modernização da pavimentação e do país. Sua construção envolveu o le-
vantamento de capital em Londres e no Rio de Janeiro. Da antiga estrada ainda restam
pontes e construções, incluindo o Museu Rodoviário, onde se pode aprender mais sobre
a história da estrada em questão e do rodoviarismo brasileiro. A estrada original está hoje
alterada e absorvida em alguns trechos pela BR-040/RJ.
Durante o Império (1822-1889) foram poucos os desenvolvimentos nos transportes
do Brasil, principalmente o transporte rodoviário. No início do século XX, havia no país
500km de estradas com revestimento de macadame hidráulico ou variações, sendo o
tráfego restrito a veículos de tração animal (Prego, 2001). Em 1896 veio da Europa para
o Brasil o primeiro veículo de carga. Em 1903 foram licenciados os primeiros carros
particulares e em 1906 foi criado o Ministério da Viação e Obras Públicas. Em 1909 o
automóvel Ford modelo T foi lançado nos Estados Unidos por Henry Ford, sendo a Ford
Motor Company instalada no Brasil em 1919. Em 1916 foi realizado o I Congresso Na-
cional de Estradas de Rodagem no Rio de Janeiro.
Em 1928 foi inaugurada pelo presidente Washington Luiz a Rodovia Rio-São Paulo,
com 506km de extensão, representando um marco da nova política rodoviária federal.
Em 1949, quando da entrega da pavimentação de mais um trecho da que era conhecida
como BR-2, a rodovia passou a se chamar Presidente Dutra. Também em 1928 foi inau-
gurada pelo presidente a Rio-Petrópolis.
Destaca-se em 1937 a criação, pelo presidente Getúlio Vargas, do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), subordinado ao Ministério de Viação e Obras
Públicas. Na década de 1940 observou-se um avanço de pavimentação fruto da tecnolo-
gia desenvolvida durante a 2ª Guerra Mundial. Em 1942, houve o contato de engenhei-
ros brasileiros com engenheiros norte-americanos que construíram pistas de aeroportos
e estradas de acesso durante a guerra utilizando o então recém-desenvolvido ensaio
Figura 1.6 Estrada União e Indústria – foto à época de sua construção (Concer, 1997)