
























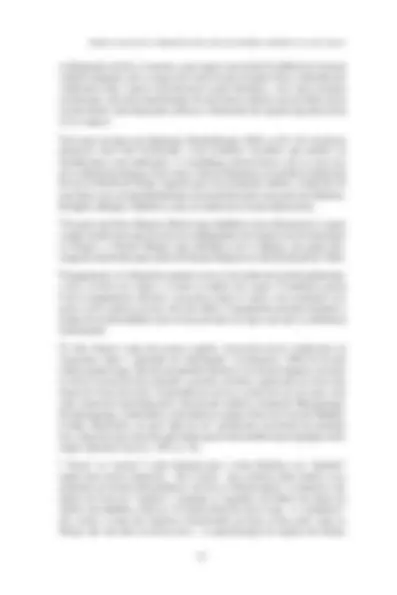













Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity
Os melhores documentos à venda: Trabalhos de alunos formados
Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade
Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.

Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Comunidade
Peça ajuda à comunidade e tire suas dúvidas relacionadas ao estudo
Descubra as melhores universidades em seu país de acordo com os usuários da Docsity
Guias grátis
Baixe gratuitamente nossos guias de estudo, métodos para diminuir a ansiedade, dicas de TCC preparadas pelos professores da Docsity
Entre o passado e o presente Mil anos da História Indigena no Xingu
Tipologia: Notas de estudo
1 / 44

Esta página não é visível na pré-visualização
Não perca as partes importantes!

























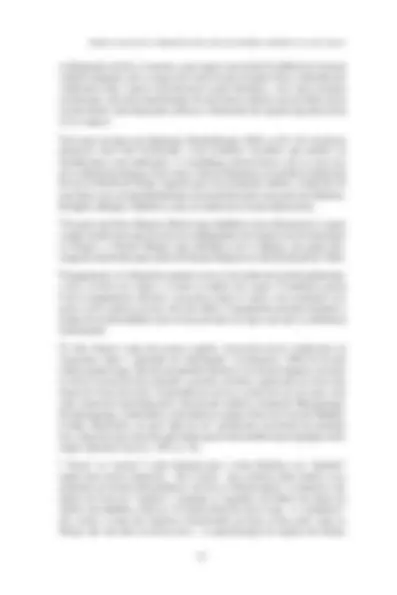











Revista de Estudos e Pesquisas, FUNAI, Brasília, v.2, n.2, p. 9-51, dez. 2005
“Esse passado [...] estirando-se por todo seu trajeto de volta à origem, ao invés de puxar para trás, empurra para frente, e, ao contrário do que seria de esperar, é o futuro que nos impele de volta ao passado” (Hannah Arendt, Entre o Passado e o Futuro).
Desde as primeiras notícias etnográficas do final do século XIX até o presente, o Alto Xingu causa maravilhamento. A cultura xinguana parece exercer uma sedução da qual ninguém pode escapar. Naturalistas alemães, agentes do Estado, jornalistas, escritores e pesquisadores, todos sucumbiram a ela. No período villas-boasiano, o Xingu chegou a representar um elemento relevante da identidade do próprio país, seu centro geográfico, sua origem mais autêntica. Mais do que qualquer outra cultura indígena, a dos povos xinguanos entrou na consciência da nação como a
Resumo - Este texto busca oferecer elementos para a compreensão de mil anos de história alto xinguana, estabelecendo nexos entre o passado e o presente. Expõem-se alguns resultados de uma pesquisa interdisciplinar
Carlos Fausto^2
Entre o passado e o presente: Mil anos de história indígena no Alto Xingu 1
CARLOS FAUSTO
representação de um passado que não se deseja rejeitar. Enquanto o índio genérico aparece como signo de atraso de um “país do futuro”, uma anti-modernidade da qual se quer escapar, o Xingu produz um deslumbramento que nos convida a uma reflexão. De onde provém essa força sedutora? Seriam os xinguanos os nossos Maias? A comparação aparentemente atópica tem sua razão de ser, pois hoje o Xingu, depois do auge romântico dos anos 1940 e 1950, parece flertar com uma outra imagem: a do Estado e da centralização política. Ao publicarmos recentemente um artigo (Heckenberger et al., 2003) que obteve repercussão na imprensa, foi difícil evitar a interpretação de que uma “grande civilização perdida” havia sido, finalmente, descoberta. Na área indígena, aliás, deparei-me mais de uma vez com “expedições” bem financiadas, que chegam em busca da mesma utopia que selou a sorte do célebre Coronel Fawcett, desaparecido na região em 1925.^3 Hoje, espera-se da arqueologia que ela possa oferecer os elementos concretos dessa utopia. Para a decepção dos visitantes, no Xingu não há pedras, nem templos, mas marcas elusivas do passado, traçadas em solo coberto por vegetação. A sedução xinguana, contudo, não é apenas o resultado dos humores e do imaginário não-indígenas. Ela também é uma força local de atração, um dispositivo cultural nativo. Se assim não fosse não teríamos lá um complexo sociocultural, pluriétnico e multilíngue, único nas terras baixas da América do Sul, reunindo falantes de línguas Arawak, Karib e Tupi. Entender como esse sistema se formou e se transformou ao longo do tempo é um desafio que exige uma abordagem multidisciplinar.
CARLOS FAUSTO
costa do Pacífico e dos Andes Centrais: populações densas, sistemas intensivos de produção agrícola, criação extensiva de animais, aparelho estatal sofisticado, estratificação social, especialização e desenvolvimento de técnicas como a metalurgia. Na base, estavam os povos “marginais”, um conjunto heterogêneo de sociedades definidas por possuírem uma tecnologia rudimentar, retirando seu sustento em ambientes inóspitos por meio da caça e da coleta. Entre esses dois tipos, tínhamos, na camada superior, uma formação social – posteriormente chamada de cacicado – caracterizada pelo desenvolvimento incipiente de centralização político-religiosa, estratificação em classes e intensificação econômica. Logo abaixo, vinham as tribos da floresta tropical: horticultores com aldeias permanentes, mas sem instituições propriamente políticas. Organizadas pelo parentesco, sem poder político ou religioso destacados, seriam marcadas por forte igualitarismo. Essa síntese continental dominou os estudos amazônicos até pouco tempo. Antropólogos e arqueólogos das mais diversas correntes teóricas aceitaram grosso modo a caracterização stewardiana sobre a “cultura da floresta tropical”. Aqueles de formação materialista e ecofuncionalista buscaram explicar, por meio de alguma determinação material, o porquê de não terem surgido sociedades estratificadas e hierarquizadas na Amazônia.^5 Na outra ponta, autores de inspiração estruturalista e culturalista tenderam a ver o igualitarismo renitente dos povos indígenas da Amazônia sob um prisma positivo: não como falta ou atraso, mas como o produto de um desiderato sociológico ou ontológico – idéia expressa na forma mais acabada pela imagem da “sociedade contra o Estado” de Pierre Clastres. Em ambos os casos, hierarquia, poder,
ENTRE O PASSADO E O PRESENTE: MIL ANOS DE HISTÓRIA INDÍGENA NO ALTO XINGU
estratificação, mesmo incipientes, não pertenceriam (nem poderiam pertencer) ao mundo amazônico, passado ou presente.
Nas duas últimas décadas, esse imaginário do HSAI parece ter-se esgotado. Alguns de seus problemas foram logo notados, mas ainda assim ele se manteve como modelo dominante até os anos 1980, quando uma série de evidências contrárias já haviam se acumulado.^6 Essas evidências resultam de um conjunto de trabalhos em etnologia, arqueologia, demografia histórica, ecologia, que, em linhas gerais, apontam para os seguintes fatos: primeiro, para uma maior diversidade ecológica da Amazônia, com a implicação de que não podemos mais tratar a região como um ambiente homogêneo, nem podemos nos limitar à simples distinção entre terra firme e várzea (Moran, 1995). Em segundo lugar, a Amazônia não é apenas mais diversa ecologicamente, mas parte dessa diversidade parece resultar da ação humana; i.e., da alteração antropogênica pré-histórica de áreas antes consideradas como floresta virgem e que hoje são vistas como “florestas culturais” (Balée, 1989; Posey, 1985, 1998; Posey and Balée, 1989). Essa diversidade, que é produto da ação humana, não é apenas vegetacional, mas também de solos, antes vistos como uniformemente inférteis, salvo os solos aluviais da várzea que representam apenas 2% da Amazônia. Hoje, sabe- se – e este é o terceiro fato – que há solos extremamente férteis de origem antropogênica (a chamada terra preta do índio), solos que aparecem em uma porção significativa da terra firme da Amazônia (cerca de 12%) (Petersen et al., 2001; Neves et al., 2003, Lehman et al. 2003; Denevan, 2001).
Essas evidências da ecologia histórica, somadas aos trabalhos arqueológicos sistemáticos de mapeamento de grandes sítios e
ENTRE O PASSADO E O PRESENTE: MIL ANOS DE HISTÓRIA INDÍGENA NO ALTO XINGU
passadas e presentes, de organização social e política na Amazônia? Devemos abandonar a imagem das terras baixas sulamericanas como reino da simetria e da igualdade? Acredito que sim, mas não para passarmos ao seu extremo oposto, buscando, com certo sabor ufanista, civilizações perdidas na floresta ou grandes Estados amazônicos. Temos que começar a admitir maior diversidade dos processos sociais e formas de estruturação da vida política na região. É chegada a hora de também “desagregar” a Amazônia no que toca às formas de poder.
Para repensar essas questões, o Alto Xingu é um caso privilegiado, pois lá encontramos, até hoje, formas bem definidas de chefia e de hierarquia, bem como uma intensa ritualização de um poder cosmopolítico. Ademais, há uma boa dose de continuidade entre o passado e o presente, o que nos permite conjugar o estudo arqueológico ao etnográfico. Comecemos, então, pela arqueologia.
Um milênio de história
Apresento agora uma narrativa sobre a pré-história xinguana. Ela não é de minha autoria, mas sim de meu colega Michael Heckenberger (1996, 2001, 2005). Baseia-se em dados empíricos, que a alicerçam em vários pontos, mas a curva entre os pontos é preenchida por intuição, bom senso e economia explicativa. O ponto final da narrativa é o complexo xinguano tal qual o conhecemos hoje: um sistema cultural reunindo povos pertencentes a três dos quatro maiores grupos linguísticos sul-americanos (Arawak, Karib e Tupi). Nosso problema mais geral é investigar como esse sistema se constituiu e se transformou através do tempo. Quais foram as
CARLOS FAUSTO
forças – internas e externas – que determinaram essas transformações? O que chamamos, hoje, de Alto Xingu corresponde à porção meridional do Parque Indígena do Xingu, desde a sua fronteira sul (latitude 13o^ S) até o Morená, local de confluência dos rios Batovi, Culuene e Ronuro. Em seu auge, entre os séculos XIII e XVII, o sistema regional ocupava quase toda a drenagem dos formadores do rio Xingu, desde a latitude 13o^ 15” S, estendendo por uma larga faixa à jusante da confluência do Morená, até a foz do rio Suyá Missu. A região é transicional entre o cerrado e a floresta densa amazônica, apresentando características ecológicas bastante próprias: embora dominada pela floresta tropical nas áreas mais elevadas, há campos abertos parcialmente inundáveis, florestas de galeria, e várias formações lacustres, de grande piscosidade, interligadas muitas vezes por pequenos canais. As primeiras evidências sólidas de ocupação xinguana de que dispomos remontam ao século IX d.C. Não temos dados sobre sítios pré-cerâmicos, talvez pela quase ausência de abrigos rochosos na região.^7 A colonização inicial é marcada pelo aparecimento de aldeias circulares e de uma única indústria cerâmica, que ficou conhecida na literatura como Ipavu. Dada a similaridade dessa cerâmica com aquela contemporânea, produzida apenas pelos povos Arawak do Alto Xingu, a hipótese mais provável é que os primeiros colonizadores fossem falantes de uma língua Arawak, que migravam de norte a sul desde a Amazônia central, como parte daquilo que Heckenberger (2002) chamou de “diáspora Arawak”. Eles teriam chegado à periferia meridional da Amazônia e se dispersado em um eixo leste-oeste, desde os campos da Bolívia até o Alto Xingu.
CARLOS FAUSTO
descontinuidade espacial e descontinuidade cultural não é necessária. Famílias bem localizadas, como Pano e Jê, possuem diferentes graus de similaridade e diferença, assim como Tupi- Guarani e Arawak, as duas famílias lingüísticas de maior dispersão nas terras baixas sul-americanas. De todo modo, aceitar a retenção de certas estruturas na longa duração, mesmo na ausência de proximidade geográfica, não parece tão problemático. A dificuldade maior consiste em determinar a relação entre essa retenção e a língua, pois aqui entram em jogo variáveis de grandeza diferente: de um lado, a relação entre língua, cultura e cognição; de outro, aquela entre pragmática lingüística e história sociopolítica. Não pretendo neste texto aventurar-me nessa seara, apenas chamo atenção do leitor para problemas que a formação do complexo xinguano nos coloca. O segundo ponto refere-se à gênese de certos elementos da gramática cultural Arawak. Uma das implicações da hipótese acima é que um conceito de hierarquia e distinção social já estava bem estabelecido na Amazônia, em populações pouco densas, muito antes do aparecimento de grandes aldeias. Isso implica que uma mudança no plano ideológico teria sido, nesse caso , pré-condição para os processos de complexificação sociopolítica, que normalmente são explicados por mudanças demográficas, ecológicas e/ou econômicas. Em outras palavras, teríamos aqui uma imaginação hierárquica antes que fossem dadas as condições materiais para que ela se expressasse na forma de chefias políticas destacadas – uma idéia que me faz lembrar o que Sahlins diz sobre os pensadores do Renascimento: que eles já tinham imaginando o cosmos como uma ordem mundial capitalista, mesmo antes de superarem-se as relações pré-modernas de produção na Europa (2000, p.538).
ENTRE O PASSADO E O PRESENTE: MIL ANOS DE HISTÓRIA INDÍGENA NO ALTO XINGU
Seja como for, proponho que aceitemos, no atual estágio de nossos conhecimentos, que os colonizadores Arawak chegaram ao Alto Xingu com uma certa gramática cultural estabelecida – incluindo um senso de hierarquia e uma diferenciação clara entre espaços públicos e domésticos – que se manifestou na forma anelar de suas aldeais, com um centro político-ritual: a praça (Heckenberger, 2005, p. 306-318). Essa população colonizadora cresceu gradualmente até meados do século XIII, quando teria ocorrido um salto. Por volta de 1.250 d.C, um certo limiar demográfico e sociopolítico parece ter sido ultrapassado: as aldeias não apenas cresceram em número, como também aumentaram expressivamente de tamanho. Se entre 900 e 1.250 d.C, temos um desenvolvimento cumulativo, uma historicidade lenta, a partir daí temos uma aceleração que se estende até meados do século XVII.
Nesse período, que Heckenberger denominou “galático”, a paisagem é dominada por grandes aldeias, cerca de 10 vezes maiores do que as atuais, circundadas por grandes estruturas defensivas — fossos com até 15 metros de largura, 3 metros de profundidade, estendendo-se por até 2,5 km em torno da área de habitação. Hoje, conhecem-se 12 sítios com esse sistema defensivo no Alto Xingu, mas é provável que existam outros ainda não descritos, uma vez que não há investigação arqueológica cobrindo toda a região. Os fossos indicam que essa população defendia-se de inimigos, mas certamente esses inimigos não eram os próprios xinguanos, uma vez que os sítios estão interligados por caminhos bem definidos, indicando não apenas contemporaneidade de ocupação, como também uma interação social intensa entre as vilas fortificadas. Esses caminhos, aliás, seriam melhor definidos como estradas, pois têm de 10 a 30 metros de largura e 4 a 5 quilômetros de extensão
ENTRE O PASSADO E O PRESENTE: MIL ANOS DE HISTÓRIA INDÍGENA NO ALTO XINGU
determinada aldeia e de seus chefes. Esse prestígio é medido pelo tamanho dos veículos motorizados e pelo número de pessoas que são levadas para participar da festa, mas também pelo tamanho e retidão do caminho principal, a amplidão da praça, a beleza da casa do chefe e assim por diante.
Em meados do século XVII ou talvez antes, o sistema galático entrou em colapso. Não é possível saber ainda se esse processo tem raízes profundas, mas ele parece ocorrer de forma rápida. Não sabemos se ele é conseqüência de uma limitação ecológica, de conflitos políticos, ou se resultou de fatores exógenos, tais como as doenças introduzidas pela conquista que, mesmo na ausência de contato direto, já circulavam pela Amazônia e podem ter afetado violentamente uma população densa e sedentária. De todo modo, o colapso das grandes aldeias é marcado pelo abandono das estruturas coletivas e pelo aparecimento de sítios de menor porte, semelhantes àqueles que seriam observados, já no final do século XIX, pelo alemão Karl von den Steinen, a primeira pesssoa a deixar registros escritos sobre o sistema indígena do Alto Xingu.
No momento da chegada de Steinen, o Xingu já era um complexo sociocultural único, pluriétnico e multilíngüe, composto por povos falando línguas Tupi, Karib, Arawak e uma língua isolada, o Trumai. O que teria ocorrido entre o colapso do sistema galático e a chegada do viajante alemão?
A constituição dos xinguanos modernos
Os povos xinguanos têm uma versão comum para explicar o processo de constituição do complexo pluriétnico. Os habitantes
CARLOS FAUSTO
originais, criados diretamente pelos heróis míticos, são os Waurá e os Mehinaku (povos Arawak), bem como os Kuikuro, os Kalapalo, os Nahukwá e os Matipu (povos Karib). Os demais são intrusos que adentraram a região em tempos históricos e adotaram os modos de vida e valores culturais xinguanos. Dentre aqueles que chegaram a partir do século XVIII, contam-se povos tupi (Kamayurá e Aweti), um povo arawak (Yawalapiti) e os Trumai.^9 Para todos esses casos, há narrativas sobre sua chegada e incorporação, ou para usar uma expressão comum no português corrente do Alto Xingu, como eles deixaram de ser “índios bravos” e adotaram o pacifismo e o cerimonialismo xinguanos (ver, por exemplo, Coelho de Souza, 2001; Monod Becquelin e Guirardello, 2001). Da perspectiva nativa, ser xinguano implica em aceitar um pacote cultural muito bem definido que inclui: um conjunto de valores éticos e estéticos; o aprendizado de disposições corporais e comportamentais; a adoção de uma alimentação que exclui carne de animais de pêlo; além da participação intensa em um universo mítico-ritual, que torna públicas as relações hierárquicas entre chefes e não-chefes, ao mesmo tempo em que expõe, na forma de uma competição regrada, a simetria entre os vários grupos locais. Esse sentimento de distintividade e unicidade, que marca a altivez e a presunção xinguanas, não os impede de reconhecer que a produção desse complexo cultural não foi um processo de mão única. A chegada dos povos Tupi e dos Trumai marcam um enriquecimento dessa tradição: várias das manifestações rituais xinguanas resultam da apropriação de rituais ou partes de rituais dos povos xinguanizados. Em alguns casos, isso é claramente expresso por eles: o ritual do Javari, por exemplo, é tido como de
CARLOS FAUSTO
vimos, no modelo arqueológico também é assim: a formação do sistema resulta da incorporação de povos e tradições variadas a um modelo Arawak pré-existente, cuja estrutura responde pela continuidade cultural ao longo de mais de mil anos de história local.^11 Se as versões nativas e o modelo arqueológico coincidem em pensar o processo de constituição de maneira assimétrica, é preciso notar que eles se afastam na concepção de qual teria sido o núcleo inicial. Na versão arqueológica, trata-se de uma população homogênea de língua Arawak. Os Karib teriam chegado posteriormente e, portanto, não haveria um complexo Arawak-Karib original, como contam-nos as narrativas xinguanas. Não sabemos, porém, quando os Karib chegaram à região, embora haja evidências de que isso possa ter ocorrido entre os séculos XVI e XVII e que, portanto, sua incorporação deu-se após ou durante o colapso do sistema galático.^12 É preciso notar, ainda, que o modelo arqueológico implica dois processos opostos em relação à língua e à cultura. De um lado, supõe uma relação muito estável entre certo modelo cultural e certa população linguisticamente diferenciada (os Arawak); de outro, supõe uma grande plasticidade nessa mesma relação quando se trata dos povos Karib e Tupi. Qual processo explica tamanha variabilidade? Por que os arawak teriam retido um modelo cultural elaborado há 3 mil anos na Amazônia central e os Karib e Tupi teriam sido moldados por esse modelo, abrindo mão de muito do que os caracterizava, salvo a língua? Essas questões poderiam ser facilmente respondidas se estivéssemos diante de um processo de expansão imperial no qual um povo dominante impõe sua cultura a outro. Não emergiu no
ENTRE O PASSADO E O PRESENTE: MIL ANOS DE HISTÓRIA INDÍGENA NO ALTO XINGU
Xingu, até a entrada do Português, uma língua franca, como ocorreu nos Andes com o Aimara e o Quéchua – ou melhor, como sugere Menezes Bastos (1978, 1995, p.257), essa língua franca foi encontrada na própria vida ritual e em suas expressões musicais e, como vimos, tudo indica que houve aí uma notável hibridação. Isso sugere que os povos “intrusivos” não foram incorporados em posição de submissão; se há assimetria no processo, não há propriamente dominação. Não ocorreu uma expansão a partir de um centro, mas sim a absorção local de povos que, fugindo da compressão territorial causada alhures pela conquista, adentraram a região dos formadores do rio Xingu. Assim, por exemplo, os Waurá, atacados recorrentemente pelos Kamayurá no século XVIII, acabaram por xinguanizá-los, mas tiveram que lhes ceder uma rica área ecológica, onde antes habitavam. Foi a sedução xinguana que conquistou os Kamayurá, não a submissão pela guerra.
Tal estratégia contrasta não apenas com a expansão imperial no altiplano andino, como também com a “predação familiarizante”, expressão que cunhei para falar da guerra e do xamanismo na Amazônia (Fausto, 1999, 2001). O dispositivo xinguano de incorporação da alteridade é o que eu chamaria de “entrelaçamento relacional”, i.e., a produção de mais e mais relações cordiais por meio de visitas, de presentes, de casamentos, que acabam por tecer uma trama de identidade mais densa que aquela das diferenças. Diante da ameaça de guerra – além de defender-se e retaliar as agressões – a constelação xinguana procurava refigurar-se, envolvendo e incorporando o agressor sempre que isso fosse possível. Assim fizeram com os Kamayurá, com os Trumai, com os Bakairi, com os Aweti, com os Yawalapiti e talvez tivessem
ENTRE O PASSADO E O PRESENTE: MIL ANOS DE HISTÓRIA INDÍGENA NO ALTO XINGU
Uma visão do presente
A constelação xinguana sempre foi vista como algo anômalo na paisagem geral da Amazônia. Os próprios xinguanos se vêem um pouco assim: sua relação com os demais índios é, ainda hoje, marcada por ambivalência. Não gostam de se misturar quando vão à cidade, reivindicam à Funai e à Funasa locais exclusivos para eles, mantêm um delicado distanciamento dos “parentes” não- xinguanos, não entendem bem a política da “fala dura” dos chefes Jê que contrasta com a obrigatória “fala mansa” de seus chefes, e parecem acreditar cada vez mais que têm a exclusividade da “cultura” – não é incomum ouvi-los dizer que “os índios por aí perderam a cultura, só nós é que estamos guardando”. Mesmo os etnólogos que trabalharam na região também tenderam a construí- la como um mundo à parte. 13 A sedução xinguana a todos suga, independentemente de credo ou condição. É difícil escapar a seus encantos.
A despeito de sua singularidade, contudo, é preciso reintegrar o Alto Xingu no panorama amazônico, não apenas no que tange à sua ontologia (como fez Barcelos Neto, 2004), mas também no que toca à sua forma sociopolítica. É fato que o Alto Xingu diferencia- se de um tipo de formação sociocultural, provavelmente hegemônica na floresta densa durante o século XX, que denominei “predatória” ou “centrífuga” e que é característica de povos como os Jivaro, Yanomami, Arara, Mundurucu, Parakanã, entre muitos outros (Fausto, 2001). Que tipo de formação sociopolítica é esta? Ela caracteriza-se por redes sociais instáveis, não-hierárquicas, formadas pela agregação de grupos locais articulados pela troca e pela guerra. A produção de pessoas e coletivos depende da aquisição contínua
CARLOS FAUSTO
de potência no exterior (na forma de nomes, cantos, almas, vítimas), com transmissão interna limitada, de tal forma que a guerra e o xamanismo funcionam como mecanismos de reprodução necessários