



































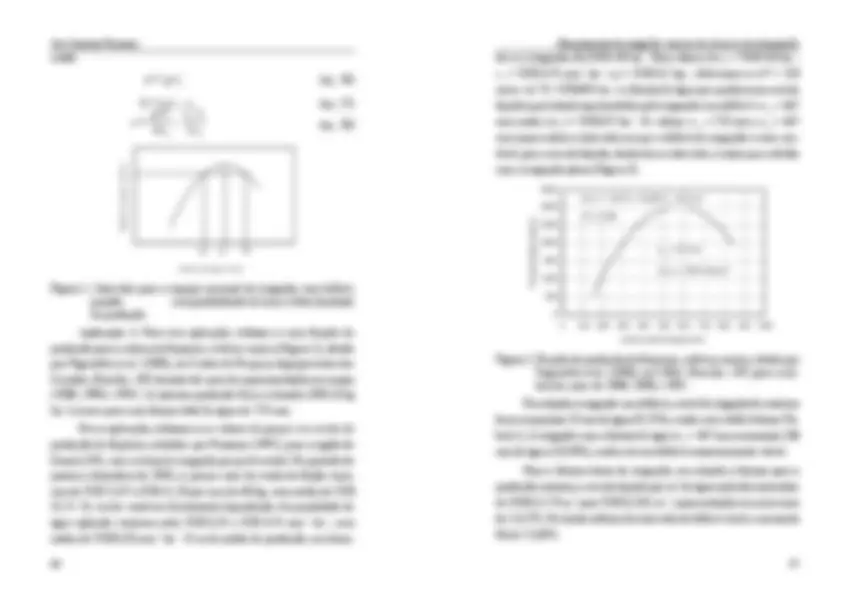


























































Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity
Os melhores documentos à venda: Trabalhos de alunos formados
Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade
Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.

Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Comunidade
Peça ajuda à comunidade e tire suas dúvidas relacionadas ao estudo
Descubra as melhores universidades em seu país de acordo com os usuários da Docsity
Guias grátis
Baixe gratuitamente nossos guias de estudo, métodos para diminuir a ansiedade, dicas de TCC preparadas pelos professores da Docsity
Livro sobre assuntos de interesse para irrigação
Tipologia: Manuais, Projetos, Pesquisas
1 / 195

Esta página não é visível na pré-visualização
Não perca as partes importantes!




































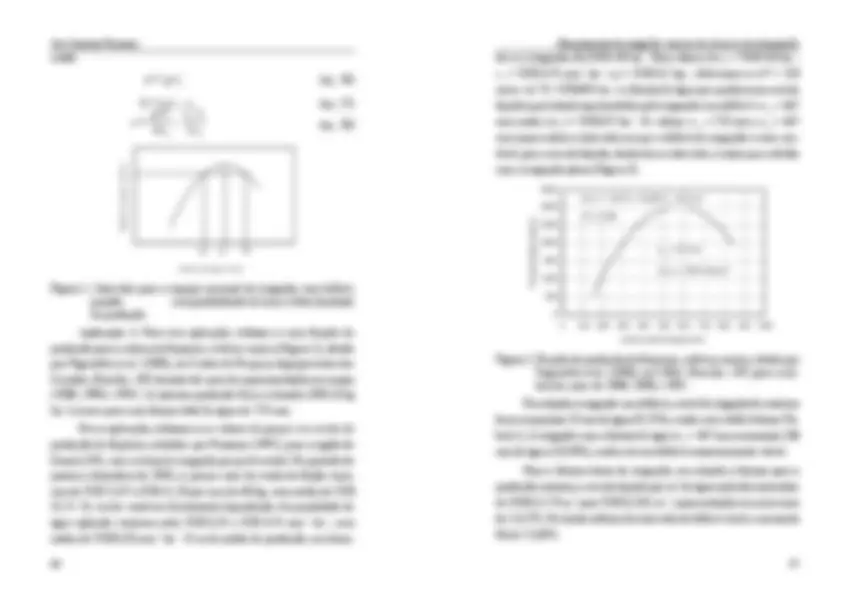
























































II
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará Doutor em Engenharia Agrícola
FREDERICO ANTONIO LOUREIRO SOARES Universidade Federal de Campina Grande Doutor em Engenharia Agrícola
SILVIO CARLOS RIBEIRO VIEIRA LIMA Instituto Centro de Ensino Tecnológico Doutor Ciências
RAIMUNDO RODRIGUES GOMES FILHO Universidade Federal de Goiás Doutor em Engenharia Agrícola
CLAYTON MOURA DE CARVALHO Instituto Centro de Ensino Tecnológico Mestre em Engenharia Agrícola
ANTÔNIO EVAMI CAVALCANTE SOUSA Universidade Federal de Campina Grande Mestre em Engenharia Agrícola
EDITORES
III
do recurso hídrico ainda se processa a partir de uma visão fortemente setorial, ocasionada pela falta de qualificação técnica para gestão dos sistemas hídricos, em grande parte dos estados brasileiros, necessitan- do de uma visão integrada voltada para a otimização do aproveitamen- to desses recursos.
O desenvolvimento e a preservação dos recursos hídricos de- pendem de profissionais qualificados, tanto para a tomada de decisões quanto para a execução das diversas atividades, com o objetivo de atender, adequadamente, as diferentes realidades do país. Para tanto, faz-se necessária à implantação de um amplo programa de capacitação profissional, quer seja através de centros regionais de treinamento que atendam às necessidades locais específicas do setor e que fixem os profissionais da área nas diversas regiões do país, quer seja através de universidades federais, estaduais e particulares, abrangendo todos os níveis, do técnico ao de pós-graduação, incluindo-se, também, a exten- são. O programa deverá favorecer os profissionais e atores do proces- so decisório, como membros de comitês e de conselhos de recursos hídricos, lembrando que nem sempre é possível importar tecnologia; na maioria das vezes, a tecnologia tem que ser desenvolvida no seio da realidade socioeconômico da região.
Neste contexto, o Instituto CENTEC, através das suas – FATEC
Com a apresentação das tecnologias no I Workshop Interna- cional de Inovações Tecnológicas na Irrigação & I Conferência sobre Recursos Hídricos do Semi-Árido Brasileiro objetiva-se
VI
discutir os principais resultados científicos e tecnológicos, obtidos por instituições de ensino, pesquisa e extensão, para a racionalização e conservação dos recursos hídricos. Espera-se que esta publicação venha a contribuir para os co- nhecimentos dos diversos profissionais da área, suprindo, de forma consistente, a carência de informações sobre a agricultura irrigada, tendo em vista que o adequado desenvolvimento do setor agrícola so- mente se dará com a formação de equipes qualificadas, integradas, multidisciplinares e treinadas nas várias especificidades da respectiva região, principalmente nas regiões semi-áridas, as quais apresentam visível fragilidade em relação à sustentabilidade hídrica. Ressalte-se que os assuntos aqui tratados são de responsabili- dade dos seus respectivos autores, sendo os editores limitados à revi- são, apresentação de algumas sugestões, uniformização e organização do trabalho final. Embora o documento tenha sido amplamente revisado, quais- quer críticas ou sugestões poderão ser encaminhadas aos editores, para a publicação eventual de uma nova edição.
Os Editores
VII
Agência Nacional de Águas
ANTHONY MORSE Department of Water Resources
BEATRIZ SUSANA OVRUSKI DE CEBALLOS Universidade Estadual da Paraíba
BRUNO MOLLE International Network of Irrigation Test Laboratory/Cemagref
CAMILO LELIS TEIXEIRA DE ANDRADE Embrapa Milho e Sorgo
CLARENCE W. ROBISON University of Idaho
CRISTIANNY VILLELA TEIXEIRA GISLER Agência Nacional de Águas
HANS RAJ GHEYI Universidade Federal de Campina Grande
IGNACIO LORITE El Instituto de Investigación y de Formación Agraria y Pesquera (IFAPA)
JAMES L. WRIGHT United States Department of Agriculture
AUTORES DOS CAPÍTULOS
IX
Universidade Federal do Ceará Doutor em Engenharia Agrícola ANA KELLIANE SILVA DO NASCIMENTO Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Engenharia da Irrigação Mestre em Engenharia Agrícola FRANCISCO ARIOSTO HOLANDA Deputado Federal do Ceará Mestre em Engenharia Biomédica ARISTIDES MARTINS SANTOS NETO Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará Tecnólogo em Recursos Hídricos BERNARDO BARBOSA DA SILVA Universidade Federal de Campina Grande Doutor em Engenharia Civil CARLOS AUGUSTO FERREIRA Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos Engenheiro Agrícola CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE SOUSA Universidade Federal do Ceará Mestre em Engenharia Agrícola CHRISTOPHER M. U. NEALE Utah State University Doutor em Engenharia Agrícola FABIO RODRIGUES DE MIRANDA Embrapa Agroindústria Tropical. Doutor em Engenharia de Biosistemas
COLABORADORES
XIII
Instituto Federal de Educação Tecnológica da Paraíba Doutor em Engenharia Agrícola RUBENS DUARTE COELHO Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/USP Doutor em Engenharia Hidráulica ROBERTO VIEIRA PORDEUS Universidade Federal Rural do Semi Árido Doutor em Recursos Naturais SÉRGIO LUIZ AGUILAR LEVIEN Universidade Federal Rural do Semi Árido Doutor em Agromonia VICENTE DE PAULO MIRANDA LEITÃO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará Doutor em Engenharia Civil WALESKA MARTINS ELOI Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará Doutora em Irrigação e Drenagem
XVI
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Doutor em Irrigação e Drenagem FLÁVIO FAVARO BLANCO Embrapa Meio-Norte Doutor em Irrigação e Drenagem FRANCISCO MARCUS LIMA BEZERRA Universidade Federal do Ceará Doutor em Irrigação e Drenagem FRANCISCO LOPES VIANA Agencia Nacional de Água Mestre em Engenharia Civíl FRANCISCO DE SOUZA Universidade Federal do Ceará Doutor em Engenharia Agrícola GERALDO ACCIOLY Secretária de Planejamento e Coordenação do Governo do Ceará Mestre em Sociologia JEANETE KOCH Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará Doutora em Engenharia Ambiental JOÃO CARLOS ANTUNES DE SOUZA Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial JOSÉ ELIÉSIO OLIVEIRA Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará Tecnólogo em Recursos Hídricos LUIS ANTONIO DA SILVA Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará Doutor em Agronomia
XIV
Universidade Federal do Ceará Mestre em Engenharia Agrícola MARCELO BORGES LOPES Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos MARCELO TAVARES GURGEL Universidade Federal Rural do Semi Árido Doutor em Recursos Naturais MARIA DO SOCORRO RIBEIRO HORTEGAL FILHA Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará Mestre em Engenharia Civil NILDO DA SILVA DIAS Universidade Federal Rural do Semi Árido Doutor em Agronomia JOSE NILSON BEZERRA CAMPOS Universidade Federal do Ceará Doutor em Recursos Hídricos PEDRO OLIVEIRA GARCIA Associação Brasileira de Normas Técnicas RAIMUNDO NONATO TAVORA COSTA Universidade Federal do Ceará Doutor em Irrigação e Drenagem RENATO CARRHÁ LEITÃO Embrapa Agroindústria Tropical Doutor em Ciências Ambientais REGINE HELENA SILVA DOS FERNANDES VIEIRA Universidade Federal do Ceará Doutor em Ciências Biológicas
XV
XVIII
Sustentabilidade da irrigação: estratégia de produção em agricultura irrigada.........................................................................................
CAPÍTULO II Planejamento da irrigação com uso de técnicas de otimização ....... CAPÍTULO III Racionalização do uso da água na agricultura irrigada ....................
CAPÍTULO IV Uso de modelos na prática da determinação das necessidades hídricas das culturas .............................................................................. CAPÍTULO V Application of the methodologies sebal and metric in irrigated agriculture ................................................................................
CAPÍTULO VI Tensiômetro: características, Inovações e aplicações ................. CAPÏTULO VII Racionalização do uso da água na agricultura irrigada ................
CAPÍTULO VIII Laboratório de ensaios em equipamentos de irrigação: desenvolvimen- to e acreditação ........................................................................... CAPÍTULO IX Impactos ambientais causados com a irrigação ............................
ÍNDICE
XIX
SUSTENTABILIDADE DA IRRIGAÇÃO: ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO EM AGRICULTURA IRRIGADA
João Carlos Ferreira Borges Júnior; Camilo Lelis Teixeira de Andrade; Paulo Afonso Ferreira
A importância da agricultura irrigada, para garantir o suprimen- to da crescente demanda por produtos agrícolas, incluindo alimentos, fibras e bio-combustíveis, nos âmbitos nacional e global, é amplamente reconhecida, devido ao considerável aumento na produtividade das culturas. Enquanto a agricultura de sequeiro ocupa 80% do total mun- dial da área agrícola cultivada e gera 20% da produção de alimentos, a agricultura irrigada, em 20% do total mundial da área agrícola cultiva-
1
lidade de mão de obra, capacidade de investimento por parte do em- preendedor, riscos à saúde pública, dentre outros (Andrade e Borges Júnior, 2008).
A adequação do manejo da irrigação envolve o emprego de meios para determinação de quando e quanto irrigar, além da avaliação peri- ódica do desempenho da irrigação, verificando-se a uniformidade de irrigação, lâmina média aplicada, área adequadamente irrigada, efici- ências de irrigação, coeficiente de déficit, perdas por evaporação e percolação.
Por fim, a racionalização na utilização de recursos hídricos na agricultura irrigada está relacionada também a um adequado planeja- mento de estratégias de produção, podendo-se buscar a otimização de variáveis de interesse do empreendedor (privado ou público) e daque- las relacionadas à sustentabilidade segundo aspectos ambientais e só- cio-econômicos.
2. MÉTODOS DE PLANEJAMENTO EM AGRICULTU- RA IRRIGADA
No contexto aqui abordado, planejamento em agricultura irrigada refere-se à determinação da estratégia de produção a ser adotada com vistas à otimização de uma ou mais variáveis, podendo ser inicial ou periódico.
Estratégia de produção compreende o conjunto de definições quanto a que produzir, onde produzir, quando produzir e que conjunto de técnicas e métodos a serem empregados. Em outras palavras, es- tratégia de produção refere-se ao conjunto de atividades a serem implementadas em determinado empreendimento (no contexto aqui apresentado, empreendimento está relacionado à atividade agrícola).
Este texto trata de planejamento em nível de propriedade, en- volvendo análise financeira com base em princípios da Microeconomia.
4
João Carlos Ferreira Borges Júnior et al.
O planejamento em nível de propriedade envolve a otimização de vari- áveis de interesse do produtor, o qual é o tomador de decisão neste nível. De modo geral, a variável de interesse é o retorno financeiro, o qual deve ser maximizado. O retorno financeiro pode ser verificado por meio de critérios de avaliação de projetos, como o valor presente líquido, a taxa interna de retorno e a relação benefício-custo. Segundo Woiler e Mathias (1994), o valor atual líquido, ou valor presente líquido, pode ser definido como a soma algébrica dos saldos do fluxo de caixa, descontando-se determinada taxa de juros (também denominada taxa de desconto) para determinada data. A grande van- tagem na utilização deste índice é que o valor do dinheiro no tempo e as receitas líquidas, ao longo de toda vida do projeto, são levados em conta. Quando se avalia um projeto, independentemente de alternati- vas, o critério de decisão consiste em aceitá-lo se VPL > 0. Na esco- lha entre projetos alternativos, a preferência recai sobre aquele com maior VPL positivo (Contador, 2000). O termo ‘valor presente líquido’, preferivelmente a ‘valor pre- sente’, é usado para chamar a atenção para o fato que os fluxos mone- tários medem as diferenças entre as receitas operacionais líquidas e os investimentos adicionais feitos com o projeto (Gittinger, 1982; Noronha, 1987). O valor presente líquido (VPL) de um projeto é definido utilizan- do-se a equação
n t= 0 t
t
em que Lt - valor do fluxo líquido do projeto no ano t, $; n - horizonte do projeto
5
Sustentabilidade da irrigação seguir. Consideremos uma propriedade com área útil agricultável de 10 ha. Um consultor é solicitado pelo proprietário da fazenda em ques- tão a determinar a estratégia de produção que acarrete o máximo re- torno financeiro. Neste modelo, serão consideradas as seguintes ativi- dades: milho, feijão, tomate e melão. Todas os cultivos considerados, neste caso, são irrigados. O planejamento será feito para um determi- nado período no ano. O consultor dispõe dos dados apresentados nas tabelas 1 a 4 (comumente são empregados valores médios).
Na Tabela 1 são apresentados os dados relativos a preço, pro- dutividade e custos de produção. Estes dados definem a função objeti- vo a ser otimizada.
Na Tabela 2 são apresentados os requerimentos de recursos, por unidade de área, de cada atividade. Tabela 1. Dados de preço, produtividade e custos de produção para as atividades consideradas Cultura Símbolo^ Preço Produtividade Custos Receita (atividade) líquida (R$/t) (t/ha) (R$/ha) (R$/ha) milho X 1 290 5 1.800 - feijão X 2 1.270 2 2.720 201 tomate X 3 500 65 29.000 3. melão X 4 600 25 10.000 5.
Tabela 2. Requerimentos de recursos por unidade de área de cada atividade Cultura Requerimento Mão de obra Terra (atividade) de irrigação (m 3 /ha) (dia-homem/ha) (ha/ha) milho 5.100 33 1 feijão 3.800 30 1 tomate 1.550 550 1 melão 1.350 85 1 Restrições quanto aos recursos água disponível para irrigação, mão de obra e terra são apresentadas na Tabela 3, enquanto na Tabela 4 são apresentados dados relativos às restrições de produção.
8
João Carlos Ferreira Borges Júnior et al.
j
i
(ex.: número de anos); t - ano t; e i - taxa de desconto, decimal.
Contador (2000), descrevendo alguns critérios de avaliação de projetos, entre eles o valor presente líquido (VPL), taxa interna de retorno, payback e a relação benefício-custo, conclui que o único que permanece incólume é o VPL. O autor comenta que:
“... O bom-senso e a honestidade recomendam que o VPL seja o indicador básico. Isto não quer dizer que outros parâmetros não se- jam utilizados para auxiliar no processo decisório, mas o papel destes parâmetros deve ser apenas complementar”.
A metodologia para planejamento em nível de propriedade, aqui apresentada, envolve procedimentos de otimização, por meio de pro- gramação linear, conjugado com análise de risco. As duas técnicas serão tratadas a seguir.
2.1. Programação linear
Um problema típico de programação matemática, de maximização, pode ser escrito como
tal que
X - vetor de variáveis reais; Z( X ) - função objetivo; g - restrição; i - número inteiro índice para a restrição; m - número de restrições; j - número inteiro índice para a atividade; n - número de atividades
Programação linear é o método de programação matemática mais difundi- do para planejamento de empreendimentos agrícolas (Hardaker et al., 2004). Em programação linear, Z( X ) e as restrições são funções lineares. Isto não restringe, necessariamente, a liberdade de expressão do construtor do modelo, pois, na mai-
6
João Carlos Ferreira Borges Júnior et al. oria dos casos, problemas não lineares podem ser prontamente convertidos em uma forma linearizada. Usualmente, não existe perda computacional nesta conversão, podendo haver ganhos em alguns casos (Hazell & Norton, 1986). Para citar um exemplo de conversão de um problema não linear em um linear, Dantas Neto (1994) implementou funções não lineares de resposta da cultura à água, em um modelo de programação linear aplicado ao planejamento da irrigação no Projeto Senador Nilo Coelho (Petrolina - PE). Um modelo de programação linear, aplicável em nível de propri- edade, requer as seguintes especificações: a) Conjunto de atividades alternativas para a propriedade em questão, bem como os requerimentos de recursos associados a cada ativida- de (ex.: requerimentos de irrigação, fertilizantes, defensivos, mão de obra, etc.) e restrições de produção (restrições devido a capaci- dade de mercado, processamento da produção, necessidade a aten- der contratos de produção mínima pré-estabelecidos, etc). b) Restrições de recursos (ex.: limitações de área, água para irrigação, mão de obra, capital, etc.) c) Produtividades de culturas, preços de produção e custos de produ- ção, os quais definem o retorno financeiro de cada atividade. Atividade é aqui definida com base na cultura, tecnologia em- pregada no cultivo (aparte irrigação), época de plantio, ano de plantio, tipo de solo, esquema de irrigação e, ou drenagem e categoria do pro- dutor. Nível da atividade refere-se à área destinada para exploração de cada atividade.
2.2. Exemplo - modelo simples de programação linear O entendimento da técnica da programação linear pode ser fa- vorecido por meio do estudo de um modelo simples, apresentado a
7
Sustentabilidade da irrigação
O retorno financeiro total, Z, é dado pela soma dos retornos financeiros de cada atividade, ou seja,
j
n j 1 j
n j 1
Z Z(X) Zj cX
Assim, Z(X) é a função objetivo que, neste caso, deve ser maximizada. Os coeficientes cj, que representam a receita líquida de cada atividade (última coluna da Tabela 1), são os coeficientes técni- cos da função objetivo. Com base na Tabela 1, reescreve-se a Equa- ção 3 como
O problema em apreço consiste em maximizar Z(X), respeitan- do-se um conjunto de restrições apresentadas nas tabelas 3 e 4 e as condições de não negatividade. Se não fosse pelas restrições, teríamos um problema a ser resolvido utilizando-se os métodos do cálculo dife- rencial. As restrições são representadas por meio de equações, tendo a seguinte forma:
n j 1
a (^) ij - quantidade do i-ésimo recurso por unidade da j-ésima atividade. Neste contexto, a unidade de atividade é hectare; considerando o re- curso mão de obra, a unidade respectiva de a seria então dias-homem ha-1^ ; bi - quantidade disponível do i-esimo recurso (ex.: em relação à restrição de água disponível para irrigação, a unidade respectiva de b seria m^3 ).
Na Equação 5, aij e bi são os coeficientes técnicos das restri- ções. Por convenção, as restrições são denominadas linhas e as ativi- dades colunas. As quantidades fixas de recursos bi são denominadas “lado direito” do problema. No caso aqui apresentado, as restrições
j 1 2 3 4
4 j 1
Z( X) (^) cj X 350 X 201 X3.500X 5000 X
10
João Carlos Ferreira Borges Júnior et al. são do tipo menor ou igual, podendo também ocorrer restrições do tipo maior ou igual ou igual. No problema aqui apresentado, os coeficientes a (^) ij são dados na Tabela 2, enquanto os coeficientes bi são dados nas tabelas 3 e 4. Com base nas tabelas 2 a 4, a Equação 5 pode ser expandida para cada restrição, conforme apresentado a seguir. Restrição quanto à água disponível para irrigação:
Na inequações 9 a 13, relativas às restrições de produção, as produtividades Yj , dadas na Tabela 1, são os coeficientes técnicos. Alternativamente, as restrições de produção poderiam ser dadas como limite de área para cada cultura (ha) ao invés do limite na quantidade produzida (t), aqui utilizado. O modelo de programação linear deve contar ainda com as res- trições de não negatividade, que garantem que os níveis de atividades X (^) j sejam maiores ou iguais a zero. Resumindo, a partir das equações 3 a 13 e das restrições de não negatividade, nosso modelo de programa-
11
Sustentabilidade da irrigação
variáveis (digamos até quatro variáveis), requer-se o emprego de com- putadores para obtenção da solução, sendo esta uma das razões para o desenvolvimento relativamente tardio dos procedimentos de solução para problemas de programação matemática. O matemático George Bernard Dantzig (1914-2005), aclamado como o “pai a programação linear”, fez, em 1947, sua mais famosa contribuição para a Matemática, desenvolvendo o método Simplex de otimização. O desenvolvimento deste método teve início no trabalho de Dantzig junto à Força Aérea dos Estados Unidos, onde se especi- alizou em métodos de planejamento resolvidos com calculadoras. O termo programação (‘programming’) advém da aplicação na logística militar. Dantzig mecanizou o processo de programação introduzindo a programação em uma estrutura linear. Não é objetivo, neste texto, a apresentação do algoritmo Simplex ou de outros algoritmos baseados no Simplex, os quais são abordados na literatura relacionada à programação matemática, citando-se Hazell e Norton (1986), Gerald e Wheatley (2003) e Frizzone et al. (2005), além do clássico Linear Programming and Extensions (Dantzig, 1963). Existem diversos programas computacionais em que algoritmos baseados no Simplex são implementados. Algumas ferramentas são disponibilizadas para serem utilizadas por meio de planilhas eletrôni- cas. Por exemplo, a ferramenta Solver é disponibilizada junto à planilha eletrônica Microsoft ® Excel, sendo empregada para obtenção da so- lução no exemplo aqui apresentado. Os modelos de programação line- ar, típicos do problema em questão (nível de propriedade), possuem dimensão adequada ao uso desta ferramenta, que suporta até 200 va- riáveis lineares (atividades) e 200 restrições. Relatórios são também fornecidos com o uso do Excel-Solver, apresentando as soluções primal e dual, esta última fornecendo informações sobre preços sombra das restrições limitantes e custos reduzidos das atividades excluídas.
13
Sustentabilidade da irrigação D - Campo onde são indicadas as restrições.
E - Botões empregados para adicionar, alterar e excluir as restrições. A B F C G D E
Figura 3. Formulário do Solver.
F - Botão para comando de resolução do problema, devendo ser acio- nado após o preenchimento completo do formulário e da configura- ção das opções (campo G).
G - Botão para acessar o formulário de opções, apresentado na Figura 4; nesta figura-se estão sendo indicadas as seguintes opções a se- rem efetivadas “presumir modelo linear” e “presumir não negati- vos”. Esta segunda opção refere-se à condição de não negatividade (inequação 16). Após preenchidos os formulários do Solver e acionando o botão indicado no campo F da Figura 3, será disponibilizado o formulário de acesso aos resultados do Solver (nem sempre haverá solução possível para o modelo de programação linear estudado), conforme apresenta- do na Figura 5. Neste formulário, o usuário terá a opção de gerar relatórios com os resultados (campo na parte direita do formulário). Conforme se observa na Figura 5, solicitou-se a geração de três rela- tórios: Resposta, Sensibilidade e Limites.
16
João Carlos Ferreira Borges Júnior et al.
Figura 4. Formulário de opções do Solver, indicando-se as opções em “presumir modelo linear” e “presumir não negativos”.
Figura 5. Formulário para acesso aos resultados do Solver. Após a execução da otimização, algumas células terão valores modificados em relação ao que se observa na Figura 2, conforme apre- sentado na Figura 6. Na planilha, observa-se os níveis designados para as atividades (áreas de plantio, dadas nas células M5 a M8); o padrão ótimo de cultiva conta com 0,8 ha de milho, 0 hectare de feijão (essa variável não participa da base, sendo, portanto, não básica), 1,87 ha de tomate e 5,2 ha de melão. Na célula N9 observa-se o valor maximizado do retorno financeiro, igual a R$ 32.268.
17
Sustentabilidade da irrigação se alteração no nível apenas da variável em questão (condição ceteris paribus ). O intervalo não pode ser considerado para analisar a estabi- lidade da solução com respeito a mudanças simultâneas em mais de um coeficiente.
As linhas 13 a 23 do relatório de sensibilidade, apresentado na Figura 7, referem-se à estabilidade da solução frente a modificações nos valores das restrições. São apresentados os preços sombra dos recursos em cada restrição atuante, bem como os acréscimos e de- créscimos permissíveis. O preço sombra representa o máximo acrés- cimo sobre o valor otimizado da função objetivo (valor presente líquido total), para o aumento em uma unidade na correspondente restrição. Os acréscimos e decréscimos permissíveis indicam o intervalo, no qual pode-se variar o valor da restrição, mantendo o valor do preço sombra. Quando o valor da restrição limitante é alterado neste intervalo, os níveis das atividades serão alterados, mas não será alterada a base da solução ótima, ou seja, não será alterado o conjunto de atividades pre- sentes na solução ótima. Observa-se que as restrições relativas à dis- ponibilidade de água para irrigação (linha 23) e à produção de milho (linha 19) e melão foram limitantes.
Na linha 23 do relatório de sensibilidade apresentado na Figura 7, observa-se o preço sombra relativo à água disponível para irrigação, igual a R$ 2,00/m^3 , significando que para cada metro cúbico extra de água, a ser somado ao valor da restrição (14.000 m^3 ), será obtido um incremento igual a R$ 2,00 no retorno financeiro. Ainda nesta mesma linha, com base nos acréscimos e decréscimos permissíveis, observa- se que o preço sombra teria este valor para a disponibilidade de água na irrigação variando de 13.485 a 14.289 m^3.
Observa-se na Figura 7 um preço sombra negativo para a pro- dução de milho, igual R$ -2.373,23/t. Preços sombras negativos ocor- rem quando uma restrição de valor mínimo, sou seja, do tipo maior ou
20
João Carlos Ferreira Borges Júnior et al.
Figura 6. Planilha no Excel após execução da otimização.
2.3. Análise de sensibilidade da solução do modelo de progra- mação linear A análise de sensibilidade consiste em fazer variarem variáveis de entrada e medir o efeito em variáveis de saída. Tal procedimento é, usualmente, empregado em análises de pós-otimização de modelos de programação matemática, em que a estabilidade da solução é avalia- da, sob uma condição ceteris paribus , por meio da qual o efeito de uma mudança em um único coeficiente é considerado, enquanto todos os outros coeficientes são mantidos constantes (Hazell & Norton, 1986).
Os relatórios gerados pelo Solver são apresentados como novas planilhas no mesmo arquivo do Excel, sendo gerados por meio do for- mulário de acessos aos resultados do Solver (Figura 5). O relatório de sensibilidade, relativo à análise de sensibilidade do modelo de progra- mação linear exemplo, definido pela Equação 14 (função objetivo), pelo conjunto de inequações 15 (restrições) e 16 (não negatividade), é apre- sentado na Figura 7. O relatório de sensibilidade é apresentado em dois conjuntos de células. O primeiro conjunto é o de “células ajustá- veis”, referente aos coeficientes técnicos (receitas líquidas) na função objetivo. O segundo conjunto de células é relativo às restrições.
18
João Carlos Ferreira Borges Júnior et al.
Figura 7. Relatório de sensibilidade gerado pelo Solver. Na parte do relatório de sensibilidade relativa às células ajustáveis (li- nhas 5 a 11 na Figura 7), são apresentados o custo reduzido, o coefici- ente de cada atividade na função objetivo e os acréscimos e decrésci- mos permissíveis nestes coeficientes. O custo reduzido indica o quanto o valor da função objetivo (retorno financeiro, Z) declinaria, caso uma correspondente atividade, excluída da solução ótima, fosse forçada dentro da solução, ou seja, fosse considerada no padrão de cultivo. O negativo do custo reduzido é a quantidade pela qual a receita líquida da atividade correspondente (coeficiente técnico da função objetivo da atividade correspondente) teria de ser aumentada, para que a ativida- de entrasse na solução ótima. Assim, observa-se na Figura 7 que a receita líquida para a cultura do feijão deveria ser aumentada em R$ 8.379,65 para que esta atividade entrasse na base da solução ótima. Os acréscimos e decréscimos permissíveis nos coeficientes da função objetivo (Figura 7, linhas 6 a 11, colunas G e H) indicam o intervalo no qual a base da solução (conjunto de atividades que com- põe a solução ótima) não é alterada. Nestes intervalos, os níveis das atividades (áreas de cultivo) permanecerão constantes, embora o va- lor do retorno financeiro (função-objetivo) e os preços sombra sejam alterados. Ressalta-se que esses intervalos são obtidos considerando-
19
Sustentabilidade da irrigação