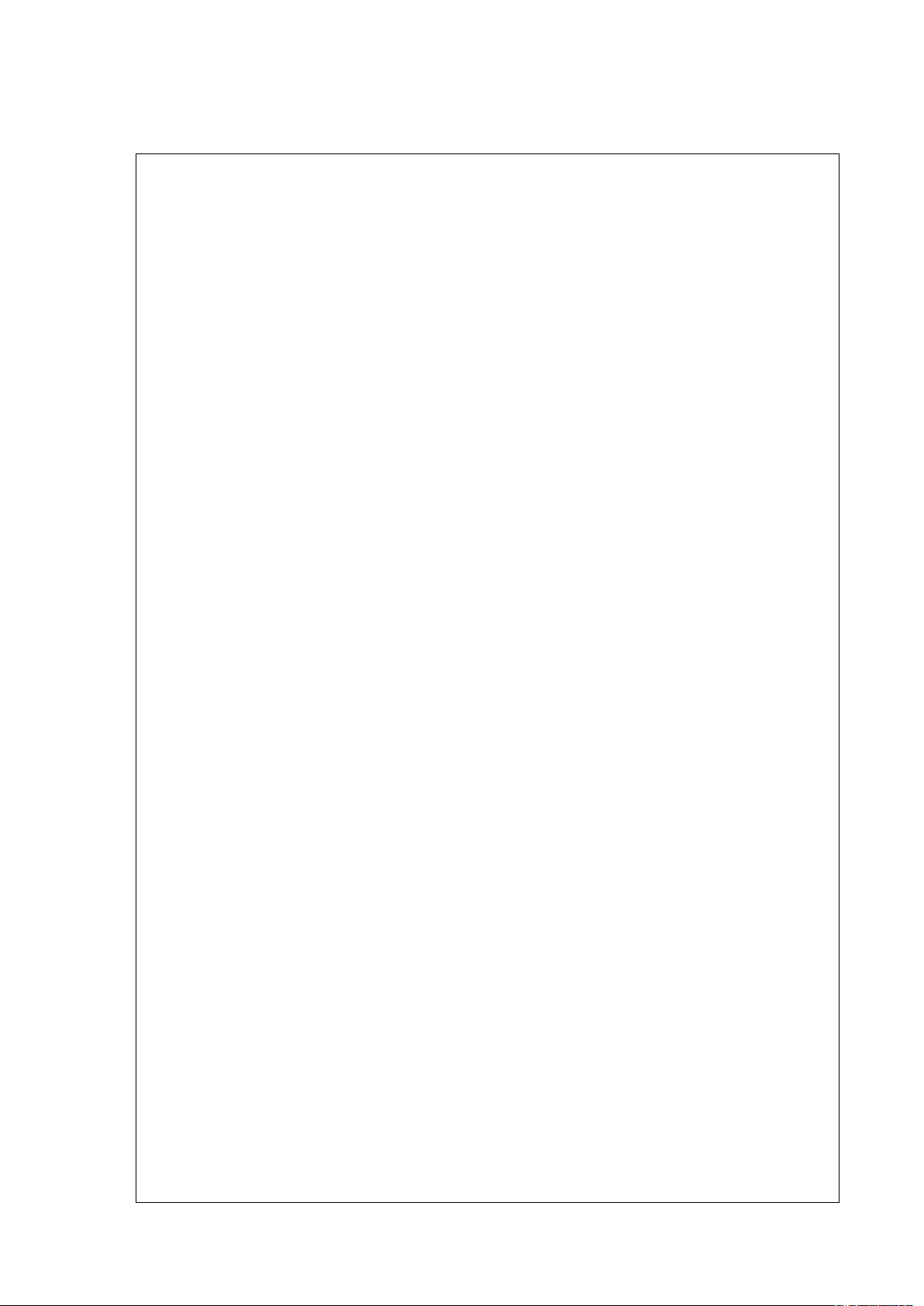









Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity
Os melhores documentos à venda: Trabalhos de alunos formados
Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade
Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.

Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Comunidade
Peça ajuda à comunidade e tire suas dúvidas relacionadas ao estudo
Descubra as melhores universidades em seu país de acordo com os usuários da Docsity
Guias grátis
Baixe gratuitamente nossos guias de estudo, métodos para diminuir a ansiedade, dicas de TCC preparadas pelos professores da Docsity
SOMENTEAULAS DE GEOGRAFIA 3 ANO
Tipologia: Exercícios
1 / 13

Esta página não é visível na pré-visualização
Não perca as partes importantes!
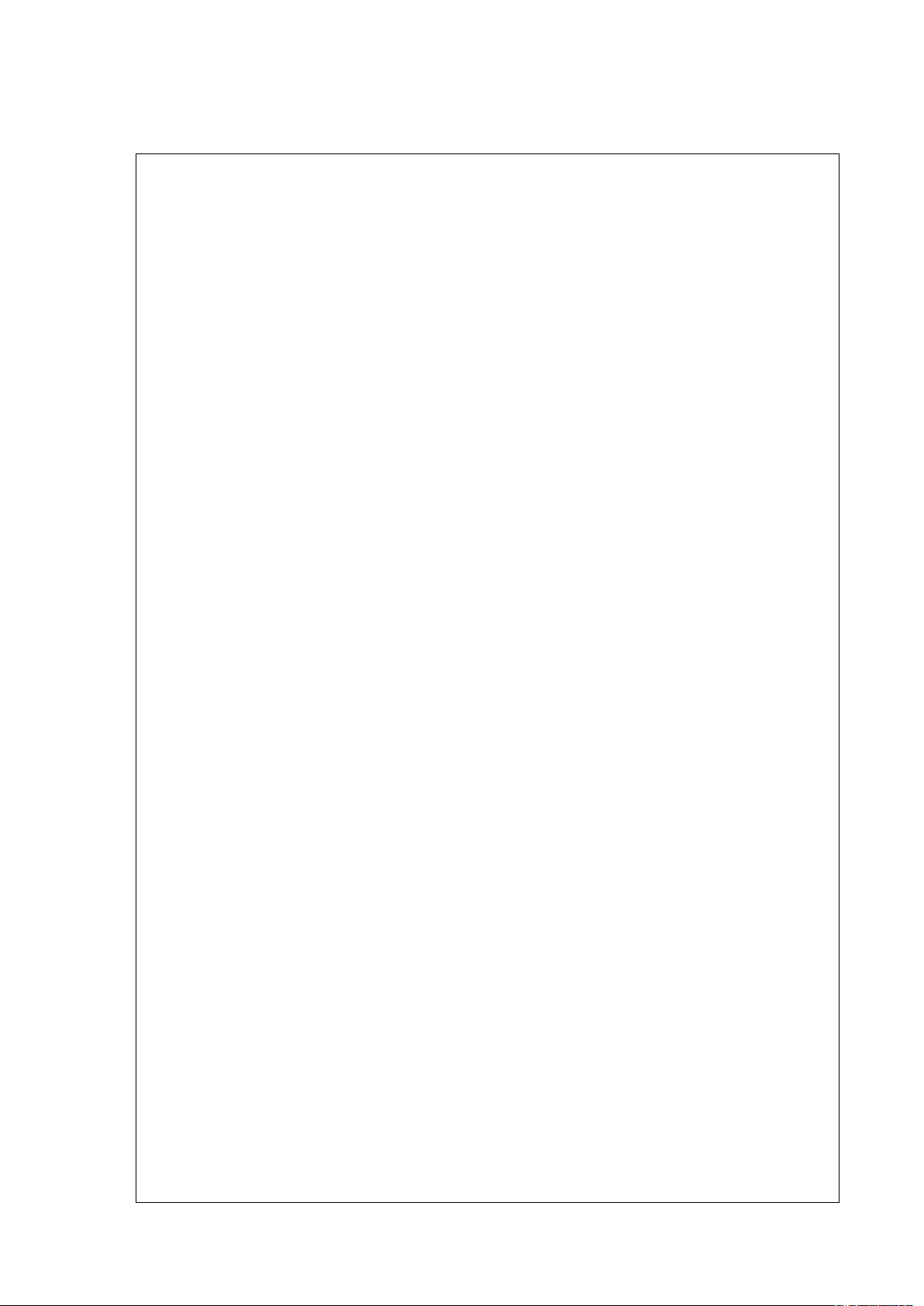







Índice Pág. 1.0. INTRODUÇÃO.................................................................................................................. 1 CAPITULO-II........................................................................................................................... 2 2.1. Comensalismo..................................................................................................................... 2 O comensalismo é uma relação entre espécies diferentes em que um organismo alimenta-se de restos de alimento deixados por outro................................................................................ 2 As relações ecológicas interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes e podem ocasionar ganho ou perda individual para um organismo. Como exemplos, podemos citar a competição, a herbivoria, a predação, mutualismo, parasitismo, comensalismo e inquilinismo............................................................................................................................ 2 O comensalismo é uma relação ecológica em que uma espécie é beneficiada, entretanto, a outra espécie não é prejudicada nem beneficiada. Geralmente, nessa interação entre organismos, um deles está tentando conseguir alimento........................................................ 2 2.2. Alguns exemplos de comensalismo................................................................................... 2 2.2.1. Urubu e o homem...................................................................................................... 2 Nessa relação entre urubu ou abutre e o homem, o comensal é o urubu, que se alimenta do desperdício dos homens, nos lixões das cidades. O homem é a espécie que mais gera desperdício de alimento, beneficiando o urubu nessa relação................................................ 2 2.2.2. Leão e a hiena........................................................................................................... 2 Os leões são grandes felinos e ferozes caçadores típicos das savanas africanas. Nessa relação, o comensal é a hiena, que fica à espreita dos leões, que geralmente andam em bandos, esperando que estes saiam para caçar e se alimentem, para que depois se aproveitem das carcaças deixadas pelos felinos...................................................................... 2 2.3. Qual e a relação entre ecossistema e bioma..................................................................... 2 2.4. Componentes de um ecossistema...................................................................................... 3 2.5. Importância da preservação............................................................................................. 3 2.5.1. Floresta tropical......................................................................................................... 3 2.5.2. Placas tectónicas....................................................................................................... 4 2.5.2. Conservação Ex Situ E In Situ.................................................................................. 6
O comensalismo é uma relação entre espécies diferentes em que um organismo alimenta-se de restos de alimento deixados por outro. As relações ecológicas interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes e podem ocasionar ganho ou perda individual para um organismo. Como exemplos, podemos citar a competição, a herbivoria, a predação, mutualismo, parasitismo, comensalismo e inquilinismo. O comensalismo é uma relação ecológica em que uma espécie é beneficiada, entretanto, a outra espécie não é prejudicada nem beneficiada. Geralmente, nessa interacção entre organismos, um deles está tentando conseguir alimento. Conservação ex situ é uma estratégia de preservação e recuperação de espécies vegetais e animais; envolve populações não-naturais, como plantas cultivadas em estufas e sementeiras, e animais criados em cativeiro ou aquários (Wikipédia, enciclopédia livre). Conservação in situ são estratégias de conservação de ecossistemas e habitats naturais e de manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características (inciso VII, art. 2º, SNUC).. .
2.1. Comensalismo O comensalismo é uma relação entre espécies diferentes em que um organismo alimenta-se de restos de alimento deixados por outro. As relações ecológicas interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes e podem ocasionar ganho ou perda individual para um organismo. Como exemplos, podemos citar a competição, a herbivoria, a predação, mutualismo, parasitismo, comensalismo e inquilinismo. O comensalismo é uma relação ecológica em que uma espécie é beneficiada, entretanto, a outra espécie não é prejudicada nem beneficiada. Geralmente, nessa interação entre organismos, um deles está tentando conseguir alimento. 2.2. Alguns exemplos de comensalismo 2.2.1. Urubu e o homem Nessa relação entre urubu ou abutre e o homem, o comensal é o urubu, que se alimenta do desperdício dos homens, nos lixões das cidades. O homem é a espécie que mais gera desperdício de alimento, beneficiando o urubu nessa relação. 2.2.2. Leão e a hiena Os leões são grandes felinos e ferozes caçadores típicos das savanas africanas. Nessa relação, o comensal é a hiena, que fica à espreita dos leões, que geralmente andam em bandos, esperando que estes saiam para caçar e se alimentem, para que depois se aproveitem das carcaças deixadas pelos felinos. 2.3. Qual e a relação entre ecossistema e bioma Ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1935 pelo ecólogo Arthur George Tansley. Desde então, faz parte do vocabulário da comunidade científica e da sociedade.
processo que chamamos de lixiviação, tornando esses nutrientes inacessíveis para a planta, o que reduz sua fertilidade. Além disso, a terra que sai da erosão é levada para o fundo dos rios, provocando assoreamento e facilitando o seu transbordamento, o que provoca as inundações 2.5.2. Placas tectónicas A Terra é divida em camadas até seu interior. A camada mais externa, chamada de litosfera, rígida e resistente, é fragmentada em placas que deslizam, colidem, convergem ou se separam à medida que se movem sobre a astenosfera, camada dúctil do manto que ocorre depois da litosfera. Novas placas são criadas onde elas se separam, e recicladas onde convergem, em um processo contínuo de criação e destruição. Os continentes, que estão encravados na litosfera, migram junto com as placas que estão em movimento. Essa é a teoria da Tectónica de Placas, que descreve e examina o movimento das placas tectónicas e as forças actuantes entre elas, através de sua relação com o sistema de convecção do manto. A distribuição geográfica das principais placas tectónicas é ilustrada na figura 1, e são as placas: Africana, da Antártida, Arábica, Australiana, dos Cocos, do Caribe, de Scotia, Eurasiática, Indiana, Juan de Fuca, do Pacífico, das Filipinas, de Nazca, Norte-Americana, e Sul-Americana. A constatação da existência das placas tectónicas também trouxe a comprovação que faltava para a antiga teoria da Deriva Continental, explicando também a distribuição de muitas feições geológicas de grandes proporções que resultaram do movimento ao longo dos limites de placas, como cadeias de montanhas, associações de rochas, estruturas do fundo do mar, vulcões e terramotos. A hipótese da expansão do assoalho oceânico, por volta dos anos 1950, explicou como os continentes poderiam separar-se, através da criação de uma nova litosfera pelos riftes mesoceânicos. As evidências surgiram com as intensas explorações do fundo oceânico, do mapeamento da Dorsal Meso-Atlântica submarina e a descoberta do vale profundo na forma de fenda (ou riftes), estendendo-se ao longo do centro do oceano. O movimento contínuo das correntes de convecção produziria a expansão do assoalho oceânico, onde a ascensão do material do manto através da dorsal meso-atlântica, ao atingir a superfície, formaria lateralmente uma nova litosfera, e o fundo oceânico se afastaria da dorsal.
Os limites divergentes são representados pelas dorsais meso-oceânicas, onde as placas se afastam horizontalmente uma da outra, com formação de nova crosta oceânica. O principal exemplo deste limite é o Oceano Atlântico, com a Dorsal Meso-Atlântica. Os limites são convergentes quando as placas colidem, com a mais densa mergulhando sobre a outra, ocorrendo uma fusão parcial da crosta que mergulhou (a área da placa diminui). Os limites convergentes podem ser: Convergência oceano-oceano: se as duas placas envolvidas são oceânicas, uma desce abaixo da outra em um processo conhecido como subducção. A litosfera oceânica da placa que está em subducção afunda na astenosfera e é por fim reciclada pelo sistema de convecção do manto. Este processo produz um limite de placas marcado por uma cadeia de vulcões, conhecido como “círculo de fogo “ou “arco de ilhas”. Convergência oceano-continente: se uma placa tem uma borda continental, ela cavalga a placa oceânica, porque a crosta continental é mais leve e subduz mais facilmente que a crosta oceânica. A borda continental fica enrugada e soergue num cinturão de montanhas, paralela à fossa de mar profundo. As enormes forças de colisão e subducção produzem grandes terramotos ao longo desse limite. A costa oeste da América do Sul, onde a Placa Sul-Americana colide com a Placa de Nazca (oceânica), é uma zona de subducção desse tipo. A cordilheira dos Andes eleva-se no lado continental do limite, com vulcões activos, e terramotos de grande escala. Convergência continente-continente: quando duas placas continentais colidem. Nesse limite, ocorrem terremotos violentos na crosta que está sofrendo enrugamento. O melhor exemplo para este tipo de convergência é a colisão das placas Indiana e Eurasiática. A Placa Eurasiática cavalga a Placa Indiana, mas a Índia e a Ásia mantêm-se flutuantes, criando uma espessura dupla da crosta e formando a cordilheira de montanhas mais alta do mundo, o Himalaia e o Planalto do Tibete. O limite transformante ocorre onde as placas deslizam horizontalmente uma em relação à outra, e a litosfera não é criada nem destruída. Esses limites são causados por falhas transformantes, que são fracturas ao longo das quais ocorre um deslocamento relativo à medida que o deslizamento horizontal acontece entre blocos adjacentes. Os limites de falhas transformantes são tipicamente encontrados ao longo de dorsais mesoceânicas, onde o limite divergente tem sua continuidade quebrada, sendo deslocado num padrão semelhante a um
espécie. O zoológico recebeu recintos exclusivos para os papagaios-da-cara-roxa e a SPVS trabalha para mudar o status de extinção dessa espécie. 2.6. Regiões faunísticas da Terra A separação dos continentes por grandes massas de água e a existência de rios desertos e cordilheiras nas terras continentais são barreiras que impedem ou dificultam a dispersão das espécies a grandes distâncias. Os diversos biomas da Terra, cada um com um clima característico, constituem outro fator que limita a sobrevivência de espécies não adaptadas às condições oferecidas por uma determinada região. Dessa maneira as espécies tendem a estabelece-se em determinadas áreas, compatíveis com seu equipamento adaptativo, permitindo assim o surgimento de regiões faunísticas que pode ser reconhecida de acordo com os animais que abrigam. 2.6.1. Região neártica Localiza-se na America do Norte, desde o Norte do México até a Groelândia. Os principais animais desta região são: bois almiscarados, lemingues, caribus, cabras, coiotes, gambás, bisões, furões, linces, lebres, aves diversas ( falcões, cotovias, corujas e outras), inúmeros repteis, etc. 2.6.2. Região paleártica Está localizada na Europa, na Ásia e no Norte da África. Entre os mamíferos destacam-se os bisões, javalis, cabras, ursos, toupeiras, esquilos, porcos espinhos, macacos, veados e etc. Abriga também aves diversas (rouxinóis, pica-paus, cucos e outras) além de muitos répteis. Região etiópica Situa-se na África e em parte da Ásia. Abriga animais como elefantes, gorilas, hipopótamos, chimpanzés, leões, búfalos, girafas, zebras, antílopes, hienas, rinocerontes, avestruzes, etc. 2.6.3. Região australiana Abrange a Austrália e as Ilhas do Pacífico. Os animais típicos dessa região são ornitorrincos, équidnas, pássaros-liras, marsupiais (como cangurus e coalas), quivis, tuataras, (um tipo de lagarto), et 2.6.4. Regios Sul de Mocambique algumas zonas de consevacao faunísticas Parque Nacional do Banhine (Gaza, 7.000 km²)
Parque Nacional do Bazaruto (Inhambane, 1.600 km²) Parque Nacional do Limpopo (Gaza, 10.000 km²) Parque Nacional do Zinave (Inhambane, 6.000 km²) Reserva Especial de Maputo (Maputo, 700 km²) Reserva de Pomene (Inhambane, 200 km²) Reserva Nacional de Malhazine Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro (Maputo,[2] 678 km²) Reserva Biológica de Inhaca Zona de Protecção Total de Cabo de São Sebastião Área de Protecção Ambiental das Ilhas Primeiras e Segundas 2.6.5. Parque Nacional do Bazaruto O Parque Nacional do Bazaruto foi a primeira área de conservação marinha de Moçambique. Foi criado em 1971, pelo Diploma Legislativo nº 46/71 de 25 de Maio, abrangendo as ilhas Benguérua, Magaruque e Bangué, com uma área total de 80 km². As ilhas Bazaruto e Santa Carolina tinham o estatuto de “Áreas de Vigilância Especial”. Em 2001, pelo Decreto nº 39/2001 de 27 de Novembro, o Parque Nacional do Bazaruto foi alargado, passando a englobar as cinco ilhas e recebendo a nova denominação de Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto, com uma área total de 1430 km². Os limites do parque são referenciados pelos paralelos 21º 27’ 30’’ S e 22º 02º 55’’ S 3 pelos meridianos 35º 14’ 01’’ E e 35º 32’ 30’’ E. No Parque Nacional do Bazaruto podem encontrar-se cerca de 164 espécies de aves, algumas muito raras 2.6.6. Parque Nacional do Limpopo O Parque Nacional do Limpopo é uma área protegida de Moçambique. Localizada na província de Gaza, foi estabelecido a 27 de Novembro de 2001 , mudando assim o estatuto e dimensões da antiga “Coutada 16”, uma área de caça adjacente ao rio Limpopo. Sua implantação foi realizada em parceria entre o governo moçambicano e a Peace Parks Foundation.[1] Juntamente com o Parque Nacional Kruger, na África do Sul e o Parque Nacional Gonarezhou, no Zimbabwe, forma o Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo.[2]^ Sozinho, ele ocupa uma área de aproximadamente 10.000 km^2 .[3]
4 .0. Referencias Bibliografia