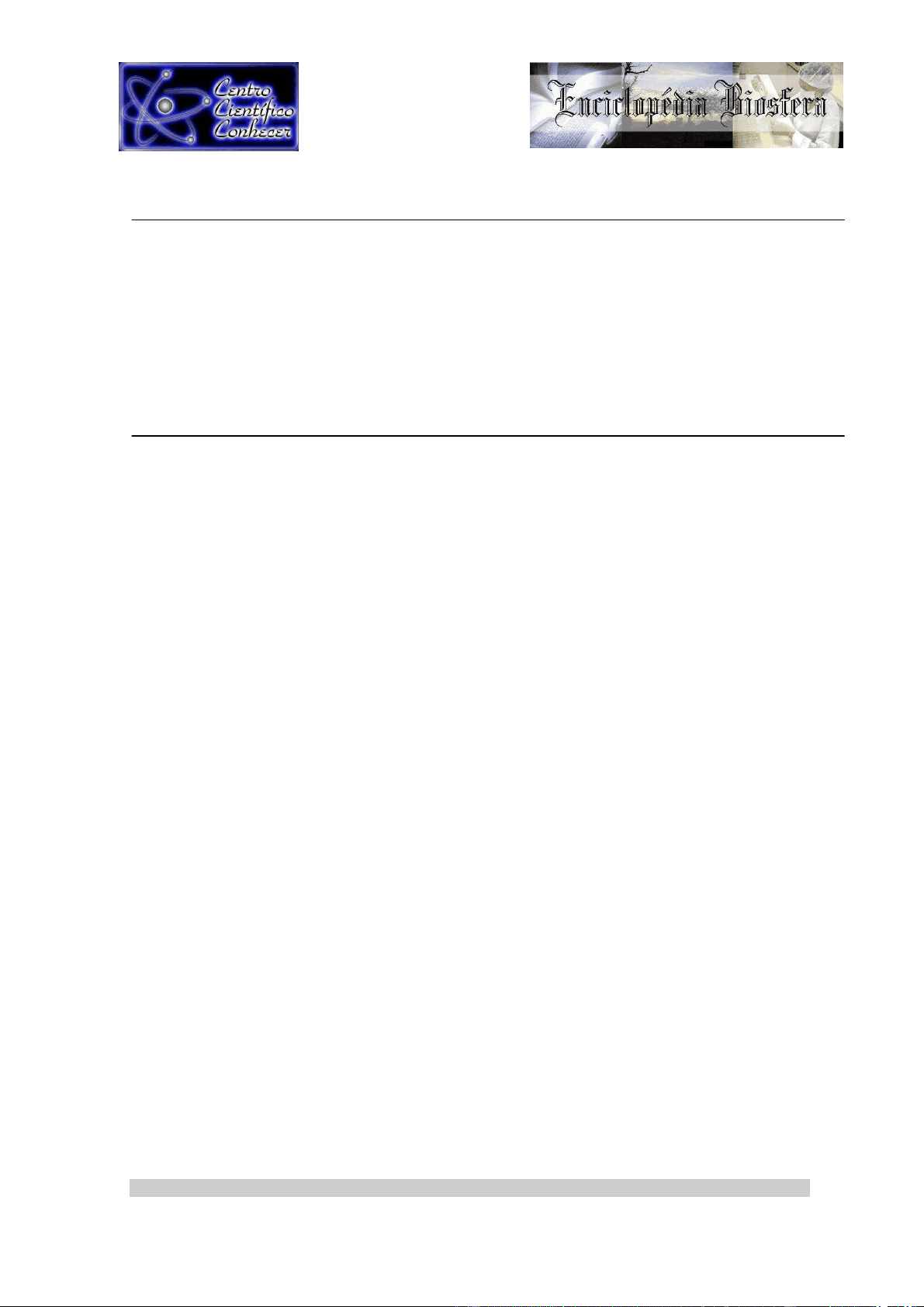


















Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity
Os melhores documentos à venda: Trabalhos de alunos formados
Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade
Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.

Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Comunidade
Peça ajuda à comunidade e tire suas dúvidas relacionadas ao estudo
Descubra as melhores universidades em seu país de acordo com os usuários da Docsity
Guias grátis
Baixe gratuitamente nossos guias de estudo, métodos para diminuir a ansiedade, dicas de TCC preparadas pelos professores da Docsity
Educação, Formação Humana Integral, Mercado e Fragmentação do Conhecimento
Tipologia: Notas de estudo
1 / 24

Esta página não é visível na pré-visualização
Não perca as partes importantes!
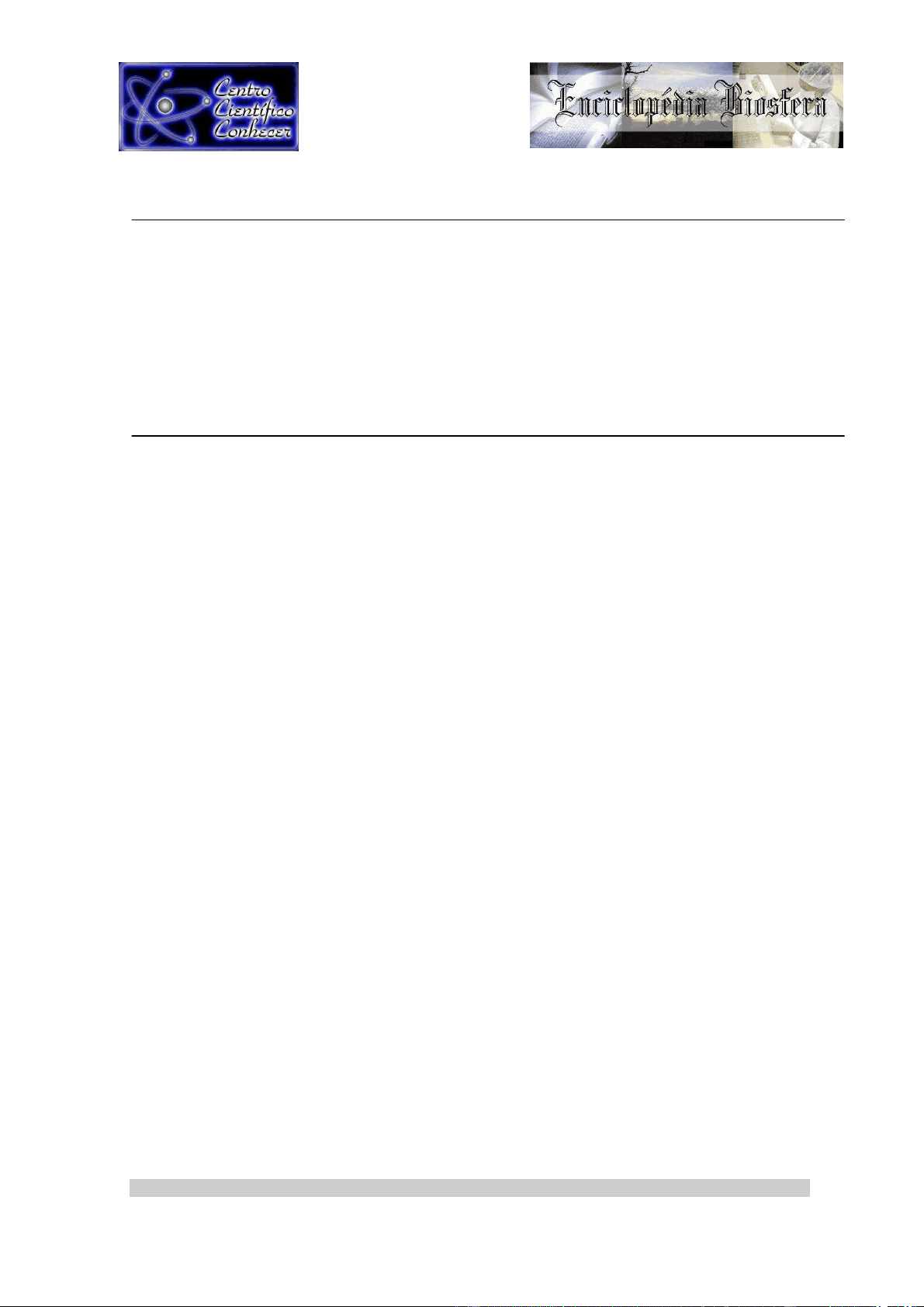
















Fábio Borges de Oliveira
Licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Goiás e Especialista em Educação pela Faculdade Integrada do Grupo Grande Fortaleza; Técnico Administrativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano- Câmpus Urutaí
Recebido em: 12/04/2014 – Aprovado em: 27/05/2014 – Publicado em: 01/07/
RESUMO A Educação é o processo de assimilação, construção e a disseminação do conhecimento desde as sociedades tribais até às mais avançadas civilizações humanas. Como forma de transcender a cultura e despertar a criação, o homem vem se organizando através da prática educativa desde tempos bastante remotos. Nos processos históricos, as práticas e os conteúdos desenvolvidos e incorporados fizeram parte de diversos tipos de civilizações, desde as mais primárias às mais complexas, criando um universo de concepções. Herdamos da civilização grega as raízes do nosso modelo de educação e como responsável pelo seu desenvolvimento e o buscando em função da compreensão global do espaço humano, historicamente houveram exemplos de superação, mas houveram também exemplos de limitação e dentro do contexto de definição de um modelo eficiente se pensou metodologias e modos de se chegar a um consenso de qual a melhor educação. Como modelo capacitante para os indivíduos no estímulo à produtividade, a expansão do ensino se deu globalmente e os propósitos e objetivos foram direcionados por políticas de concentração, sob a evolução tecnológica, se deu a fragmentação do conhecimento e a educação para a vida se transformou em mera preparação para o mercado com metodologias desconexas ao desenvolvimento integral. PALAVRAS-CHAVE: Instrução, influências, preparação, sociedades.
EDUCATION, TRAINING INTEGRAL HUMAN, MERCHANTABILITY AND FRAGMENTATION OF KNOWLEDGE
ABSTRACT Education is the process of assimilation, construction and dissemination of knowledge from tribal societies to the most advanced forms of human civilization. As a way of transcending culture and awaken the creation, man has been organized by educational practice since time quite remote. Historical processes, ways of educating and developed and embedded contents were part of various types of civilizations, from the most elementary to the most complex, creating a universe of ideas. Inherited from Greek civilization roots of our education model and as responsible for their development and function in seeking global understanding of human space, historically there have been examples of overcoming, but there were also examples
of limitation and within the context of defining an efficient model was thought methodologies and ways of reaching a consensus on what the best education. As a model for enabling individuals to stimulate productivity, expansion of education occurred globally and the aims and objectives were targeted by political concentration on the technological evolution, took the fragmentation of knowledge and education for life became mere preparation for the market with the complete development methodologies disconnected. KEYWORDS: Companies, education, influences, preparation.
INTRODUÇÃO A Educação existe desde as sociedades tribais, em tempos remotos, talvez impossíveis de serem precisamente estudados. Desde quando o homem desenvolveu suas primeiras habilidades ao manejar objetos e confeccionar suas ferramentas mais primitivas, talvez desde antes que qualquer achado arqueológico possa mostrar. Ao que tudo indica, as primeiras formas de educação existentes já tinham como objetivo a socialização das pessoas e de alguma maneira profissionalizá-las (ARANHA , 2006). Registros de sociedades muito antigas trás evidências de formas de educação que eram praticadas em tribos primitivas onde a transmissão do conhecimento se dava sob a observação das práticas e provavelmente também sob instruções orais. Até que então, em um cronograma evidente, vestígios das primeiras civilizações mostram como forma de se organizar, anotações gravadas em objetos confeccionados para esse fim em sociedades mais complexas que deram origem à escrita (ARANHA , 2006). Resquícios mais antigos os quais registram o aparecimento das primeiras cidades foram até o momento encontrados na África, no Oriente Médio e no continente asiático, região da Índia e China, trazendo achados sobre a Mesopotâmia, a Cidade de Ur, de Canaã, de Xi'an, civilizações do Antigo Egito e até da Mesoamérica. De alguma forma, o surgimento da escrita está ligado ao aparecimento das primeiras cidades, da necessidade de organizar o comércio e a vida social nas sociedades mais complexas (ARANHA , 2006). No continente Sulamericano tem-se registros que evidenciam também a educação tribal com as primeiras grafias em paredes de cavernas, estimadas de dezenas de milhares de anos atrás e ainda achados de percursores da escrita relativas às antigas civilizações na região do continente onde hoje se encontra o Perú, o México e onde se localiza a América Central. Sobre o Brasil há estudos antropológicos que mostram que habitantes antigos também se organizavam de forma bastante eficiente sob as bases de uma educação tribal (ARANHA , 2006). Quando os europeus chegaram, haviam várias nações indígenas com suas culturas variadas e evidências arqueológicas mais recentes mostram que há pelo menos 50 mil anos atrás o homem já estava presente no continente americano. Estudos disponíveis na base de dados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) apresentam achados arqueológicos na Serra da Capivara, no Estado do Piauí, os quais contrariam a teoria de que os humanos só chegaram ao novo continente há 12 ou 10 mil anos e civilizações avançadas como as egípticas e outras do velho continente se levantaram na Mesoamérica, como é o caso dos Maias há quase três mil anos atrás (ARANHA , 2006). O fato é que quando os exploradores aqui chegaram impulsionados pelo
invasão do que em retratar a cultura desses povos os quais por estes eram julgados inferiores. Tais relatos deram bases para que fossem considerados povos mais evoluídos apenas aqueles das civilizações aqui encontradas equiparadas às europeias e até aos dias atuais, apenas são tidos como evoluídos os povos Astecas, Incas e Maias (OLIVEIRA, 2011). De acordo com OLIVEIRA (2011), a história construída pelos europeus do século XVI sobre as civilizacões pré-colombianas e que tem permanecido até os dias atuais, inclusive nos livros didáticos, tem sido desconstruída por pesquisas desenvolvidas no âmbito da etnohistória. Pesquisas essas que tem demonstrado que civilizações como os Incas não eram tão parecidas com as antigas civilizações europeias ou africanas da antiguidade como queriam os cronistas que contribuíram para escrever a história de acordo com o que lhes convinha. Desconstruindo a cultura dos povos que aqui sobreviveram à invasão, os colonizadores implantaram escolas que por aproximadamente 200 anos seguiram a linha catecista, onde esses povos eram aculturados de acordo com os costumes cristãos, instruídos na leitura e na escrita apenas o suficiente para absorver os ensinamentos religiosos europeus. Seguiam o padrão europeu da época com uma educação clássica e humanística para a elite colonizadora e o catecismo para os indígenas. Para OLIVEIRA (2004),
Sem a concorrência do protestantismo e com as injunções políticas e econômicas da condição colonial, a educação jesuítica reproduziu no Brasil o espírito da Idade Média, com o aprisionamento do homem ao dogma da tradição escolástica, a sua submissão à autoridade e à rígida ordenação social, avesso ao livre exame e à experimentação. Em contraste, portanto, ao homem de livre-pensamento, de visão igualitária e espírito associativo, confiante no conhecimento como instrumento de transformação do mundo natural. p. 946
Os colonizadores prosseguiram com a aculturação desses povos através da catequese aniquilando os filhos de colonos, meninos índios e os órfãos dissolvendo os costumes que não fossem europeus. Até que em 1759 a Companhia de Jesus foi expulsa do Brasil pelas reformas do Marquês de Pombal mudando os rumos da educação na colônia. Antes, nem mesmo em Portugal haviam grandes interesses pelo ensino superior e poucos eram também os que deixavam estas terras para cursar faculdade no continente europeu. Afinal, anterior à Reforma Pombalina, o iluminismo ainda não tivera chegado em Portugal (OLIVEIRA (2004) No Brasil, o iluminismo estava ainda mais distante, pois após à reforma em Portugal ainda levaram 13 anos para que se providenciasse a substituição dos jesuítas na colônia. Com o desmantelamento da estrutura de ensino jesuítico, o Estado não foi capaz de estruturar com eficiência um novo modelo o qual propunha a Reforma Pombalina e ainda permaneceu, em parte, dependente do modelo jesuítico o qual contribuiu para a formação dos novos mestres-escolas e perpetuou de alguma forma os mesmos objetivos, os mesmos métodos, a permanência do apelo à autoridade e à disciplina; o combate à originalidade, à iniciativa e à criação individual (OLIVEIRA, 2004) Nesse cenário de estruturação da educação brasileira, só após 1808, com a chegada da família real portuguesa foi que surgiram essencialmente alguns avanços, quando foram criados o Museu Real, a Biblioteca Pública, o Jardim
Botânico, a Imprensa Régia e logo surgiram os primeiros cursos superiores (OLIVEIRA, 2004).
A EDUCAÇÃO SUPERIOR A vinda de D. João VI para o Brasil fez surgir mudanças culturais importantes, mas os cursos superiores aqui implantados eram ministrados em aulas avulsas e com um sentido profissional prático. Formavam engenheiros civis e preparavam para a carreira das armas. O embrião das primeiras faculdades de medicina surgiu com os cursos médicos-cirúrgicos no Rio de Janeiro e na Bahia, mas o período joanino ficou reduzido a poucas escolas e às aulas régias (OLIVEIRA, 2004). A partir de D. Pedro I foram criadas as faculdades de direito de São Paulo e Recife as quais passaram a formar os futuros funcionários do governo, os letrados de cargos administrativos e políticos que preenchiam o quadro funcional do Estado. Com a descentralização administrativa sob o Ato Adicional do Imperador em 1834, as províncias ficaram delegadas a incumbência de regulamentar e promover a educação primária e média e ao poder central ficou reservado o direito de promover e regulamentar a educação no Rio de Janeiro e a educação de nível superior em todo o império (OLIVEIRA, 2004). A educação primária e média a cargo das províncias foi um verdadeiro fracasso e seus vícios parecem perpetuar. No final do império haviam poucas escolas primárias e 85 % da população era analfabeta. De acordo com OLIVEIRA (2004) :
Com o ensino secundário destinado a preparar candidatos ao ensino superior, o seu conteúdo acabou por ganhar um caráter propedêutico. Nas províncias, o sistema escolar não passou da tentativa de reunião das antigas aulas régias em liceus, de forma desorganizada. Motivo: um falho sistema tributário e a conseqüente falta de recursos. No vazio do Estado, boa parte do ensino secundário ficou a cargo da iniciativa privada (principalmente religiosa) e o ensino primário foi relegado ao abandono, sobrevivendo pelo sacrifício de alguns mestres-escolas, que destituídos de habilitação profissional, só encontravam emprego na educação. p 948.
Passado o período imperial e já nos tempos da república surgiram mais cursos superiores e foram implantados os cursos profissionalizantes de ensino médio, mas algumas reformas estruturais de idealistas como Benjamin Constant foram frustradas e pouco se avançou até meados do século XX. Foi a partir dos anos 1930 com a ideologia da Nova Escola a qual vinha da corrente positivista e defendia o ensino laico e a escola pública para todos que se deram as maiores revoluções na educação brasileira. Mas sobre o Estado Laico, não se pôde lhe garantir grandes avanços, uma vez que o poder político da igreja se reacende e fica estabelecida a volta do ensino religioso nas escolas depois de 40 anos sem essa disciplina voltando às características de modelo conservador. O fato é que as demandas sociais pediram uma progressiva organização do sistema educacional brasileiro e a maior expressão dessas demandas durante a velha república foram os escola-novistas (OLIVEIRA, 2004). Outro momento importante para a educação brasileira foi aquele de crítica e
social estabelecida. Os revolucionários que rebaixaram a aristocracia e desmoralizaram a Igreja, teriam então a ciência constituída como uma prática técnica que os ajudaria a ter autoridade diante dos questionamentos políticos. Era a apresentação de uma verdade inquestionável, porque os fenômenos poderiam ser comprovados na prática através das técnicas, da experiência. FERNANDES (2009) abordando o assunto, destaca:
Se compararmos a evolução paralela do direito, da economia política e do positivismo, no final do século XVIII a meados do século XIX, percebemos que pela transformação do conceito de lei natural a burguesia deixa de figurar como uma classe revolucionária para assumir sua vocação de manutenção da ordem e do poder. p 5.
O poder da burguesia se consolida então com a justificativa de que as coisas aconteciam pela ordem natural e a ciência positivista é a testemunha chave para o fenômeno social ascendente. A maior influência do positivismo na Educação se deu porque esta amparou a industrialização e a industrialização necessitou de especialização profissional a qual fez nascer a fragmentação do conhecimento. Sobre essa influência, (FERNANDES, 2009) escreveu:
A propagação do positivismo na educação se deve, em muito, à disseminação do sucesso na aplicação prática de princípios científicos que visam a produção de novas tecnologias. A industrialização, amparada pelas conquistas da ciência positiva, favoreceu o fortalecimento político e militar das nações, exportando assim um modelo de sucesso prático para todos os campos do saber, inclusive na educação. p 8.
A Revolução Industrial se deu sob uma especialização muito grande dos profissionais envolvidos no processo. Foram treinados para que cada um fizesse a sua parte na produção e não se preocupassem mais com a arte final, como aconteciam com os artistas dos períodos anteriores às linhas de produção, porque, afinal, o que importa ao novo modelo é a produtividade e o crescimento da escala de produção. Portanto, não há tempo para que os especialistas se instruam para um todo, inclusive para que possam entender toda a finalidade. Para o conjunto final dos produtos há também um especialista: o engenheiro (MUNHOZ at al., 2013) No Brasil, como primeiro modelo de escola positivista surgiu a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, fundada ainda no período do império. Abordando o assunto, FERNANDES (2009) escreve:
A herança da ideologia burguesa fora assimilada pelos militares republicanos do século XIX no Brasil. A educação torna-se, neste cenário, um instrumental da difusão dos conceitos de ordem e progresso. Disciplinas progressivamente organizadas, segmentadas de modo instrumental, são as evidências mais marcantes do positivismo na educação. p 8.
Uma educação para o progresso industrial precisa seguir os padrões produtivistas e por isso a ideologia positivista teve tamanha importância para os
rumos da educação nos países que implantaram as políticas desenvolvimentistas. Obviamente, os problemas sociais se acumularam, pois se sabe que a ciência positivista, mecânica e de pretensão naturalista não encaixa nas dinâmicas sociais, as quais não podem ser estudadas por padrões matemáticos, prováveis por ensaios experimentais (FERNANDES, 2009). Criticando o modelo de educação inspirado na ideologia positivista e seu produtivismo, FERNANDES (2009) enfatiza:
Por mais que saibamos que o método positivista seja produtivo, nos perguntamos se a “produtividade” merece ser o critério de dosimetria da qualidade do ensino. Neste sentido devemos observar criticamente o positivismo educacional sem perder de vista que se trata de um movimento que se pretende neutro ao mesmo tempo em que esconde uma grande carga ideológica. P 8.
É notório nas grades disciplinares dos cursos profissionalizantes a tendência ideológica que leva ao produtivismo. O modelo tecnicista formador de mão de obra para as indústrias prevalece sobre os cursos tecnológicos instruindo os cidadãos de acordo com políticas direcionadas para um modelo economicista e desenvolvimentista e não para a construção de cidadãos com conhecimentos políticos e consciência global, como deveria ser. Ao contrário, cria-se cidadãos desvinculados de uma visão abrangente além das técnicas de produção e incapazes de se localizarem em um mundo onde se produz muitas riquezas sem propósitos de justiça social, mas sim para a mera concentração da classe dominante. (MORIN, 2003; FERNANDES, 2009 e GOMIDE at al., 2012).
A GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA, A PRIVATIZAÇÃO DO ENSINO E A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES Como vimos até aqui, o modelo de educação herdado da ideologia positivista e destinado a atender aos anseios políticos de grupos dominantes dentro de uma lógica produtivista trouxe a fragmentação do conhecimento nas universidades e, como veremos a seguir, as pesquisas seguiram os propósitos desse modelo. Como já abordado, com a Revolução Industrial a especialização se tornou fundamental nos processos educativos e o Ensino Profissionalizante seguiu tal orientação. O aumento constante na produção de bens industrializados passou a ser a meta das nações mais desenvolvidas, pois havia uma enorme demanda sendo criada pelo mundo afora e para a economia dos países onde o modelo se avançara era de extrema importância estimular e estruturar os processos para atender tais demandas. E aí então a educação deveria cumprir com eficácia o papel de capacitar intelectualmente os profissionais que a indústria precisara (BORGES 2010). Na primeira metade do século XVIII a educação não era para todos e não se via a necessidade de instruir os trabalhadores na Europa, porque o modo de produção, ainda de acumulação primitiva, não exigia tal qualificação para a época. Foi devido à revolução industrial, com a concentração das pessoas nas cidades em decorrência da expropriação dos trabalhadores rurais que se viu a necessidade de dar um mínimo de instrução possível a esses cidadãos, pois precisavam aprender a se comunicarem em uma língua comum e ter noções básicas de matemática para pelo menos saber contar dinheiro (BORGES, 2010).
influenciaram fortemente para que a educação tomasse tal direção. SGUISSARDI (2005), comentando documentos do Banco Mundial sobre educação e o debate sobre a importância do conhecimento como um bem social, enfatiza que:
Correta ou não, esta tese – que desconsidera o fato geralmente aceito de que o conhecimento (objeto principal do ensino superior) é um bem público global – tem servido de complemento e reforço à tese do menor retorno social da educação superior com relação à educação básica e fortalecido as políticas públicas conducentes à significativa deserção do Estado da manutenção dos sistemas públicos de educação superior, ao incentivo à proliferação das instituições privadas, com e sem fins lucrativos, em geral de baixa qualidade, e à própria semiprivatização da universidade pública por diferentes mecanismos de utilização privada das funções e dos produtos dessas instituições, via, por exemplo, no caso do Brasil, as centenas de fundações (privadas) de apoio institucional. p 202.
Nesse cenário fica evidente que a globalização econômica no sistema de ensino com a aquisição de instituições por grupos de capital internacionalizado tem refletido no modelo de ensino superior o qual tem se voltado para uma educação que segue os padrões de instrução apenas para atender ao mercado. Sobre debate em curso na Organização Mundial do Comércio/Acordo Geral de Tarifas e Comércio (OMC/GATT), OLIVEIRA (2009) comenta que se aprovados os acordos em relação à conceituação da educação como um bem de serviço, “ter- se-ia, além da ampliação da mercantilização na área, a internacionalização da oferta, com a penetração de grandes corporações multinacionais em países menos desenvolvidos.” p 740. E, continuando o autor escreve que “mesmo sem a aprovação de tais acordos, a educação tem se transformado, crescentemente, em mercadoria.” p 740. Prosseguindo com sua discussão sobre a transformação da educação em mercadoria, adiante, o autor acaba por concluir que a internacionalização e a mercantilização da educação aconteceu quando afirma: “Esse conjunto de elementos criou um próspero e afluente mercado, cuja faceta mais importante refere-se à penetração do capital financeiro na educação e a consequente internacionalização da oferta educacional.” (OLIVEIRA, 2009), p 742. E como já foi abordado, a falta de recursos e a desatenção do Estado para/com a educação fortaleceu a privatização do ensino, sabe-se também que o proposital interesse capitalista trás reflexos para a pesquisa e a construção do conhecimento uma vez que o direcionamento das pesquisas será no sentido de atender especificamente aos interesses de quem as financiam.
OS REFLEXOS DA MERCANTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DOS CIDADÃOS A educação para formar capital humano, como conceitua MENEZES-FILHO (2001), é o modelo que atende ao mercado e não tem o objetivo de formar cidadãos para a solução de problemas complexos ou compreender contextos globais, mas sim especializá-los para algum seguimento que atenda aos projetos desenvolvimentistas de interesses meramente econômicos. Como mercadoria, a instrução se faz em um ambiente competitivo onde a melhor especialização é o que
importa e o que atrai a atenção da iniciativa privada e também do Estado que acabou por acatar essa tendência. Se a especialização trará melhor retorno em relação ao maior desempenho na produção de bens ou serviços que atenda ao mercado, na perspectiva de analistas os quais definem as prioridades para os investimentos, essa será a melhor opção para o ensino. O nível de formação dentro desse modelo de educação é determinante para a remuneração do indivíduo e isso explica a grande importância dada pelo mercado à educação. MENEZES-FILHO (2001), apresenta uma análise deixando bastante clara essa importância:
Os números indicam que aqueles com ensino fundamental completo ganham em média três vezes mais que os analfabetos. Além disto, o retorno ao primeiro ano da faculdade (12 anos de estudo) também é bastante elevado, apresentando um ganho salarial de quase 150% com relação ao formado no ensino médio, o que significa um rendimento seis vezes maior que o rendimento médio dos analfabeto. Os indivíduos com ensino superior completo (15/16 anos de estudo) apresentam um rendimento salarial médio quase doze vezes superior ao grupo sem escolaridade e para aqueles com mestrado a diferença é 16 vezes. Não é de se estranhar portanto que a educação seja um dos principais determinantes da desigualdade de renda. p 23.
Diante do exposto, podemos raciocinar a partir da lógica do mercado regulado pela lei da oferta e procura e pensar um exemplo: se a tendência mercadológica determina que a medicina tem trazido mais retorno econômico aos profissionais desta área, a procura pelos cursos de medicina serão maiores e consequentemente os investimentos serão mais concentrados nas faculdades que fornecem tal formação. Da mesma forma acontece com os cursos de engenharia se a análise econômica (ou simplesmente a opção pessoal pela maior remuneração no mercado) apontar para estes. Continuando o raciocínio, não é difícil imaginar que dentro das perspectivas do mercado educacional centralizado em determinadas formações podem surgir dificuldades para realização de estudos abrangentes e possíveis impactos sociais futuros, uma vez que podem haver o surgimento de determinados desequilíbrios, até mesmo os mais previsíveis, como a saturação de profissionais de uma determinada área e a falta de profissionais de outras, quais seriam necessários para a realização de trabalhos mais complexos e abrangentes. Nesse entendimento, fica evidente que se a educação é voltada para atender apenas aos interesses mercadológicos, é provocada uma certa dificuldade de interação entre as áreas de conhecimento para estudar causas e origens de problemas sociais, estas impossíveis de serem estudadas por apenas um seguimento, justamente por causa do desequilíbrio na disponibilidade de profissionais diversificados. Seguindo o exemplo anterior imaginamos que os médicos não podem realizar sozinhos, com eficácia, uma pesquisa voltada para a área da geografia médica com o objetivo de localizar de onde vem os surtos de uma eventual doença e quais seus possíveis causadores no meio como um todo. Portanto, nesses casos é necessário um trabalho multidisciplinar, qual, é claro, não poderá ser realizado por apenas uma área do conhecimento. Criticando o modelo educacional servil unicamente aos interesses do
discurso do Banco. Nessa perspectiva, a tarefa fundamental da universidade consiste na realização da pesquisa, sobretudo, da investigação aplicada. Esta consiste numa alternativa para que a universidade adquira novas fontes de financiamento, através da realização de parcerias com o setor produtivo, pois a exploração dos resultados da investigação universitária pela indústria e outras empresas constitui uma fonte de recursos e possibilita ao Estado diminuir o seu papel financiador, principalmente, quando se trata de questões relacionadas ao financiamento da educação superior. p
Nesse sentido, enquanto o setor público reduz os recursos, a Universidade deve procurar atrair os investimentos das empresas e em troca direcionar as pesquisas de acordo com os interesses do setor privado, que as financia (OTRANTO, 2004). Reforçando esse entendimento, comentando um documento mais recente convocado à especialistas pelo Banco Mundial e a Organização das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), BORGES (2010) continua:
No sistema híbrido, diversificado e hierarquizado de educação superior, presente no discurso do Banco Mundial-Unesco, à instituição universitária cabe o papel de formação integral e, principalmente, a tarefa da investigação. Esta passa a ser requerida no mundo globalizado e baseado no conhecimento, mas sofre reformulações, pois o que interessa é a possibilidade de exploração dos resultados da pesquisa pelo setor produtivo. p 373.
Então, se o documento mais novo reconhece que o papel da Universidade é o da formação integral, sofre reformulações no sentido de atender melhor ao setor produtivo. Ou seja, quem financia as pesquisas agora é quem dita as regras, segue a autora:
...Dessa forma, reduz-se o papel do Estado em relação ao financiamento da educação superior, ao passo que possibilita ao setor industrial e empresarial pressionar à universidade por mais produtividade. Esta passa a ser entendida como capacidade de inovação, possibilitada por processos de investigação orientados para as necessidades de competitividade do setor produtivo. Essa tendência parece indicar, além da reformulação da autonomia universitária, sobretudo, a sua redução, diante das novas demandas e pressões advindas das necessidades de competitividade das economias capitalistas ao nível global. p 373.
Diante do exposto, pode-se entender que a Universidade perde sua autonomia de universidade ao deixar de cumprir seu papel social em busca do conhecimento integral para atender aos interesses capitalistas. Tendo como função atender aos anseios da sociedade desenvolvendo capacitações para a solução de problemas sociais e formação de cidadãos críticos e conscientes de sua importância para a autonomia também do país, a Universidade não deve se curvar diante de pressões do governo ou de grupos dominantes que procuram direcionar o conhecimento para o benefício de uma minoria em detrimento de muitos, fugindo
assim à lógica da equidade social. OTRANTO (2004) escreve que para a Universidade conseguir de fato autonomia:
Cada instituição terá que criar seus próprios regulamentos dentro do seu espaço relativo, optando pela melhor maneira de exercer sua autodireção. Precisa aprender a andar por si mesma, encontrar os seus próprios caminhos, sem esperar que tudo lhe seja determinado por um instrumento legal. Vista sob este ângulo, a autonomia não está restrita a uma norma e sim amplia os seus limites dentro dos campi universitários. É uma autonomia construída pela ação de docentes-pesquisadores, funcionários e alunos. p 3.
Portanto, uma Universidade autônoma não deve ceder às pressões políticas de nenhum órgão externo, mas deve caminhar também de forma independente, inclusive de financiamentos, pois os recursos a ela destinados não podem ser considerados apenas como gastos, mas sim como investimento. Sobre essa autonomia, OTRANTO (2004) enfatiza:
Cabe mencionar, porém, que a autonomia financeira aqui defendida não prescinde do financiamento das universidades pelo Estado. É necessário que ele reconheça a importância dessas instituições e que encare os recursos nelas despendidos não como um desperdício de verbas que podem ser suprimidas a qualquer momento, mas como um grande investimento social, indispensável para o desenvolvimento de um país marcado por disparidades regionais tão intensas. Manter a universidade pública é fundamental para a redução das desigualdades, que poderá ser alcançada através das atividades de ensino, pesquisa e extensão, e para a manutenção e ampliação da própria soberania nacional, como os da produção científica nela produzida. Se corretamente estimulada, essa produção pode reduzir a dependência científica e tecnológica brasileira e impulsionar o desenvolvimento de uma sociedade baseada no conhecimento. p 5.
Diante do exposto fica evidente que o conhecimento universitário deve ser construído em função do desenvolvimento integral e a partir de um consenso da sociedade, sobretudo da sociedade acadêmica ali envolvida sem interferências externas que ameacem o conteúdo a ser produzido para o crescimento global da sociedade.
AS EVOLUÇÕES EDUCACIONAIS RUMO À ESPECIALIZAÇÃO Nas sociedades primitivas o conhecimento é construído pela necessidade da sociedade tribal cumprir as tarefas mais simples do dia a dia de acordo com suas necessidades e esse conhecimento como cultura é transmitido de geração a geração, naturalmente sem grandes esforços, obviamente com alguma tecnologia já empregada: as formas de se capturar a caça, como sobreviver nas florestas e por fim algum modo de se praticar a agricultura e a domesticação dos animais por aqueles que deixam de ser nômades (ARANHA, 2006). Não é lúcido negar que as sociedades tribais necessitam também de conhecimentos para a sua sobrevivência, mas nas sociedades mais complexas a
Com a decadência do modelo liberal após a crise econômica mundial, a ascensão do modelo walfare state (Estado de Bem Estar Social) trouxe investimentos estatais para impulsionar a economia em todos os países capitalistas e esses investimentos atingiram também à Educação. Como já sabemos, no Brasil, as maiores transformações aconteceram durante a chamada “Era Vargas”, período durante o qual foram criadas diversas empresas estatais e as primeiras universidades. Portanto, no decorrer do século XX, o Estado não cumpriu como deveria o seu papel, deixando para a iniciativa privada o maior número de alunos ao estagnar a criação de universidades e demais investimentos necessários (PIRES, 2010). Nesse cenário de terceirização do ensino superior, a dinâmica se intensificou a partir dos anos 1970. Sobre esses acontecimentos, RIGOTTO (2005) escreveu:
O número das instituições públicas de ensino superior estagnou entre 1970 e 2004, enquanto o número de instituições privadas cresceu 314% nesses 34 anos. A oferta total de cursos, no entanto, teve um crescimento de 6,5 vezes, entre 1970 e 2002. Este aumento do número de instituições privadas e de novos cursos atendeu a demanda crescente por vagas nas universidades, já que foi impossível de ser plenamente atendida pelas universidades públicas, que se estruturam segundo um modelo seletivo. p 360.
É importante observar que dentro da tendência de uma educação servil ao mercado não foi só o fato de se criar instituições privadas de ensino que fez com que o conhecimento acadêmico se fragmentasse ao ceder a um modelo de especialização profissionalizante. É certo que a educação como mercadoria ganha mais força nas mãos das empresas. Afinal, o objetivo de toda empresa é o lucro e lucro se tem quando se produz de forma satisfatória a manter os custos operacionais e reproduzir o capital, podendo priorizar o imediato, deixando de se promover o social com investimentos a médio e a longo prazo (FERNANDES, 2011). Quanto à lógica do Walfare state, seu modelo de desenvolvimento visa também atender aos interesses do capital, uma vez que a intervenção estatal é para criar condições de desenvolvimento econômico creditando, posteriormente, a abrangência do desenvolvimento social. Sendo assim, a prioridade é maior para um modelo que atenda às necessidades das empresas, mas nem sempre promova o desenvolvimento integral da sociedade porque este estará sempre em segundo plano, podendo ser irrelevante ao crescimento da empresa. Nesse contexto, também, não é interessante a formação integral do cidadão, mas sim sua capacitação para atender ao mercado de trabalho (PIRES, 2010). E se o modelo do Walfare state contribuiu para que a educação servisse mais aos interesses capitalistas do que aos interesses sociais, o modelo neoliberal agravou ainda mais o problema, pois recomenda a não intervenção do Estado na economia e o livre mercado abrange também a educação. Sobre os efeitos da política do mercado em relação à educação, SILVA (2011) escreveu:
Os destinos da educação, desse modo, parecem estar diretamente articulados às demandas de um mercado insaciável e da sociedade dita do “conhecimento”. Como decorrência, os sistemas educacionais dos vários países sofrem pressões para construir ou consolidar escolas mais eficientes e aptas a preparar as novas gerações e, além da atualização do sistema escolar, criam-se mecanismos para regulação e controle de uma educação falsamente continuada. ...Além de uma crescente política de privatização da educação, os processos institucionais e pedagógicos são submetidos cada vez mais aos processos empresariais de organização – mais qualidade com menos custos – essa é a lógica do sistema. p 133.
Na verdade, o que realmente importa é que tudo isso, toda essa tendência que a educação seguiu para atender ao mercado levou a uma especialização altamente apurada e, consequentemente, à fragmentação do conhecimento nos cursos superiores. E isso é o que levam pensadores como Edgar Morin a defender a necessidade de um pensamento complexo para melhorar a educação, pois de acordo com Morin (2003), podemos ver melhor às partes, mas somos deficientes para perceber o todo.
PROBLEMAS DA FRAGMENTAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE A dissociação entre teoria e prática é um dos principais problemas em relação à administração dos conteúdos nos cursos superiores. O discente, sem uma formação crítica que o permita ter uma visão global do universo onde se está inserido, fica exposto a conteúdos programados, como se fosse uma lei a obedecer sem entender seus efeitos. É comum ouvir alunos reclamando de conteúdos por não conseguirem fazer relações entre o que é dado na disciplina e sua aplicação prática. O cumprimento do currículo se faz generalizado e as disciplinas são padronizadas sem vínculos com as realidades locais. Os critérios para a escolha das grades curriculares não levam em conta o lugar onde os discentes estão inseridos culturalmente e nem visam a demanda social dos futuros profissionais. Os critérios, em sua maioria são meramente mercadológicos. Abordando o problema desse distanciamento, FAVARÃO et al., (2004) escreve:
No Ensino Superior, a falta de contato do conhecimento com a realidade, parece ser uma característica bastante acentuada. Os professores, no esforço de levar seus alunos a aprender, o fazem de maneira a dar importância ao conteúdo em si, e não à sua interligação com a situação da qual emerge, gerando, assim, a clássica dissociação entre teoria e prática. p 104.
Diante do exposto se coloca a importância da interdisciplinaridade, pois é a partir de uma maior interação entre as diversas disciplinas do conhecimento que se pode chegar a algo mais conexo, capaz de atingir a compreensão global do problema a ser estudado, capaz de dar ao indivíduo uma compreensão também política de suas ações. Para FAVARÃO et al., (2004),
nos sentirmos também incapazes de contribuir em nosso cotidiano, condicionados à passividade em relação às questões de maior complexidade (MORIN, 2003). Para MORIN (2003),
Vivemos numa realidade multidimensional, simultaneamente econômica, psicológica, mitológica, sociológica, mas estudamos estas dimensões separadamente, e não umas em relação com as outras. O princípio de separação torna-nos talvez mais lúcidos sobre uma pequena parte separada do seu contexto, mas nos torna cegos ou míopes sobre a relação entre a parte e o seu contexto. p 2.
Como enfatiza o autor, pode-se perceber bem as partes, mas a tendência é que não consigamos relacioná-las para, enfim, entender a real dimensão dos problemas e, naturalmente, encontrar soluções. A partir dessa constatação, fica evidente que objetivos individuais ou de grupos isolados podem ser transformados em problemas sociais, até mesmo por se acreditar que o conhecimento individual ou o subsídio econômico que tal conhecimento traz pode ser suficiente para cada um cuidar de seus problemas. Prejuízos podem surgir pelo fato de que a especialização generalizada nos fornece subsídios para terceirizar tarefas as quais provavelmente nos ajudariam em nosso crescimento humano pela experiência de executá-las (SILVA, 2010). Enfim, diante do exposto, fica evidente que a experiência em grupo e a vivência dos fatos nos impulsiona para o enriquecimento do saber infinito.
OS REFLEXOS DO CONHECIMENTO FRAGMENTADO NAS PROFISSÕES Como já abordado, os profissionais formados para o mercado são condicionados a modismos criados pela especulação em torno das especializações de maior demanda. O ambiente gerado faz com que os títulos e os currículos sejam, muitas vezes até mais importante do que o conhecimento, porque o status profissional se faz interessante para a propaganda , uma vez que grande parte dos atores são destinados à promoção de vendas de produtos de grandes empresas que dominam os mercados e criam cenários favoráveis à produção de tais atores, os quais são previamente preparados para disseminar certos produtos (GNOATTO et al., 2009). Como exemplo de irrelevância do conhecimento integral para o mercado, podemos citar o caso dos graduados em cursos de agronomia que são cooptados por representantes de empresas transnacionais fornecedoras de insumos agrícolas e os preparam para a venda de máquinas, agrotóxicos, sementes e fertilizantes (GNOATTO et al., 2009). A agricultura químico-dependente se tornou um modelo hegemônico. A procura dos agricultores é crescente pelos maquinários e agroinsumos e a demanda do mercado faz crescente também a procura por vendedores. E nesse mercado é importante que os vendedores sejam graduados para ter mais credibilidade junto aos seus clientes, mas nem sempre precisam ser bons conhecedores das ciências agrárias, uma vez que há um padrão uniforme nos pacotes vendidos aos agricultores e também pelo fato de que as empresas de vendas não se envolvem em assistência técnica ao ponto de diagnosticar problemas mais complexos nos campos locais (GNOATTO et al., 2009). O real objetivo do seguimento de vendas é atingir metas quantitativas. GNOATTO et al. (2009) explicitam esses problemas em sua pesquisa com empresas
revendedoras aplicando métodos de estudo de comportamentos a grupos de estagiários do curso de agronomia:
O profissional de Agronomia foi reduzido a simples vendedor ou repassador de tecnologias das empresas. As análises dos sistemas de produção das culturas foram reduzidos à aplicação de agrotóxicos e a regulagens de pulverizadores. Os acadêmicos não se aprofundaram nas temáticas abordadas, preferindo o simplismo e a superficialidade na análise dos fatos, não abordando as causas dos problemas, mas simplesmente tratando os efeitos destes com receitas prontas. p 54.
Nesse contexto, o discente ou novo graduado tem como verdade absoluta e inquestionável o que ele aprende na faculdade e se especifica ainda mais nas empresas onde se insere sem a percepção de que as ciências agrárias envolvem uma enorme complexidade de saberes científicos e culturais impossíveis de serem resumidos em pacotes tecnológicos importados. Não podem enxergar, dentro de uma visão ingênua de mundo o contexto onde se inseriu, se tornando ator de uma política empresarial puramente mercantil. Dentro de uma lógica perversa, sem o envolvimento necessário com o campo, com a sua diversidade e dinâmica, a escola forma profissionais para a desconstrução social ao invés de indivíduos críticos e responsáveis como deveria ser. Assim evidencia a abordagem de GNOATTO et al., (2009):
...o estagiário muito se identifica com a filosofia e metodologia utilizada pelas empresas de comercialização, para vender seus produtos, criando necessidades no agricultor, reduzindo a profissão do engenheiro agrônomo a vendedor, estando a serviço do capital e da acumulação. Esse processo leva à dependência dos agricultores a produtos e serviços produzidos pelas empresas multinacionais, tendo como conseqüência a concentração de riqueza, poder e opressão de poucas empresas sobre o conjunto dos agricultores (GNOATTO et al., 2009) p 55.
Se este profissional não foi despertado para interagir com o meio de forma crítica, procurando enxergar por todos os ângulos possíveis, na construção de conhecimentos dinâmicos, como deve ser o ambiente de educação multidisciplinar, certamente ficará preso a modelos mecânicos estruturados para a dominação de grupos estabelecidos politicamente através das relações de poder e regalias do capital. Sem entender que o conhecimento estático não pode contribuir para o crescimento integral, uma vez que os problemas não são todos padronizáveis, o discente se acomoda em uma zona de conforto e não se esforça para buscar soluções para questões as quais não consegue ao menos pensá-las, porque não foi estimulado a isso (GNOATTO et al., 2009). De acordo com MORIN (2003), a consciência humana é formada a partir da cultura, das interações, da alimentação dos conhecimentos. Portanto, nessa concepção, cada indivíduo compreende o que conhece e se a fragmentação do conhecimento nos faz compreender apenas as partes isoladas, não somos capazes de tomar as melhores decisões. Abordando a importância de se ter uma maior compreensão, MORIN (2003) enfatiza: