
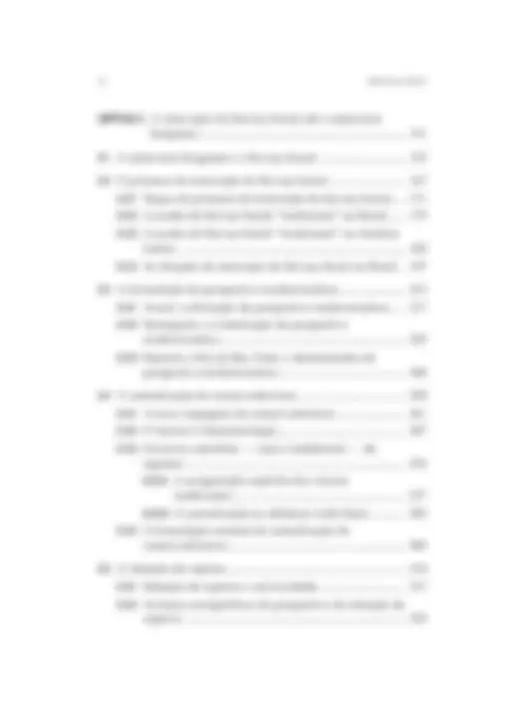

















Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity
Os melhores documentos à venda: Trabalhos de alunos formados
Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade
Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.

Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Comunidade
Peça ajuda à comunidade e tire suas dúvidas relacionadas ao estudo
Descubra as melhores universidades em seu país de acordo com os usuários da Docsity
Guias grátis
Baixe gratuitamente nossos guias de estudo, métodos para diminuir a ansiedade, dicas de TCC preparadas pelos professores da Docsity
livro sobre ditadura e serviço social de josé paulo neto
Tipologia: Resumos
1 / 24

Esta página não é visível na pré-visualização
Não perca as partes importantes!

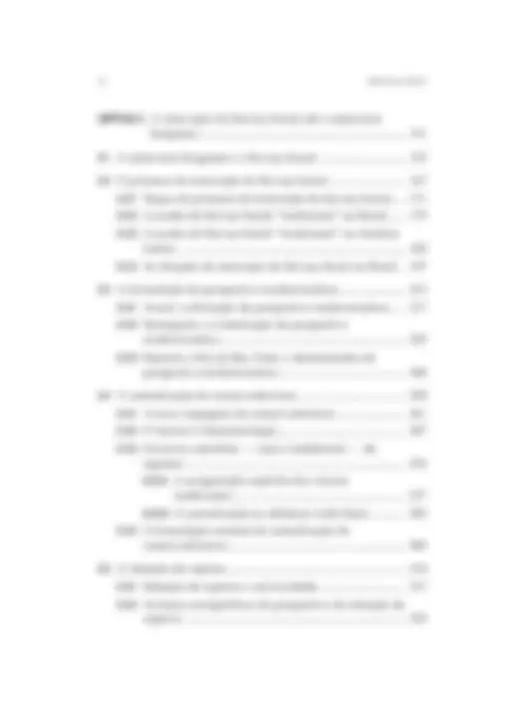















17ª edição
DITADURA E SERVIÇO SOCIAL 11
2.5.3 O processo da perspectiva da intenção de ruptura ...... 331 2.5.3.1 Momentos constitutivos da perspectiva da intenção de ruptura ................................................ 332 2.5.3.2 Continuidade e mudança no processo da intenção de ruptura ................................................ 340 2.5.4 Dois tempos fundamentais na construção da intenção de ruptura ............................................................................ 349 2.5.4.1 Belo Horizonte: uma alternativa global ao tradicionalismo ........................................................ 351 2.5.4.2 A reflexão de Iamamoto: o resgate da inspiração marxiana................................................ 367 2.5.5 Intenção de ruptura e modernidade ............................... 382
2.6 A renovação profissional: caminho e viagem ......................... 387
27
A autocracia burguesa
e o “mundo da cultura”
30 JOSÉ PAULO NETTO
global e unitário — uma unidade de diversidades, diferenças, tensões, contradições e antagonismos. Nele se imbricam, engrenam e colidem vetores econômicos, sociais, políticos (e geopolíticos), culturais e ideológicos que configuram um sentido predominante derivado da imposição, por mecanismos basicamente coercitivos, de uma estra- tégia de classe (implicando alianças e dissensões).
A remissão aos momentos mais cruciais deste processo, numa ótica de tratamento sintético, parece ser absolutamente imprescin- dível para estabelecer com alguma procedência as condições em que, no mesmo período, se desenvolveram (ou não se desenvolveram) certas tendências, paradigmas e linhas de reflexão no Serviço Social. A esta remissão dedica-se este capítulo.
Nunca escapou aos analistas da ditadura brasileira que sua emergência inseriu-se num contexto que transcendia largamente as fronteiras do país, inscrevendo-se num mosaico internacional em que uma sucessão de golpes de Estado (relativamente incruentos uns, como no Brasil, sanguinolentos outros, como na Indonésia) era somente o sintoma de um processo de fundo: movendo-se na mol- dura de uma substancial alteração na divisão internacional capita- lista do trabalho, os centros imperialistas, sob o hegemonismo norte-americano, patrocinaram, especialmente no curso dos anos sessenta, uma contrarrevolução preventiva em escala planetária (com rebatimentos principais no chamado Terceiro Mundo, onde se de- senvolviam, diversamente, amplos movimentos de libertação nacio- nal e social). 2
DITADURA E SERVIÇO SOCIAL 31
A finalidade da contrarrevolução preventiva era tríplice, com seus objetivos particulares íntima e necessariamente vinculados: adequar os padrões de desenvolvimento nacionais e de grupos de países ao novo quadro do inter-relacionamento econômico capitalista, marcado por um ritmo e uma profundidade maiores da internaciona- lização do capital; golpear e imobilizar os protagonistas sociopolíticos habilitados a resistir a esta reinserção mais subalterna no sistema capitalista; e, enfim, dinamizar em todos os quadrantes as tendências que podiam ser catalisadas contra a revolução e o socialismo.
Os resultados gerais da contrarrevolução preventiva, onde triunfou, mostraram-se nítidos a partir da segunda metade da dé- cada de 1960: a afirmação de um padrão de desenvolvimento eco- nômico associado subalternamente aos interesses imperialistas, com uma nova integração, mais dependente, ao sistema capitalista; a articulação de estruturas políticas garantidoras da exclusão de pro- tagonistas comprometidos com projetos nacional-populares e demo- cráticos; e um discurso oficial (bem como uma prática policial-mili- tar) zoologicamente anticomunista. 3 Tais resultados — por si sós indicadores consistentes do sentido e do conteúdo internacionais do processo em tela —, porém, alcançaram-se mediante vias muito diferenciadas, específicas, que concretizaram, nas sociedades em que se materializaram, formas econômicas, sociais e políticas cuja peculia- ridade só é apreensível se se consideram os movimentos endógenos aos quais se engrenaram as iniciativas imperialistas. É esta dinâmi- ca interna que responde pelo êxito (transitório) da estratégia promo- vida pelos centros imperialistas — e, portanto, não compete fazer coro com aqueles que, como Morel (1965), imaginavam que os golpes começavam nas metrópoles do capital monopolista internacional
DITADURA E SERVIÇO SOCIAL 33
diversos momentos do processo de formação do Brasil moderno, acabaram por configurar uma particularidade histórica (cujas ex- pressões definidas já apareciam, nítidas, na Primeira República, mas que, a partir da sua crise, só fazem se precisar progressivamente) salientada em três ordens de fenômenos, distintos porém visceral- mente conectados.
Em primeiro lugar, um traço econômico-social de extraordinárias implicações: o desenvolvimento capitalista operava-se sem desven- cilhar-se de formas econômico-sociais que a experiência histórica tinha demonstrado que lhe eram adversas; mais exatamente, o de- senvolvimento capitalista redimensionava tais formas (por exemplo, o latifúndio), não as liquidava: refuncionalizava-as e as integrava em sua dinâmica. Na formação social brasileira, um dos traços típi- cos do desenvolvimento capitalista consistiu precisamente em que se deu sem realizar as transformações estruturais que, noutras for- mações (v. g., as experiências euro-ocidentais), constituíram as suas pré-condições. No Brasil, o desenvolvimento capitalista não se ope- rou contra o “atraso”, mas mediante a sua contínua reposição em patamares mais complexos, funcionais e integrados. 5
Em segundo lugar, uma recorrente exclusão das forças popu- lares dos processos de decisão política: foi próprio da formação social brasileira que os segmentos e franjas mais lúcidos das classes dominantes sempre encontrassem meios e modos de impedir ou travar a incidência das forças comprometidas com as classes su- balternas nos processos e centros políticos decisórios. A socialização da política, na vida brasileira, sempre foi um processo inconcluso — e quando, nos seus momentos mais quentes, colocava a possi- bilidade de um grau mínimo de socialização do poder político, os setores de ponta das classes dominantes lograram neutralizá-lo.
34 JOSÉ PAULO NETTO
Por dispositivos sinuosos ou mecanismos de coerção aberta, tais setores conseguiram que um fio condutor costurasse a constituição da história brasileira: a exclusão da massa do povo no direciona- mento da vida social.
Em terceiro lugar, e funcionando mesmo como espaço, como topus social, de convergência destes dois processos, o específico desempenho do Estado na sociedade brasileira — trata-se da sua particular relação com as agências da sociedade civil. A caracterís- tica do Estado brasileiro, muito própria desde 1930, 6 não é que ele se sobreponha a ou impeça o desenvolvimento da sociedade civil : antes, consiste em que ele, sua expressão potenciada e condensada (ou, se se quiser, seu resumo ), tem conseguido atuar com sucesso como um vetor de desestruturação, seja pela incorporação desfigu- radora, seja pela repressão, das agências da sociedade que expressam os interesses das classes subalternas. O que é pertinente, no caso brasi- leiro, não é um Estado que se descola de uma sociedade civil “gela- tinosa”, amorfa, submetendo-a a uma opressão contínua; é-o um Estado que historicamente serviu de eficiente instrumento contra a emersão, na sociedade civil, de agências portadoras de vontades coletivas e projetos societários alternativos. 7
36 JOSÉ PAULO NETTO
mente, esta expansão acarretava “uma desaceleração do crescimen- to, ainda que se mantivesse a mesma taxa de investimento público, uma vez que a digestão da nova capacidade produtiva criada nos departamentos de bens de produção e de bens de consumo capita- lista provocaria um corte significativo no investimento privado” (Cardoso de Mello, 1986, p. 121). Em suma, na entrada dos anos sessenta, a dinâmica endógena do capitalismo no Brasil, alçando-se a um padrão diferencial de acumulação, punha na ordem do dia a redefinição de esquemas de acumulação (e, logo, fontes alternativas de financiamento)^10 e a iminência de uma crise. Se esta não aparecia como tal aos olhos dos estratos industriais burgueses, a questão da acumulação mostrava-se óbvia.
Este quadro, com efeito, amadurecera nos anos de implemen- tação do Plano de Metas , em seguida a 1956.^11 Nos primeiros anos da década de 1960, contudo, a solução econômica articulada para a con- secução do Plano de Metas viu-se vulnerabilizada politicamente. De que solução se tratara? Basicamente, de um rearranjo nas relações entre o Estado, o capital privado nacional e a grande empresa trans- nacional, entregando-se a esta uma invejável parcela de privilégios.^12
DITADURA E SERVIÇO SOCIAL 37
Entretanto, o suporte político deste arranjo, que parecera estável nos últimos anos da década de 1950, passa a sofrer forte erosão entre 1961 e 1964.
Após o fracasso da intentona golpista que cercou a renúncia de Quadros (agosto de 1961), as forças mais expressivas do campo de- mocrático — responsáveis, aliás, pela manutenção das liberdades políticas fundamentais no seguimento dos eventos posteriores ao 25 de agosto — ganharam uma nova dinâmica. Com Goulart à cabeça do Executivo, espaços significativos do aparelho de Estado foram ocupados por protagonistas comprometidos com a massa do povo e, mesmo enfrentando um Legislativo onde predominavam forças con- servadoras, tais protagonistas curto-circuitaram em medida ponderá- vel as iniciativas de repressão institucional (Moniz Bandeira, 1977).
Em face de um Executivo permeado de protagonistas políticos com elas comprometidos, as forças democráticas vinculadas mor- mente às classes subalternas mobilizaram-se febrilmente. Acumu- lando reservas desde o governo constitucional de Vargas, o campo democrático e popular articulava uma importante ação unitária no terreno sindical, politizando-o rapidamente, e colocava em questão — sob a nem sempre inequívoca bandeira das reformas de base — o eixo sobre o qual deslizara até então a história da sociedade brasi- leira: o capitalismo sem reformas e a exclusão das massas dos níveis de decisão.^13
A emersão de amplas camadas trabalhadoras, urbanas e rurais,^14 no cenário político, galvanizando segmentos pequeno-burgueses
de acumulação e lhe concedendo generosos favores” (Cardoso de Mello, 1986: 118). Neste rearranjo, como o mesmo estudioso esclarece em seguida, o capital industrial nativo também obteve ganhos significativos.
DITADURA E SERVIÇO SOCIAL 39
as requisições contra a exploração imperialista e latifundista, acres- cidas das reivindicações de participação cívico-política ampliada, apontavam para uma ampla reestruturação do padrão de desenvol- vimento econômico e uma profunda democratização da sociedade e do Estado; se, imediatamente, suas resultantes não checavam a ordem capitalista, elas punham a possibilidade concreta de o pro- cesso das lutas sociais alçar-se a um patamar tal que, por força da nova dinâmica econômico-social e política desencadeada, um novo bloco de forças político-sociais poderia engendrar-se e soldar-se, assu- mindo e redimensionando o Estado na construção de uma nova hegemonia e na implementação de políticas democráticas e popula- res nos planos econômico e social. A consequência, a médio prazo, do que estava em jogo — não capitalismo ou socialismo, mas repro- dução do desenvolvimento associado e dependente e excludente ou um processo profundo de reformas democráticas e nacionais, 18 an-
do ‘sindicalismo populista’ que, fazendo o jogo da ‘burguesia nacional’, manipulava e cor- rompia a consciência de classe do operariado através da ‘ideologia nacional-desenvolvimen- tista’ etc. etc.” (Frederico, 1987: 19). Um dirigente operário, acerca deste tipo de análise, ainda predominante nos meios acadêmicos, observou: “Tudo o que aconteceu antes de 1964 [...] tinha de ser esquecido. [...] E alguns intelectuais entraram nessa da reação. Descobriram uma palavra, o populismo [...]. Eles jogaram muito tempo sozinhos, num período em que uns estavam na cadeia, no exílio, e outros nem na cadeia, nem no exílio. [...] Se 1964 foi tudo isso que eles concluíram e querem passar para nova geração, a pergunta é: por que deram o gol- pe? Ora, se tudo era populismo, então os generais estavam todos bêbados [...]. Porque, se antes estava tudo dentro da linha, se não havia conteúdo revolucionário, se não havia uma mobilização de classe, não tinha nenhum motivo para mexer no poder da classe dominante” (Affonso Delellis, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo em 1963-1964, apud Frederico, 1987, p. 20). A crítica à teoria do populismo desborda os limites deste trabalho (no plano político, há elementos para ela em Trías [1979]; uma abordagem teórica alternativa aparece em Andrade [1979]; mas uma cuidadosa apreciação teórico-crítica está em Barbosa Filho [1980]). É impos- sível deixar de anotar, contudo, que sua vulgarização se insere numa ampla cruzada ideoló- gica de crítica, formalmente de esquerda, às esquerdas pré-1964 (cujo alvo prioritário, velada ou abertamente, são os movimentos em que os comunistas — e, para a época, falar em co- munistas é falar especialmente do PCB — dispunham de hegemonia) que tem servido, de fato, para obscurecer e mistificar a verdade histórica. Boa parte dos novos cruzados não deixa de ser herdeira dos radicais de ocasião , tão finamente retratados por Cândido (1978).
40 JOSÉ PAULO NETTO
ti-imperialistas e antilatifundistas — poderia ser a reversão completa daquela particularidade da formação social brasileira; o significado desta reversão, numa perspectiva de revolução social, é óbvio.
Durante o governo Goulart, portanto, a sociedade brasileira defrontava-se necessariamente com um tensionamento crescente. A continuidade do padrão de desenvolvimento iniciado anos antes colocava, pela sua própria dinâmica, alternativas progressivamente mais definidas, acentuadas pela crise previsível (desaceleração do crescimento) que se manifesta claramente a partir de 1962. No curso de 1963, as divisórias se mostram cristalinamente: ou o capital na- cional (privado) concertava com o Estado um esquema de acumu- lação que lhe permitisse tocar a industrialização pesada, ou se im- punha articular um outro arranjo político-econômico, privilegiando ainda mais os interesses imperialistas, que sustentasse a consecução do padrão de desenvolvimento já em processamento. A primeira alternativa, na qual apostavam as forças democráticas e populares, continha, para o capital , os riscos assinalados na projeção a médio prazo que desenhamos linhas atrás, todos derivados da democrati- zação (da sociedade e do Estado) que implicaria para efetivar-se — sem contar com o peso que o Estado (no qual já rebatiam clara- mente os interesses populares) acabaria por adquirir na própria economia. 19 A segunda, sem prejuízo das fricções existentes entre
nato acadêmico. Realizada abstratamente, termina sempre por concluir que o nacionalismo (junto com a ideologização do desenvolvimento e o populismo) foi um instrumento de mis- tificação das massas, de acobertamento das contradições de classe etc. Vasta é a produção universitária que lavra nesta seara e dispensamo-nos de indicá-la. Cabe ressaltar que não se desqualifica aqui a necessidade de estabelecer uma crítica ri- gorosa do comportamento das esquerdas no pré-1964 — tal crítica é indispensável. Se, porém, ela não for operada a partir de uma análise cuidadosa e honesta do efetivo processo sociopo- lítico e econômico que se desenrolava à época, pode levar à conclusão — que, aliás, é a des- tilada por boa parcela de análises acadêmicas — de que os responsáveis pelo golpe de abril estão nas esquerdas. Ninguém duvida de que os erros das esquerdas pesaram na derrota de abril; mas creditar a elas a derrocada de 1964 é solidarizar-se com os promotores do golpe.
42 JOSÉ PAULO NETTO
inflexão política que poderia — ainda que sem lesionar de imedia- to os fundamentos da propriedade e do mercado capitalistas — romper com a heteronomia econômica do país e com a exclusão política da massa do povo. Nesse sentido, o movimento cívico-mi- litar de abril foi inequivocamente reacionário — resgatou precisa- mente as piores tradições da sociedade brasileira. Mas, ao mesmo tempo em que recapturava o que parecia escapar (e, de fato, esta- va escapando mesmo) ao controle das classes dominantes, defla- grava uma dinâmica nova que, a médio prazo, forçaria a ultrapas- sagem dos seus marcos.
Se tem procedência o veio analítico que estamos explorando, o fulcro dos dilemas brasileiros no período 1961-1964 pode ser sinte- tizado na constatação de uma crise da forma da dominação burguesa no Brasil, gestada fundamentalmente pela contradição entre as deman- das derivadas da dinâmica do desenvolvimento embasado na in- dustrialização pesada e a modalidade de intervenção, articulação e representação das classes e camadas sociais no sistema de poder político. O padrão de acumulação suposto pelas primeiras entrava progressivamente em contradição com as requisições democráticas, nacionais e populares que a segunda permitia emergir. O alargamen- to e o aprofundamento desta contradição, precipitados pelas lutas e tensões sociais no período, erodiam consistentemente o lastro hege- mônico da dominação burguesa.
Aos estratos burgueses mais dinâmicos abriam-se duas alterna- tivas: um rearranjo para assegurar a continuidade daquele desen- volvimento, infletindo as bases da sua associação com o imperialis- mo, pela via da manutenção das liberdades políticas fundamentais ou um novo pacto com o capital monopolista internacional (nomea- damente o norte-americano), cujas exigências chocavam-se com
DITADURA E SERVIÇO SOCIAL 43
posições tornadas possíveis exatamente pelo jogo democrático. No primeiro caso, além de conjunturais traumatismos econômicos, a reafirmação hegemônica da burguesia haveria de concorrer com projetos alternativos (de classes não burguesas e/ou não possidentes) de direção da sociedade. No segundo, ademais da garantia sem alte- rações substanciais do regime econômico capitalista, estava dada a evicção, a curto prazo, do problema da hegemonia, com a hipertro- fia do conteúdo coativo da dominação. Sabe-se em que sentido os setores burgueses resolveram os seus dilemas: deslocaram-se para o campo da antidemocracia.
Tal deslocamento, como ocorreu em abril de 1964, implicou, em relação ao passado recente da formação social brasileira, um movi- mento simultaneamente de continuidade e de ruptura. A continui- dade expressa-se no resgate, que já indicamos, das piores tradições da nossa sociedade — a heteronomia e a exclusão, bem como as soluções “pelo alto” 22 —; consiste, especialmente, no reforçamento do papel peculiar do Estado, que se situa como o espaço privilegiado para o trânsito e o confronto dos interesses econômico-sociais em enfrentamento. 23 Entretanto, as dimensões principais do sistema autocrático que se ergue a partir do golpe de 1964 são as que trans- cendem a pura reiteração (com maior ou menor ênfase) dos traços consagrados na formação brasileira — são exatamente as que deter-