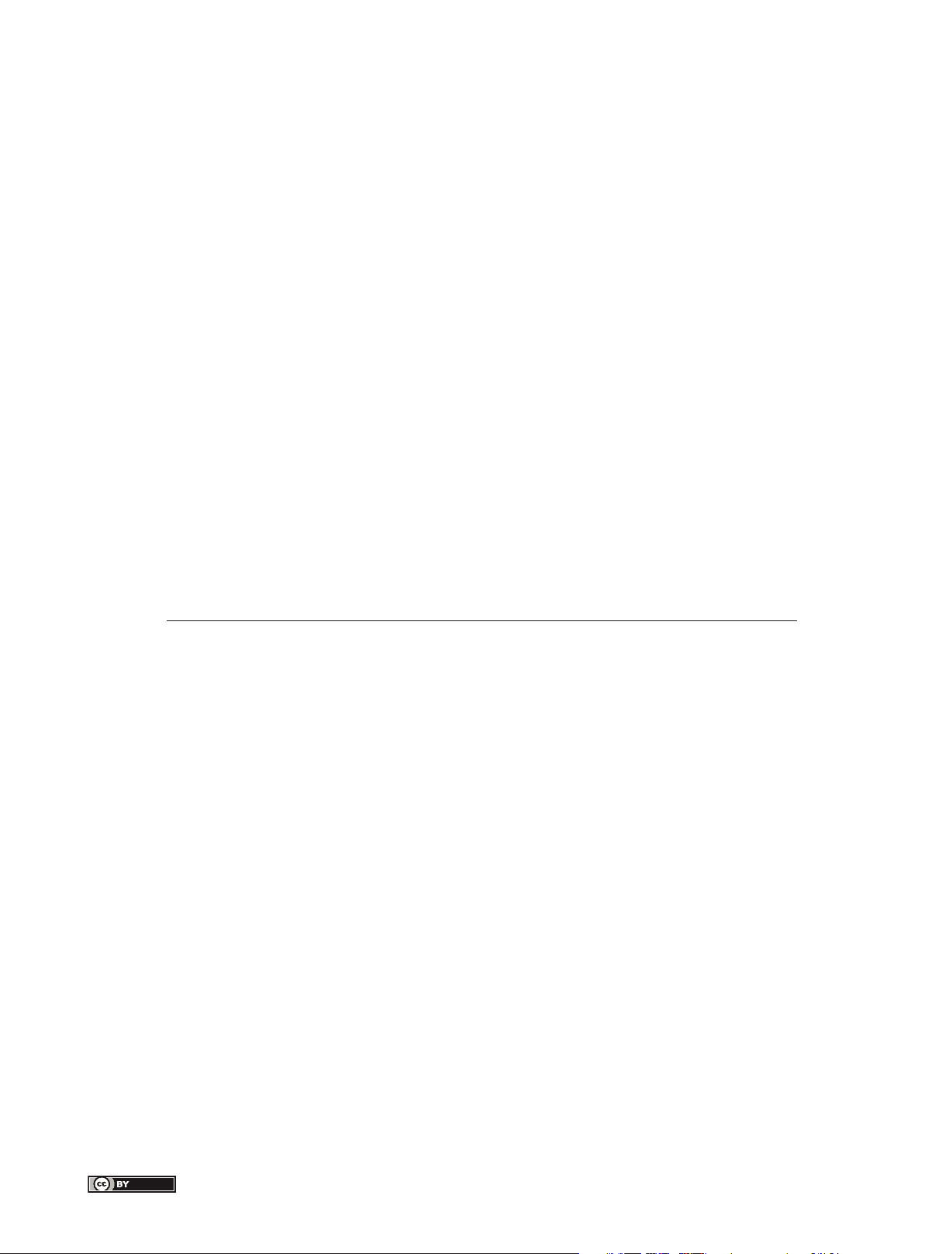









Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity
Os melhores documentos à venda: Trabalhos de alunos formados
Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade
Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.

Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Comunidade
Peça ajuda à comunidade e tire suas dúvidas relacionadas ao estudo
Descubra as melhores universidades em seu país de acordo com os usuários da Docsity
Guias grátis
Baixe gratuitamente nossos guias de estudo, métodos para diminuir a ansiedade, dicas de TCC preparadas pelos professores da Docsity
Controle a Céu Aberto Controle a Céu Aberto
Tipologia: Notas de aula
1 / 13

Esta página não é visível na pré-visualização
Não perca as partes importantes!
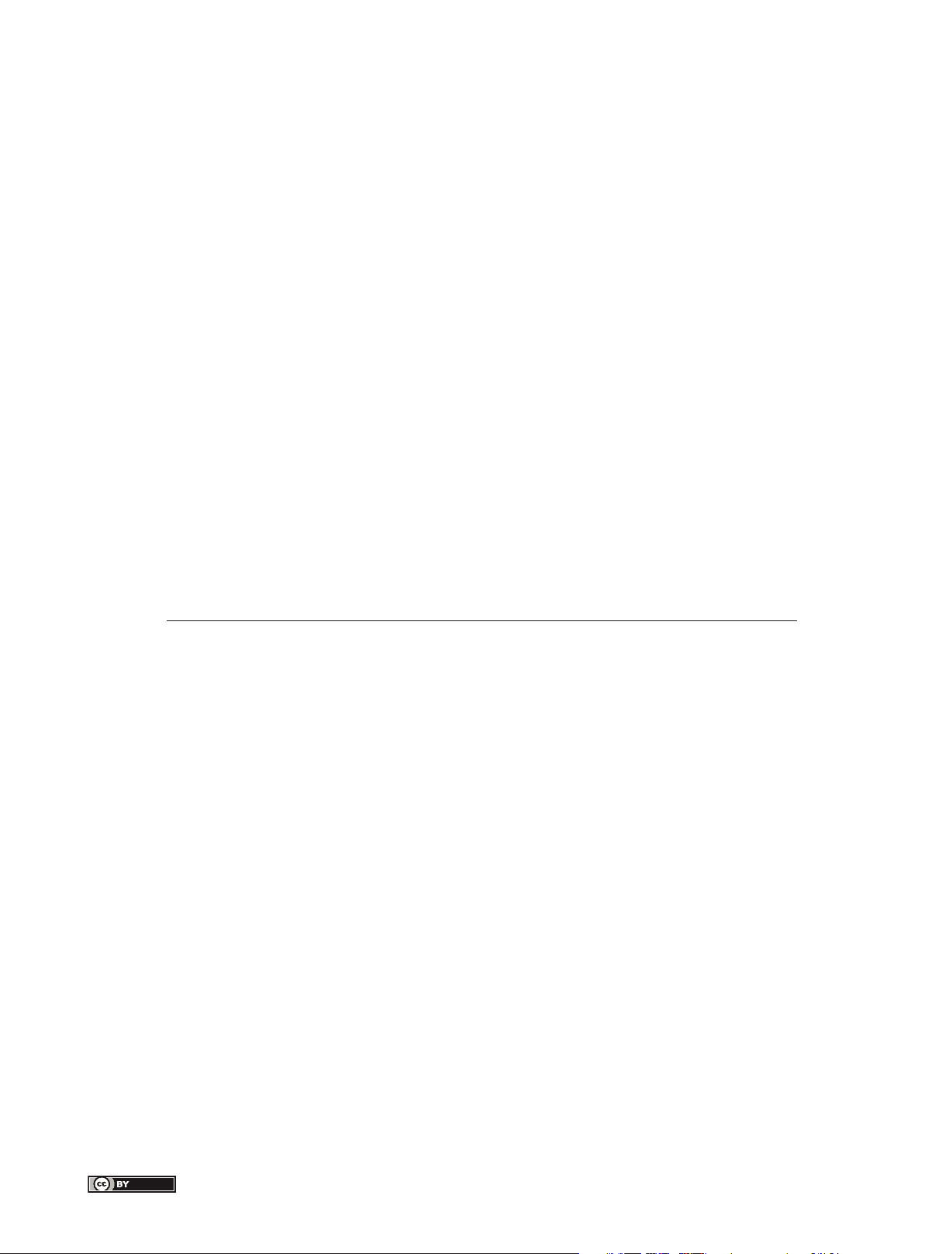







Psicologia: Ciência e Profissão 2018 v. 38 (núm.esp.2.), 131-143. https://doi.org/10.1590/1982- Disponível em www.scielo.br/pcp
Rafael Albuquerque Figueiró^1 (^1) Universidade Potiguar, RN, Brasil. Magda Dimenstein^2 (^2) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, RN, Brasil. Resumo: A categoria de agente penitenciário (AP) pode ser classificada como uma ocupação arriscada e estressante, podendo levar a distúrbios físicos e psicológicos. Embora alguns estudos versem sobre as condições de saúde desses trabalhadores, poucos são aqueles que discutem o impacto do trabalho na subjetividade dos agentes penitenciários. Nesse sentido, esta pesquisa teve por objetivo mapear os processos de subjetivação presentes no cotidiano dos trabalhadores do sistema penitenciário, em uma cidade do nordeste do Brasil. Para isso, foi feito o acompanhamento da rotina de trabalho de uma equipe de AP durante cinco meses, totalizando 168 horas de observação. Além disso, foram realizadas entrevistas com agentes penitenciários e seus familiares. Os resultados apontam para a construção da figura do “bandido perigoso”, que, no cotidiano prisional, ajuda a forjar subjetividades policialescas, punitivas e sobretudo violadoras de direitos. Além disso, tais linhas de força atuam produzindo modos de vida amedrontados e despotencializados, produzindo um controle biopolítico sobre agentes e seus familiares. Palavras-chave : Sistema Prisional, Agente Penitenciário, Subjetividade, Biopolítica.
Abstract: The category “prison guards” may be classified as a risky and stressful occupation and their work routine can lead to physical and psychological disturbances. Although some studies express concern with the health condition of these workers, only a few discuss the impact of work on the subjectivity of prison guards. This research is aimed to map the subjectivity process in the daily life of workers in the prison system, in a city in northeastern Brazil. The work routine of a prison guard team was monitored for five months, resulting in 168 hours of observation. In addition, interviews with prison staff and their relatives were carried out. The results point to the construction of the figure of the “dangerous bandit”, who in prison daily helps to forge police and punitive subjectivities, and above all, subjectivities that violate rights. In addition, such power lines act by producing frightened and depotencialized ways of life, producing a biopolitical control over agents and their relatives. Keywords : Prison System, Prison Guard, Subjectivity, Biopolitics.
Psicologia: Ciência e Profissão 2018 v. 38 (núm. esp.2), 131-143.
Resumen: La categoría de agente penitenciario puede ser clasificada como una ocupación arriesgada y estresante, pudiendo llevar a disturbios físicos y psicológicos. Aunque algunos estudios versan sobre las condiciones de salud de esos trabajadores, pocos son aquellos que discuten el impacto del trabajo en la subjetividad de los agentes penitenciarios. En ese sentido, esta investigación tuvo por objetivo mapear los procesos de subjetivación presentes en lo cotidiano de los trabajadores del sistema penitenciario, en una ciudad del nordeste de Brasil. Para ello, se hizo el seguimiento de la rutina de trabajo de un equipo de AP durante cinco meses, totalizando 168 horas de observación. Además, se realizaron entrevistas con agentes penitenciarios y sus familiares. Los resultados apuntan a la construcción de la figura del “bandido peligroso”, que en lo cotidiano penitenciario ayuda a forjar subjetividades policialescas, punitivas y sobre todo violadoras de derechos. Además, tales líneas de fuerza actúan produciendo modos de vida amedrentadas y sin potencialidades, produciendo un control biopolítico sobre agentes y sus familiares. Palabras clave : Sistema Penitenciario, Guardia Penitenciario, Subjetividad, Biopolítica.
Os sistemas penais contemporâneos têm se apre- sentado de maneira problemática não só no Brasil, mas em diversos países. A precariedade característica dos países da América Latina, a reincidência, a institucio- nalização, o adoecimento físico e psíquico são elemen- tos que marcam os sistemas prisionais atuais. A pro- posta de recuperação ou reabilitação do prisioneiro (inicialmente atribuída à prisão) já não é sequer men- cionada, quer por juristas, intelectuais, pessoas leigas, quer pelos trabalhadores do sistema penitenciário. Pelo contrário, o que temos presenciado é a produção de mais violência (e o consequente forta- lecimento do crime organizado, como bem demons- traram as últimas rebeliões em alguns estados bra- sileiros^1 ), a superlotação de unidades prisionais em condições degradantes e violadoras (Rangel, & Bica- lho, 2016), entre outros problemas. Tais questões não afetam apenas os presos, mas também os trabalha- dores do sistema prisional. A literatura vem apontando que a categoria de agente penitenciário (AP) pode ser classificada como uma ocupação arriscada e estressante, podendo oca- sionar distúrbios físicos e psicológicos, já que o risco e a vulnerabilidade são inerentes ao trabalho no cár- cere (Lourenço, 2010). Entre os fatores de risco desta- cam-se a sobrecarga de trabalho, a falta de recursos materiais e humanos, contato com os presos e o para- doxo punir/reeducar, produzindo sofrimento psí- quico, síndrome de burnout , estresse (Bezerra, Assis, & Constantino, 2016), além de mobilizar ansieda- des paranoides (Rumin, Barros, Cardozo, Cavalhero, & Atelli, 2011). Nessa direção, o trabalho em prisões envolve questões como o risco para a própria vida, neces- sidade de permanente e intenso controle emocio- nal, elevada responsabilidade com vidas humanas, realização de tarefas em situação de confinamento e de relações grupais tensas, controle e disciplina rigidamente hierarquizados, situações de ambigui- dade (cuidar, tratar, em oposição a vigiar, punir) (Lourenço, 2010). Outro aspecto destacado na litera- tura é o fato de os agentes passarem pelo chamado processo de prisionização, que diz respeito a um tipo especial de socialização, a partir da assimilação de hábitos, comportamentos e valores do ambiente carcerário (Chies, Barros, Lopes, & Oliveira, 2005). Como se não bastassem os já citados problemas, os agentes muitas vezes são estigmatizados pela socie- dade, tendo sua imagem associada à ideia de cor- (^1) Belém-PA (2015), São Luís-MA (2016) e Natal-RN (2017) tiveram rebeliões comandadas por facções em diversas unidades prisionais.
Psicologia: Ciência e Profissão 2018 v. 38 (núm. esp.2), 131-143.
No intuito de apresentar os resultados de forma mais clara, esta sessão está dividida em tópicos. Em “Periculosidade e subjetividades punitivas no dia a dia da prisão”, refletimos sobre como a noção de periculosidade vai sendo moldada no dia a dia do sis- tema prisional, produzindo subjetividades punitivas, ávidas por mais castigo e punições mais severas. Além disso, a noção de “sujeitos perigosos”, produzida pelo cotidiano prisional, também produz efeitos na vida dos agentes que, sob a égide do medo e insegurança, tem suas rotinas drasticamente afetadas, o que é dis- cutido no tópico: “Somos presos sem grades: peri- culosidade enquanto estratégia de controle”. Já em “O medo na sala de estar: o dia a dia de familiares de AP”, discutimos a extensão desses problemas para o contexto doméstico/familiar destes trabalhadores. Por fim, no item “ Medo, afeto e potência: o cotidiano dos agentes a partir de uma política dos afetos”, pros- seguimos com algumas reflexões teóricas no sentido de aprofundar o debate sobre os efeitos do cotidiano prisional na subjetividade dos agentes penitenciários.
Um dos principais efeitos do cotidiano prisio- nal é a produção do “bandido perigoso”. Baseado na ideia de uma suposta periculosidade atribuída aos apenados, a transformação do criminoso em um ser naturalmente perigoso é fruto não só do modo de funcionamento das instituições prisionais e dos nefastos efeitos colaterais produzidos, mas também da produção de determinados conceitos/saberes que circulam pelo cotidiano prisional colaborando para a construção da categoria “periculosidade”. Gof- fman (2008), ao refletir sobre as instituições totais, lembra que uma de suas características é possuir determinados conhecimentos, “teorias da natureza humana” (p. 82) que permeiam a rotina institucio- nal, penetrando, sendo absorvidos pelos sujeitos que ali vivem: “um homem na cadeia deve ser um delin- quente” (Goffman, 2008, p. 78). Ou como diria um AP: “pra mim não tem diferença entre os pavilhões. Se tá preso é porque é perigoso”. Na esteira desse processo de subjetivação, quase que acoplado a tais concepções sobre a subjetivi- dade dos detentos, surge uma determinada maneira de sentir, que clama por mais castigo, denunciando um processo de produção de subjetividade que, embora não seja privilégio de quem trabalha na pri- são, se materializa aqui com bastante força. Como a crença em uma possível recuperação desse crimi- noso praticamente já não existe mais, tais discursos sustentam não outra coisa que a necessidade do aumento e do rigor das penas (Rauter, 2003). Não se espera mais que a prisão recupere. Segundo a fala de um AP: “A recuperação só Deus mesmo dá conta... ”. Ao colocarmos no plano do divino, do sobrenatural, a possibilidade de recuperação do apenado, atesta- mos a completa incompetência da prisão em pro- duzir algum tipo de reabilitação, abrindo a possibi- lidade para que qualquer tipo de prática aconteça dentro das unidades prisionais. A desconfiança surge então como um subproduto de nosso sistema prisional, produzindo importantes consequências: “a instabilidade justifica providências drásticas dos diretores e violência da polícia de elite, além de reproduzir o estereótipo de periculosidade de presos” (Tavares, 2011, p. 129). Para a autora, por- tanto, os processos em curso no campo da segurança pública (prisões de segurança máxima, o aparato policial, os holofotes da mídia etc.) tendem a agir no sentido da produção de subjetividades criminosas. As prisões, como componentes do dispositivo da cri- minalidade, produziriam “as identidades/essências de ser humano, de bandidos, de gente inferior” (Tavares, 2011, p. 132). Além da produção dos “sujeitos perigosos”, dessa forma é possível perceber entre os AP um modo de funcionamento que valoriza o castigo enquanto fun- damento das práticas penais, como algo que “dará conta” de, se não corrigir os desviantes e produzir uma sociedade melhor, pelo menos aplacar a sede de vingança. Em conversa com outro AP, por exemplo, enquanto observávamos os presos circulando pelo pavilhão, ouvimos frases do tipo: “Se pudesse jogava tudo numa fornalha. .. ”. Como sinalizam Bicalho e Reishoffer (2009), a produção da insegurança nas subjetividades é “eficaz ao substituir os possíveis atravessamentos sociopolí- ticos, por indivíduos/segmentos da própria sociedade que serão alvo de perseguição e repressão por parte do controle social repressivo” (p. 438), construindo assim a demarcação entre os “cidadãos” e aqueles que podem/devem ser eliminados. Aquele que comete um crime passa a ser responsável por todos os males da sociedade “devendo por isso ser punido não somente
Figueiró R. A.; & Dimenstein M. (2018). Subjetivação em Agentes Penitenciários. pelo crime que cometeu, mas também por todo o mal do qual é causador” (Rangel, & Bicalho, 2016, p. 422). Nessa direção, o conceito de periculosidade tem a função de controlar sujeitos considerados peri- gosos, bem como permite classificar, identificar e neutralizar determinados indivíduos (Bert, 2012). A referida autora nos alerta para o fato de que a ideia de periculosidade produz efeitos não apenas nesses indivíduos especificamente (os presos, por exemplo), mas em todos nós, ao aumentar a sensação de inse- gurança, reforçando/produzindo um desejo de mais segurança, o que, para os AP, se materializa de uma forma bastante complexa. Tais estratégias acabam alimentando e justifi- cando as políticas de segurança em curso em nossas cidades, em nome da sempre almejada segurança: “Para isso tornam-se necessárias práticas jurídicas, preventivas e protetivas, que garantem seguridade, segurança para fazer viver os que devem viver, e dei- xar morrer e/ou matar os que ameaçam a norma social”, produzindo “subjetivações vulnerabilizadas”, construindo o que somos hoje “mendigos de segu- rança” (Lobo, Nascimento & Coimbra, 2014, p. 131). Dessa maneira, é preciso concordar com a análise de Rangel e Bicalho quando atribuem aos presos brasi- leiros uma “utilidade catártica para as inseguranças de todo o corpo social”, justificando e naturalizando a superlotação, violência e inúmeras violações dentro do sistema prisional (Rangel, & Bicalho, 2016, p. 423).
Mais do que sujeitos perigosos e subjetividades punitivas, a ideia que trazemos aqui é que a prisão atua também no sentido da produção de subjetivi- dades atravessadas pelo medo e insegurança, como descreveremos nas próximas linhas. Ao abandona- rem os muros da prisão, os agentes se deparam com questões/sensações que afetam drasticamente seus modos de vida. Em quase todos os encontros, con- versas ou entrevistas, a temática da insegurança e do risco que correm fora do ambiente laboral aparece de forma intensa, conforme relato de um AP: Tem estatística que diz que é a segunda profis- são mais perigosa... Porque um presídio que tem quase 1.000 presos, com rotatividade, hoje saíram cinco, por exemplo, tão aí na rua já... Quer dizer, um cara desses, a família de um preso, alguém conhece a gente, sabe onde a gente mora… Tal relato sinaliza para a construção de um modo de vida marcado pela tensão e insegurança, obrigando os AP a estarem vigilantes dentro, mas principal- mente fora da prisão. Nessa mesma direção outro AP relata: “Se você pegar um preso, e cada preso conhe- cer cinco pessoas... E dessas cinco conhecer mais cinco... Aí, fodeu”. Os detentos (e sua rede de conta- tos) enquanto sujeitos perigosos constituem ameaça virtual fora dos muros da prisão, nas ruas, esquinas, semáforos. “Se paro no sinal e encosta uma moto do lado boto logo a mão na arma” (AP). Esse modo de vida, de andar “ligado” diaria- mente constitui o dia a dia dos trabalhadores. A ques- tão da (in)segurança faz-se presente muitas vezes nos discursos desses atores, não só enquanto elemento componente do ambiente de trabalho, mas também (e principalmente) no ambiente extramuros, em suas vidas pessoais: “Eu não tenho medo de trabalhar. Eu tenho medo de viver lá fora” (AP). Assim, o trabalho como agente penitenciário tem efeitos e produz modos de vida específicos. Além do medo, a limitação com relação ao lazer, vida social, e a frequentar lugares públicos aparece aqui como importante consequência do trabalho nas prisões: “Eu vivo privado de ir à festa que eu quiser, ou a deter- minados lugares. Eu não sento em um restaurante com as costas pra rua. Ninguém aqui faz isso” (AP). É nesse contexto, portanto, que vai se produzindo uma certa privatização da vida social, na medida em que muitos trabalhadores optam por frequentar luga- res privados, ou mesmo nem sair de casa. Os relatos sobre as limitações da vida extramuros, sobretudo pela insegurança e pelo perigo atrelado a profissão de AP são inúmeros: “A gente não pode ir na praia, porque 40% é bandido, não pode frequentar os locais que o povão frequenta... a gente tem que desembolsar muito mais pra ter um lazer...”. Ou ainda: “Já que não tenho para onde sair, eu procuro fazer um ambiente em casa em que eu possa convidar alguns amigos para beber em casa, tomar uma em casa, um chur- rasco, um negócio em casa, nunca sair”. Tais relatos chamam a atenção por se assemelhar a possíveis relatos de alguém que também cumpre pena de privação de liberdade. Quase como uma pri- são domiciliar: “Somos presos sem grades”, nos disse certa vez um AP.
Figueiró R. A.; & Dimenstein M. (2018). Subjetivação em Agentes Penitenciários. e todos. Produz-se assim os vigilantes, trabalhadores em tempo integral, atentos 24 horas por dia. Tudo em nome da segurança. Sua função deixou de ser, há muito tempo, custodiar presos. O AP agora deve tentar ser vigilante para preservar sua vida, mas tam- bém para operar a vigilância fora dos muros da pri- são. É uma extensão do olho panóptico (Foucault, 2007). Sua escolha profissional faz com que escolha também determinados modos de vida, produzindo em seu dia a dia sensações geralmente presentes nos campos de batalha. E, assim como nos campos de batalha, a vida dessas pessoas também presencia mortes, sobretudo morte das muitas possibilidades que a vida poderia proporcionar, produzindo uma despotencialização desses sujeitos. Assim, temos um sistema penal/prisional que ultrapassa os seus 200 anos, sem que nada de potente se produza. Ao contrário, temos a reinven- ção de estratégias/táticas de controle, que produzem efeitos catastróficos também na vida dos trabalhado- res desse sistema. O bandido irrecuperável, o castigo e o medo são palavras que povoam nosso dia a dia, limitando nossas possibilidades de vida, produzindo morte, dor e decadência: “então a gente se acostuma nessa vida de medo. A gente tem uma vida de medo, sabe? A gente não tem uma vida normal, mas a gente se acostuma” (AP).
Os efeitos do trabalho no cárcere não afetam apenas a vida dos agentes penitenciários. Inúmeros são os relatos dos efeitos nocivos da prisão inva- dindo o ambiente domiciliar e alcançando outros membros da família: “Eu nunca saio com minha mulher e meu filho, pra dar uma volta no bairro. Somos presos sem grades”. Ao entrevistarmos algumas esposas/companhei- ras desses sujeitos, surgem falas que revelam que tal modo de vida se espalha, quase que por contágio, transformando drasticamente a rotina dessas famí- lias. Em uma de nossas conversas com Dona Carmen, esposa de um AP há mais de 20 anos, percebemos suas dificuldades em lidar com os problemas advindos da profissão do marido: “Às vezes ele fica agitado até dor- mindo, ele me acorda e fica [perguntando] ‘ainda tem ladrão aqui?’”. São comuns os relatos de manifestações oníricas aterrorizantes, dificuldades para dormir, incluindo também o uso de medicação controlada para lidar com o convívio diário com uma rotina que desgasta e transforma as pessoas. Ainda em diálogo com Dona Carmen, os relatos sobre a mudança sofrida por seu marido, há 11 anos no sistema prisional, e as reper- cussões disso na família são enfáticos: “[ele, o marido] Mudou completamente. Não é o mesmo, antes de 11 anos ele era uma pessoa, depois de 11 anos ele é outra pessoa”. Os relatos sinalizam para os efeitos da violên- cia e constantes ameaças sofridas pelos agentes: “até a gente mesmo, eu fico, minha filha também, ela ta tomando calmante porque quando o pai dela sai, ela fica ‘mainha, painho não chegou ainda?’”. Nesse sentido, o fato de ter um membro da famí- lia ocupando a função de agente penitenciário produz sentimentos diversos entre os familiares, dentre os quais o medo e a ansiedade ganham destaque, prin- cipalmente no que diz respeito à integridade física daquele que trabalha como AP. Nem as crianças esca- pam: “É, até o menino [de 6 anos] mesmo fala... outro dia ele disse: ‘Mainha, eu só fico sonhando que pai- nho vai morrer no trabalho’, e começou a chorar [...]”. Além disso, não é rara a eclosão de brigas e con- flitos conjugais, em geral ocasionados pelo modo de vida desenvolvido em virtude da profissão de agente penitenciário. Ao não adotar os procedimentos de segurança, já comuns entre os agentes, Dona Carmen relata a reação do marido: “[Ele diz:] ‘fecha o portão, não deixa o portão aberto’. Quando eu saio e não olho, ele explode”. Segundo o marido: “Você sai aí, pode ter uma pessoa, um bandido...”. A profissão de AP, portanto, além de produzir uma mudança na rotina nos próprios agentes muitas vezes altera a rotina de outros membros da família, o que está diretamente ligado ao surgimento de con- flitos. Em uma de nossas visitas, tivemos a oportuni- dade de conversar com Camila, casada há cinco anos com Diogo. Camila explica que, apesar de possuir um emprego fixo, nunca chega ao trabalho no mesmo horário. Segundo ela, o marido entende que é neces- sário alterar os horários, para evitar possíveis embos- cadas. Assim, deixa a esposa às 6 horas, 7 horas ou às 8 horas, e nem sempre vai buscá-la, para evitar uma rotina fixa (o que facilitaria a ação de um desafeto), gerando conflitos entre o casal: [...] uma discussão grande que acontece aqui é quando eu vou levar ela pro trabalho, eu tento mudar muito os horários, apesar de que ela tem
Psicologia: Ciência e Profissão 2018 v. 38 (núm. esp.2), 131-143. que chegar naquele horário no trabalho, às vezes eu vou levar ela e, às vezes, eu não vou buscar, às vezes, eu vou buscar e não vou levar, às vezes, chego mais atrasado… Além disso, não é apenas a rotina de trabalho que muitas vezes se vê afetada por esse modo de vida. Tal como relatamos no tópico anterior, a vida social das famílias de agentes penitenciários é marcada por limitações. O pouco uso de espaços públicos, e a consequente diminuição das possibilidades de lazer marcam o dia a dia dessas famílias, agravando ainda mais os conflitos familiares: “Eu quero sair de casa, aí começa a briga dentro de casa, o que ele só quer fazer é assistir vídeo em casa, ai eu digo: ‘vamos pro cinema?’, mas ele diz ‘não’ [...], aí fica difícil”. Além da falta, ou da dificuldade de praticar ati- vidades em locais públicos, quando isso acontece em geral é atravessado pelos sentimentos de tensão, medo e insegurança: [...] mudou tudo, nossa vida mudou depois que ele passou a ser agente, a gente não tem mais aquela segurança. Para sair com ele a gente tem medo, entendeu? A gente foi para missa, a minha menina deu uma crise de nervos nela, de ficar assim, ó, tremendo, tremendo todinha, quando ela vê qualquer pessoa estranha, ela diz: “Mainha tem uma pessoa estranha na bicicleta!” Dona Carmen segue seu relato, dando-nos a dimensão do que foi perdido, a partir do ingresso do marido no sistema prisional: “Quando ele não era agente, a gente sempre ia para praia, a gente ia pro sho- pping, a gente saía, ia pro churrasquinho, às vezes para um parque de diversão... Nunca mais... Entendeu?”. As saídas em família ganham assim novos contor- nos. É preciso agora incorporar outras preocupações. O lazer, talvez, seja a última delas: “E quando sai pros cantos é assim, procurando, se me atacarem aqui, se alguém vir de lá para cá eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, já vai...”. E finaliza: “A gente vive os dias em sus- pense”. Aqui não são apenas os dias que são vividos em suspense. É a própria vida que se encontra bar- rada, aprisionada, “suspensa”. Mais do que uma modificação de hábitos e comportamentos, o convívio com o ambiente pri- sional tem colocado em funcionamento um pro- cesso de subjetivação bastante específico para esses trabalhadores. Ganha destaque aqui os “desejos de prisão”, materializados no dia a dia dos AP. Tal como os “desejos de manicômio”, descrito por Machado e Lavrador (2001, p. 46) (que consiste no desejo em nós de controlar, oprimir, subjugar etc., sobretudo no que diz respeito ao aprisionamento da experiência da loucura, da alteridade), defendemos aqui a ideia de que produz-se no cotidiano desses trabalhadores o desejo não só de encarcerar, trancar, prender os possíveis suspeitos, bandidos que povoam os noti- ciários policiais, mas, principalmente, desejo de prisão, de proteção, de segurança, desejo que temos de habitar casas, condomínios repletos de aparatos de segurança, enfim, de nos trancafiar, de possuir tudo aquilo que possa nos dar uma suposta segu- rança, diante da imensa incerteza que é viver. Segu- rança que se, supostamente alcançada, traz como condição uma redução de nossas possibilidades de ação, um empobrecimento de nossas vidas. Tal como a fala do AP, relatada anteriormente: “Eu não tenho medo de trabalhar. Eu tenho medo de viver lá fora”. As linhas de subjetivação produzidas aqui ajudam a forjar esse desejo de prisão, afirmando-a como um equipamento útil, capaz de nos dar algum tipo de segurança. Dessa forma, está em curso em nossos dias um modo de gestão das vidas, uma biopolítica, con- forme propôs Foucault (1984). Modificando as estra- tégias disciplinares de controle, a biopolítica propõe pensar o controle das populações, atentando para as estatísticas (natalidade, mortalidade), previsões, estimativas, preocupando-se com o global (Fou- cault, 1984). Acima de tudo, trata-se de pensar e gerir os indivíduos, não apenas no nível individual, do detalhe, através de estratégias “globais de agir de tal maneira que se obtenham estados globais de equilíbrio, de regularidade; em resumo, de levar em conta a vida, os processos biológicos do homem-es- pécie e de assegurar sobre eles não uma disciplina, mas uma regulamentação” (Foucault, 1984, p. 294). Regulamentação da população, da norma, da vida. Mais do que nunca, entra em cena a tática de fazer viver e deixar morrer (Foucault, 1984). Para que se faça viver, não de qualquer maneira, mas viver de um modo específico, hegemônico, tal gestão das vidas no contemporâneo toma como pilar central de suas estratégias a produção de subjetivi- dades. Em especial, os dados e análises propostas nesse texto trazem à tona o modo como o poder
Psicologia: Ciência e Profissão 2018 v. 38 (núm. esp.2), 131-143. dos afetos tristes, os AP tem sua capacidade de agir, de existir diminuídas. Trata-se aqui da produção e sujeitos despotencializados, diminuídos. Produz-se assim, sujeitos com pouca capacidade de ação, ape- nas capazes de uma existência passiva. Para Espinosa (1983), a atividade e a passividade dizem respeito a dois modos distintos de existência. Enquanto o primeiro diz respeito à capacidade de agir de maneira afirmativa, quando somos a causa daquilo que se produz em (ou fora de) nós, o segundo modo de existência está ligado a uma perspectiva de vida reativa, na qual o sofrimento é o resultado, sobretudo, daquilo que produzem em nós. Dessa forma, temos uma “ação”, somos ati- vos quando agimos, somos a causa de nossas afec- ções, daquilo que se produz em nós ou fora de nós, ou somos passivos (temos, portanto, uma “paixão”) quando nossas afecções respondem a aquilo que age em nós, ou seja, algo se produz em nós a partir de for- ças e causas externas: Logo, não se pode falar em vida ativa no dia a dia dos agentes penitenciários. Se o medo é o principal afeto que move seu conatus , temos prin- cipalmente servidão, passividade. A partir disso, a reflexão que é possível fazer é a de que a prisão está no centro desse processo, produzindo linhas de força, enunciados, linhas de subjetivação que se articulam aos demais componentes dos sistemas de justiça, produzindo modos de vida pouco potentes. Ainda segundo Chauí (2011, p. 152): “Atividade é liberdade; passividade, servidão”. Atravessados pelo medo, os agentes sobrevi- vem ao cárcere despotencializados, solitários em suas jornadas de passividade e servidão. Segundo Espinosa (1983), “o medo (Metus) é uma tristeza ins- tável nascida da ideia de uma coisa futura ou pas- sada, do resultado da qual duvidamos numa certa medida” (p. 222). Dentre as paixões tristes, o medo figura entre as mais devastadoras: “Juntamente com o ódio, o medo, escreveu Espinosa, é a mais triste das paixões tristes, caminho de toda a servidão. Quem o sentiu, sabe” (Chauí, 2011, p. 138). As pai- xões nascidas da tristeza são afetos enfraquecedo- res do conatus , paixões fracas (Chauí, 2011). Além disso, o medo, enquanto paixão triste, se articula a outras “determinando a maneira de sentir, viver e pensar dos que a ele são submetidos” (Espinosa, 1983, p. 152), produzindo, assim, os modos de vida dos agentes penitenciários. É assim que os AP vão constituindo uma deter- minada maneira de habitar o mundo, concebendo a subjetividade, a vida, o mundo, como algo limitado. Produzidos, moldados pela prisão, os agentes conce- bem os presos como perigosos, por vezes irrecupe- ráveis, e a vida como uma ameaça, um perigo a ser evitado. Resta reagir com desejo de punição, com vigilância, e com medo. Sob a égide dessa paixão triste, quando não estão na prisão, trancam-se em suas casas, em seus condomínios, reduzindo drasti- camente suas possibilidades de existência, tal como já nos alertara Espinosa: “A tristeza diminui ou reduz a capacidade de agir do homem”, enfraquecendo seu conatus (Espinosa, 1983, p. 205). Refletindo ainda com Espinosa (1983), pode- mos dizer que os afetos tristes são produtos dos maus encontros. Um corpo tem um mau encon- tro quando tem sua potência de agir diminuída, em oposição aos bons encontros, que produzem ampliação, aumento de potência. Nesse sentido, a constatação que é possível fazer aqui é a de que a prisão produz maus encontros, despotencializando os sujeitos que por ela passam (mas não apenas esses). É a prisão (mas não apenas ela) que produz essa maneira de se relacionar com o crime, com aqueles que infringiram as leis, produzindo medo, sofrimento, diminuição da potência de agir. A pri- são produz maus encontros. Ao produzir maus encontros, disparando afetos tristes, a prisão municia a sociedade de controle com novas armas, novas estratégias, táticas. Produz-se o medo e com isso a servidão, a passividade, reforça-se o instituído, desarticulam-se as forças instituintes. Governa-se mais fácil com medo. A quem interessa um Estado baseado na servidão?
Essa pesquisa se propôs a analisar os efeitos do trabalho no cárcere na vida de agentes penitenciários e de seus familiares, em uma unidade prisional de uma capital do nordeste brasileiro. Os resultados apontam para processos de subjetivação bastante peculiares, que agem no sentido da produção de determinadas concepções sobre o crime/criminoso, corroborando com o processo de afirmação de subjetividades peri- gosas. Aliado a essas linhas de subjetivação, percebe- -se entre os sujeitos investigados a produção de subje- tividades punitivas, dispostas a infligir uma dose extra
Figueiró R. A.; & Dimenstein M. (2018). Subjetivação em Agentes Penitenciários. de sofrimento aos criminosos como uma maneira de solucionar o problema da criminalidade. Além disso, outro ponto importante mapeado na pesquisa diz respeito a presença do medo no coti- diano dessas pessoas, o que temos denominado de produção de subjetividades amedrontadas. Agentes penitenciários e seus familiares têm suas vidas mar- cadas pelo medo, insegurança e tensão, com a con- sequente diminuição das atividades sociais e de lazer em espações públicos. Desse modo, produz-se uma existência passiva, despotencializada, atravessados por afetos tristes, materializando um modo de vida marcado pela redução das possibilidades de vida e submetido a estratégias de controle que operam agora a céu aberto. Embora as estratégias de controle indicadas nessa discussão não sejam uma novidade, acreditamos que a análise aqui posta aponta para novas funcionalida- des prático-discursivas no campo penal. A prisão, que surge como um equipamento destinado a armazenar criminosos, na contemporaneidade passa a desem- penhar outros papéis, produzindo linhas discursivas com relação ao crime/criminoso, afirmando/cons- truindo sua suposta periculosidade, operando uma modulação do cotidiano de agentes penitenciários e seus familiares. Tal estratégia, portanto, torna-se importante linha de força na contemporaneidade pela capacidade de operar um controle que extrapola os limites físicos do cárcere, favorecendo a manuten- ção do instituído e a despotencialização da vida.
Alves, M. F. F. (2011). Um estudo sobre os modos de subjetivação na sociedade disciplinar e de controle a partir dos agenciamentos existentes na contemporaneidade. In: H. R. Cardoso Júnior, & F. C. S. Lemos (Orgs.), Foucaut e Deleuze/Guattari: Corpos, instituições e subjetividades (pp. 55-74). São Paulo, SP: Fapesp. Bert, J. F. (2012). Securite, dangerosite, biopolitique: trois versants d’une nouvelle pratique de pouvoir sur les indi- vidus. Psicologia & Sociedade; 24 (n.spe.), 2-7. https://doi.org/10.1590/S0102- Bezerra, C. M., Assis, S. G., & Constantino, P. (2016). Sofrimento psíquico e estresse no trabalho de agentes peni- tenciários: Uma revisão da literatura. Ciência & Saúde Coletiva, 21 (7), 2135-2146. https://doi.org/10.1590/1413-
Bicalho, P. G., & Reishoffer, J. C. (2009). Insegurança e produção de subjetividade no Brasil Contemporâneo. Fractal, 21(2), 225-444. https://doi.org/10.1590/S1984- Chauí, M. (2011). Desejo, paixão e ação na ética de Espinosa. São Paulo, SP: Companhia das Letras. Chies, L. A. B., Barros, A. L. X., Lopes, C. L. A. S., & Oliveira, S. F. (2005). Prisionalização e Sofrimento dos Agentes Penitenciários: Fragmentos de uma pesquisa. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 13 (52), 309-335. Coimbra, C. M. B. (2010). Modalidades de aprisionamento: processos de subjetivação contemporâneos e poder punitivo. In: P. V. Abramovay, & V. M. Batista (Orgs.), Depois do grande encarceramento (pp. 183-194). Rio de Janeiro, RJ: Revan. Deleuze, G. (1992). Conversações. São Paulo, SP: Ed. 34. Deleuze, G. (1990). ¿Que és un dispositivo? In: G. Deleuze (1990), Michel Foucault, filósofo (pp. 155-161). Barcelona: Gedisa. Espinosa, B. (1983). Pensamentos metafísicos, Tratado da correção do intelecto, Ética (3a ed.), Tratado político, Cor- respondência (Coleção Os pensadores, M. S. Chauí, trad.). São Paulo, SP: Abril Cultural. Foucault, M. (1984). Em defesa da sociedade: C urso no College de France (1975-1976). São Paulo, SP: Martins Fontes. Foucault, M. (2007). Vigiar e punir: História da violência nas prisões. Petrópolis, RJ: Vozes. Goffman, E. (2008). Manicômios, prisões e conventos. São Paulo, sp: Perspectiva. Guattari, F., & Rolnik, S. (1986). Micropolítica: Cartografias do desejo. Petrópolis, RJ: Vozes. Lobo, L. F., Nascimento, M. L., & Coimbra, C. (2014). Sociedade de segurança: Algumas modulações na cidade do Rio de Janeiro. In: T. M. G. Fonseca, & E. M. M. Arantes (Orgs.), Cartas a Foucault (pp. 121-146). Porto Alegre, RS: Sulina.
Figueiró R. A.; & Dimenstein M. (2018). Subjetivação em Agentes Penitenciários. Received 08/17/ Approved 08/23/ Recibido 17/08/ Aceptado 23/08/ Como citar: Figueiró, R. A., & Dimenstein, M. (2018). Controle a céu aberto: Medo e processos de subjetivação no cotidiano de agentes penitenciários. Psicologia: Ciência e Profissão , 38 (n.spe.2), 131-143. https://doi.org/10.1590/1982- How to cite: Figueiró, R. A., & Dimenstein, M. (2018). Open-air control: Fear and processes of subjectivation in the daily life of penitentiary agents. Psicologia: Ciência e Profissão , 38 (n.spe.2), 131-143. https://doi.org/10.1590/1982- Cómo citar: Figueiró, R. A., & Dimenstein, M. (2018). Control a cielo abierto: Miedo y procesos de subjetivación en lo cotidiano de agentes penitenciarios. Psicologia: Ciência e Profissão , 38 (n.spe.2), 131-143. https://doi.org/10.1590/1982-