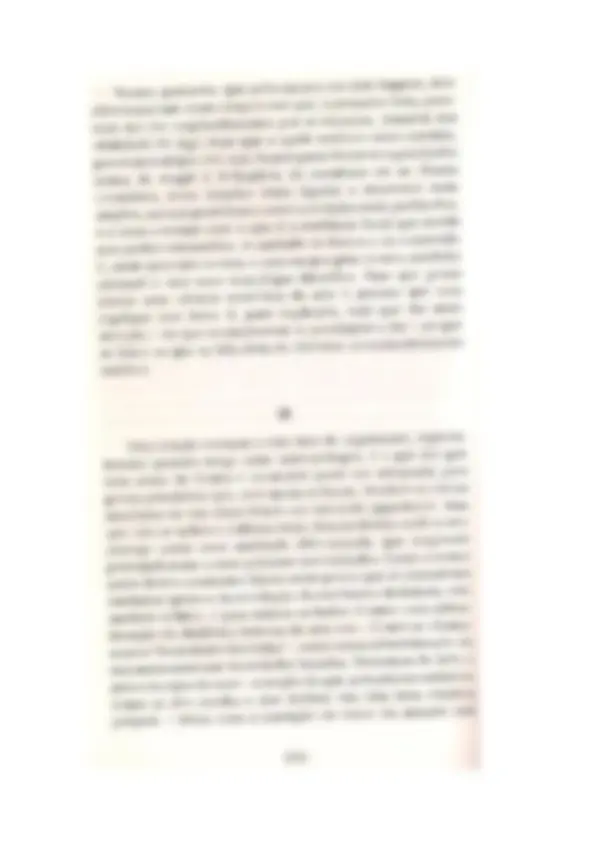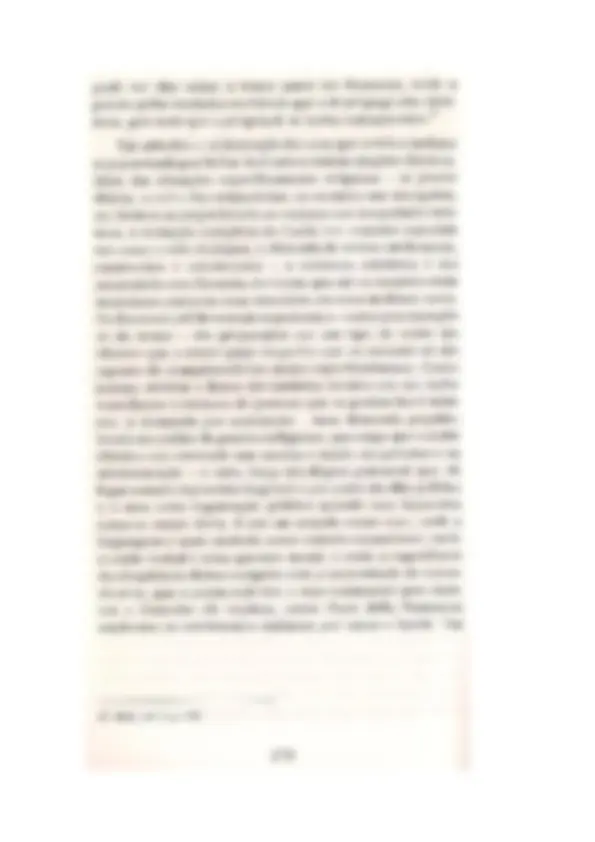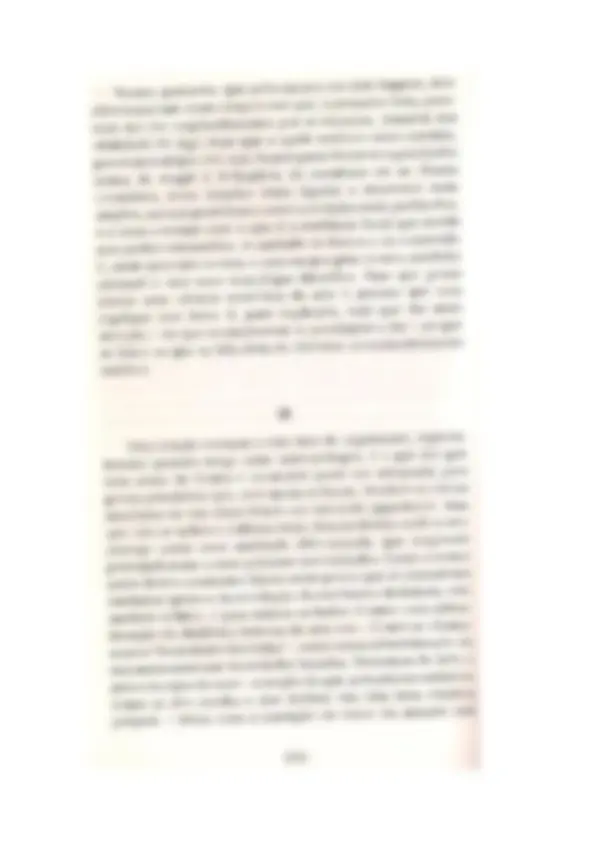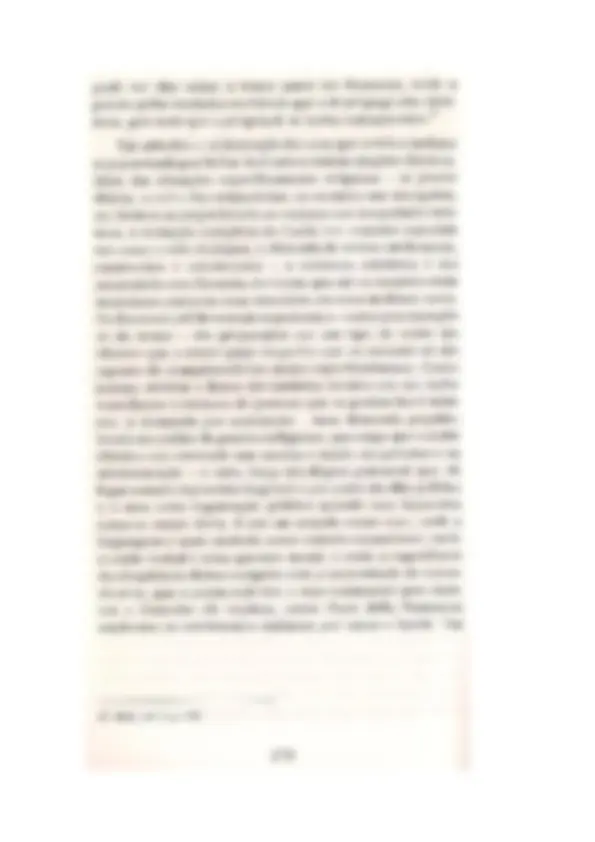Pré-visualização parcial do texto
Baixe Cap - 5 - A - Arte - Como - Um - Sistema - Cultural e outras Notas de estudo em PDF para Artes, somente na Docsity!
Capítulo 5 A arte como um sistema cultural I Como é notório, é difícil falar de arte. Pois a arte parece existir em um mundo próprio, que o discurso não pode alcançar. Isso acontece mesmo quando ela é composta de palavras, como no caso das artes literárias, mas a dificuldade é ainda maior quando se compõe de pigmentos, ou sons, ou pedras, como no caso das artes não-literárias. Poderíamos dizer que a arte fala por si mesma: um poema não deve significar e sim ser, e ninguém poderá nos dar uma resposta exata se quisermos saber o que é O jazz. Artistas sentem isso mais do que ninguém. A maior parte deles considera o que foi escrito e dito sobre sua obra, ou sobre uma obra que admiram, quando muito, irrelevante e, no mínimo, uma distração que os afasta de seu trabalho. “Todos querem entender a arte”, escreveu Picasso, “por que não tentam entender a canção de um pássaro...? Quem tenta explicar quadros, acaba se esforçando em vão.”! Ou, se isto parece demasiado avant-garde, podemos citar Millet, quan- do se opôs a que o classificassem como um saint-simonista: “Os comentários sobre meu livro Man with a hoe me pare- cem muito estranhos, e lhe agradeço por ter me informado sobre eles, pois isso me deu mais uma oportunidade de me maravilhar com as idéias que me atribuem. Meus críticos são pessoas de bom gosto e educação, mas não sou capaz de colocar-me no lugar deles, e como, desde que nasci, nunca 1. Citado em R. Goldwater e M. Treves, Artists on art. Nova Iorque, 1945, p. 421. 142 vi outra coisa senão o campo, tento expressar da melhor forma possível o que vi e o que senti quando trabalhava” * Qualquer pessoa que seja sensível a formas estéticas partilha desse sentimento. Até mesmo aqueles entre nós que não são nem místicos nem sentimentais, e nem dados a ímpetos de devoção estética, se sentem pouco à vontade quando discursam prolongadamente sobre uma obra de arte na qual julgam ter visto algo de valor. Aquilo que vimos, ou que imaginamos ter visto, parece ser tão maior e tão mais importante que o que logramos expressar com nossa balbú- cie, que nossas palavras soam vazias, cheias de ar, até falsas. Após qualquer conversa sobre arte, a expressão “quando não somos capazes de falar, devemos ficar em silêncio” chega a parecer uma doutrina bastante aceitável. À exceção daqueles que são verdadeiramente indife- rentes à Arte, no entanto, pouquíssimas pessoas, e entre elas os próprios artistas, conseguem manter esse silêncio. Ao contrário, a percepção de algo importante em alguma obra especial ou nas artes de um modo geral, encoraja comentá- rios incessantes, sejam estes falados ou escritos. Não pode- mos simplesmente esquecer em seu canto, banhando-se em sua própria significância, algo que significa tanto para nós. Portanto, descrevemos, analisamos, comparamos, julgamos, classificamos; elaboramos teorias sobre criatividade, forma, percepção, função social; caracterizamos a arte como uma linguagem, uma estrutura, um sistema, um ato, um símbolo, um padrão de sentimento: buscamos metáforas científicas, espirituais, tecnológicas, políticas; e se nada disso dá certo, juntamos várias frases incompreensíveis na expectativa de que alguém nos ajudará, tornando-as mais inteligíveis. À inutilidade superficial de uma conversa sobre arte parece corresponder uma necessidade profunda de falar sobre ela 2. CL ibid, p. 292-93. 143 de chegar à conclusão de que falar sobre arte unicamente em termos técnicos, por mais elaborada que seja esta discus- são, é o suficiente para entendê-la; e que o segredo total do poder estético localiza-se nas relações formais entre sons, imagens, volumes, temas ou gestos. Em qualquer parte do mundo, e mesmo, como mencionei anteriormente, para uma maioria entre nós, outros tipos de discurso cujos ter- mos e conceitos derivam de interesses culturais que a arte pode servir, reflctir, desafiar, ou descrever, mas não, por si só, criar, se congregam ao redor da artc para conectar suas energias específicas à dinâmica geral da experiência huma- na. “O objetivo de um pintor”, escreveu Matisse, a quem ninguém pode acusar de dar pouco valor à forma, “não deve ser considerado separadamente de seus meios pictóricos, e, por sua vez, estes devem ser tanto mais completos (e não quero dizer mais complicados) quanto mais profundo for seu pensamento. Não consigo distinguir entre o sentimento que tenho pela vida e minha forma de expressá-lo.” O sentimento que um indivíduo, ou, o que é mais crítico, já que nenhum homem é uma ilha e sim parte de um todo, o sentimento que um povo tem pela vida não é transmitido unicamente através da arte. Ele surge em vários outros segmentos da cultura deste povo: na religião, na moralidade, na ciência, no comércio, na tecnologia, na política, nas formas de lazer, no direito e até na forma em que organizam sua vida prática e cotidiana. Discursos sobre arte que não sejam meramente técnicos ou espiritualizações do técnico — ou pelo menos a maioria deles — têm, como uma de suas funções principais, buscar um lugar para a arte no contexto das demais expressões dos objetivos humanos, e dos mode- los de vida a que essas expressões, em scu conjunto, dão sustentação. Mais que a paixão sexual e o contato com o sagrado, outros dois assuntos sobre os quais, mesmo quan- 4. Citado em Goldwater e Treves, Artists on art, p. 410. 145 do necessário, também é difícil falar, não podemos deixar que o confronto com os objetos estéticos flutue, opaco e hermético, fora do curso normal da vida social. Eles exigem que os assimilemos. O que isso implica, entre outras coisas, é que, em qual- quer sociedade, a definição de arte nunca é totalmente intra-estética; na verdade, na maioria das sociedades ela só é marginalmente intra-estética. O maior problema que surge com a mera presença do fenômeno do poder estético, seja qual for a forma em que se apresente ou a habilidade que o produziu, é como anexá-lo às outras formas de atividade social, como incorporá-lo na textura de um padrão de vida específico. E esta incorporação, este processo de atribuir aos objetos de arte um significado cultural, é sempre um proces- so local; o que é arte na China ou no Islã em seus períodos clássicos, ou o que é arte no sudeste Pueblo ou nas monta- nhas da Nova Guiné, não é certamente a mesma coisa, mesmo que as qualidades intrínsecas que transformam a força emocional em coisas concretas (e não tenho a menor intenção de negar a existência destas qualidades) possa ser universal. A variedade, que os antropólogos já aprenderam a esperar, de crenças espirituais, de sistemas de classificação, ou de estruturas de parentesco que existem entre os vários povos, e não só em suas formas mais imediatas, mas também na maneira de estar no mundo que encorajam e exempli- ficam, também se aplica a suas batidas de tambor, a seus entalhes, a seus cantos e danças. É a incapacidade de compreender essa variedade que leva a muitos dos estudiosos da arte não-ocidental, princi- palmente daquela a que chamamos de “arte primitiva”, a expressar um tipo de comentário que ouvimos com frequên- cia: que os povos dessas culturas não falam, ou falam pouco, sobre arte. O que esses comentários, na verdade, querem dizer, é que, a não ser de forma lacônica, ou críptica, como se tivessem muito pouca esperança de serem compreendi- dos, os povos que esses estudiosos observam não falam de 146 lizada de um fenômeno que, supostamente, está sendo inspecionado intensamente, quando, na realidade, não está nem mesmo na nossa linha de visão. Pois, como não é nenhuma surpresa, Matisse estava certo: os meios através dos quais a arte se expressa e O sentimento pela vida que os estimula são inseparáveis. Assim como não podemos considerar a linguagem como uma lista de variações sintáticas, ou o mito como um conjunto de transformações estruturais, tampouco podemos entender objetos estéticos como um mero encadeamento de formas puras. Tomemos como exemplo um tema aparentemente tão transcultural e abstrato como a linha, e consideremos seu significado na escultura ioruba, segundo a descrição brilhante feita por Robert Faris Thompson. A precisão li- near, diz Thompson, a mera clareza do traço, É a preocu- pação principal dos escultores ioruba e daqueles que avaliam a obra do escultor. E o vocabulário de qualidades lincares, que os ioruba usam coloquialmente e em referência a um espectro de interesses muito mais amplo do que simplesmente a escultura, é sutil e extenso. E não são só suas estátuas, potes e outros objetos semelhantes, que os ioruba marcam com linhas: fazem o mesmo com seu rosto. Cortes em forma de linhas com profundidade, direção e compri- mento variáveis, feitos no maxilar, tornam-se cicatrizes que servem como indicadores da linhagem, da posição pessoal, e do status daqueles que exibem as cicatrizes em suas faces; e a terminologia usada pelo escultor e pelo especialista em cicatrizes — “cortes” são diferentes de “talhos” e “espetadela” ou “marca de garras”, de “fendas abertas” — são precisa e exatamente correspondentes, nos dois casos. Mas a impor- tância do traço não termina aí. Os ioruba associam a linha com civilização: “Este país tornou-se civilizado”, em ioruba, 6. RE Thompson, “Yoruba artistic criticism,” in The traditional artist in african societies, org. WL. d'Azaredo, Bloomington, Indiana, 1973, p. 19-61 148 quer dizer literalmente: “esta terra tem linhas em sua face”. “Civilização' em ioruba,” continua Thompson, é ilâjtá — rosto com marcas de linhas. O mesmo verbo que civiliza O rosto com marcas que identificam os membros de várias linhagens urbanas e citadinas, civiliza a terra: Ó sákékeé; Ó sáko (ele talhou as marcas [da cicatriz]; ele limpa o mato). O mesmo verbo que abre marcas em uma face yoruba, abre estradas ou fronteiras na floresta: Ó lângn; Ó là áala; Ó lapa (ele abriu uma nova estrada; ele demarcou uma nova fron- teira; ele abriu um novo caminho). Na verdade, o verbo básico para cicatrizar (lã) tem associações múltiplas relacio- nadas com a imposição de um padrão humano sobre a desordem da natureza: pedaços de madeita, o rosto humano, e a floresta, todos são “abertos” ...para permitir que a quali- dade interior daquele objeto ou substância surja e se desta- que.” À preocupação constante que os escultores ioruba têm com a linha, e com formas específicas de linha, nasce, portanto, de algo mais que um prazer desinteressado em suas propriedades intrínsecas, ou de problemas técnicos da escultura, ou mesmo de alguma noção cultural generalizada que poderíamos isolar e considerar como estética nativa. Ela surge como consequência de uma sensibilidade específica, em cuja formação participa a totalidade da vida - e, segundo a qual, o próprio significado das coisas são as cicatrizes com que os homens as marcam. A compreensão desta realidade, ou seja, de que estudar arte é explorar uma sensibilidade; de que esta sensibilidade é essencialmente uma formação coletiva; e de que as bases de tal formação são tão amplas e tão profundas como a própria vida social, nos afasta daquela visão que considera a força estética como uma expressão grandiloquente dos pra- 7. Ibid, p. 35-36. 149 Para desenvolver o argumento de forma mais concreta, e para dissipar qualquer aura intelectualista ou literária que as palavras “ideacional” e “concepção” possam trazer consi- go, examinemos por um momento alguns aspectos de um dos outros poucos debates sobre arte tribal que consegue ser sensível a preocupações semióticas sem desaparecer em um nevoeiro de fórmulas: a análise feita por Anthony Forge da pintura plana em quatro cores dos abelam da Nova Guiné.? Nas palavras de Forge, o grupo produz “acres de pintura” nas folhas estendidas de estapes de sagu, todas produzidas em circunstâncias relacionadas a algum tipo de culto. Em seus vários trabalhos, Forge esboça os detalhes destas circunstâncias. O que para nós é de interesse imedia- to, no entanto, é o fato de que, embora a pintura abelam vá desde o figurativo mais óbvio até à abstração total (uma distinção que não tem qualquer significado para eles, já que sua pintura é declamatória e não descritiva), ela se relaciona com os demais componentes do universo de experiências dos abelam através de um motivo quase obsessivamente recorrente: uma forma oval pontiaguda, que tem o mesmo nome que o ventre de uma mulher, e o representa. É claro que esta representação é ligeiramente icônica, mas, para os abelam, o poder da conexão relaciona-se menos com a técnica — que não é uma façanha assim tão extraordinária — e mais com o fato de que, a representação, em termos de cor e formas (a linha tem, para eles, pouco valor como elemento estético, enquanto que a pintura tem um poder mágico) lhes permite lidar com uma preocupação constante, preocu- pação esta que abordam de formas distintas no trabalho, nos ritos, e na vida doméstica: a criatividade natural da mulher. O interesse pela distinção entre a criatividade feminina, que os abelam consideram pré-cultural, um produto da 9. A. Forge, “Style and meaning in sepik art.”, in Primitive art and society, org. Forge, p. 169-92. Veja também A. Forge, “The abelam artist.”, in Social organi- zation, org. M. Freedman, Chicago, 1967, p. 65-84. 151 própria biologia feminina, e, portanto, primário, e a criati- vidade masculina, que consideram cultural, dependente do acesso que os homens tenham a poderes sobrenaturais através dos ritos, e, portanto, derivado, permeia toda a cultura abelam. As mulheres criaram a vegetação e descobri- ram o inhame que os homens comem. Foram as mulheres que se encontraram pela primeira vez com os seres sobrena- turais, de quem se tornaram amantes, até que seus homens começaram a suspeitar c, finalmente descobrindo o que se passava, fizeram destes entes sobrenaturais — agora trans- formados em esculturas de madeira — o foco central de suas cerimônias rituais. E, é claro, as mulheres produzem homens da inchação de seus ventres. O poder masculino, que depen- de dos ritos — um assunto que hoje os homens escondem zelosamente das mulheres —, está, portanto, encapsulado no poder feminino, que depende de fatores biológicos; e é este fato prodigioso que as pinturas cobertas de formas ovais vermelhas, amarelas, brancas e negras (Forge contou onze destas formas em um pequeno quadro composto quase que exclusivamente delas) “retratam”. Retratam de uma forma direta, mas não ilustrativa. Pode- ríamos mesmo argumentar que ritos, mitos e a organização da vida familiar ou da divisão do trabalho são ações que refletem os conceitos desenvolvidos na pintura da mesma forma que a pintura reflete os conceitos subjacentes davida social. Todas essas questões são relacionadas com uma visão do mundo segundo a qual a cultura foi gerada no útero da natureza, como o homem foi gerado no ventre da mulher, e todas clas lhe dão um tipo específico de expressão. Como as linhas talhadas das esculturas ioruba, as formas ovais colori- das das pinturas abelam fazem sentido porque se relacionam com uma sensibilidade que elas mesmas ajudam a criar. No caso dos abelam, em vez de cicatrizes como sinais de civili- zação, temos pigmentos como símbolos do poder: Em geral, palavras referentes à cor (ou mais estritamente à tintas) são utilizadas somente para elementos relacionados com os ritos. Isso fica claro na forma como os abelam classi- 152 Vemos, portanto, que pelo menos em dois lugares, dois elementos tais como traço e cor que, à primeira vista, pare- cem ser tão resplandecentes por si mesmos, extraem sua vitalidade de algo mais que o apelo estético neles contido, por mais real que este seja. Sejam quais forem as capacidades inatas de reagir à delicadeza da escultura ou ao drama cromático, essas reações estão ligadas a interesses mais amplos, menos genéricos e com conteúdos mais profundos, e é essa conexão com o que é à realidade local que revela seu poder construtivo. A unidade da forma e do conteúdo é, onde quer que ocorra, é seja em que grau ocorra, UM feito cultural e não uma tautologia filosófica. Para que possa existir uma ciência semiótica da arte é preciso que esta explique este feito. E, para explicá-lo, terá que dar mais atenção — do que normalmente se predispõe a dar — ao que se fala e ao que se fala além do discurso reconhecidamente estético. x Uma reação comum a esse tipo de argumento, especia- Imente quando surge entre antropólogos, é a que diz que esta união de forma e conteúdo pode ser adequada para povos primitivos que, sem muita reflexão, fundem os vários domínios de sua experiência em um todo gigantesco, mas que não se aplica a culturas mais desenvolvidas onde a arte emerge como uma atividade diferenciada, que responde principalmente a suas próprias necessidades. Como a maior parte destes contrastes fáceis entre povos que se encontram em lados opostos da revolução da escritura € da leitura, este também é falso, e para ambos os lados: é tanto uma subes- timação da dinâmica interna da arte em — Como as chama- remos? Sociedades iletradas? — como uma sobrestimação da sua autonomia nas sociedades letradas. Deixemos de lado o primeiro tipo de erro — à noção de que as tradições artísticas como as dos ioruba e dos abelam não têm uma cinética própria — talvez com a intenção de tratar do assunto UM 154 pouco mais à frente. No momento, quero concentrar-me no segundo tipo de erro, examinando sucintamente a matriz da sensibilidade em dois empreendimentos estéticos bastante desenvolvidos e bastante distintos: a pintura do quattrocen- to e à poesia islâmica. Para referências à pintura italiana, utilizarei como fonte principal o livro recente de Michael Baxandall, Painting and experience in fifteenth century italy, que usa exatamente o mesmo tipo de abordagem que defendo neste ensaio.” Baxandall busca definir o que ele chama de “o olhar da época” — ou seja, “a bagagem intelectual que o público de um pintor do século XV isto é, outros pintores e as “classes patrocinadoras”, trazia no confronto com estímulos visuais complexos como quadros.”'? Um quadro, diz ele, é sensível aos vários tipos de habilidade interpretativa — estruturas, categorias, inferências, analogias — que a mente lhe traz: A capacidade que um homem possa ter para distinguir uma certa forma, ou uma relação entre formas, irá influenciar a atenção com que ele examina um quadro, Se ele é capaz de notar relações proporcionais, por exemplo, ou se tem algu- ma prática em reduzir formas complexas transformando-as em conjuntos de formas mais simples, ou se possui um conjunto amplo de categorias para tonalidades diferentes de vermelho e de marrom, estas habilidades podem levá-lo a ordenar sua experiência da Anunciação de Piero della cesca de uma maneira diferente daquela que seria utilizada por pessoas que não possuam estas habilidades, e de uma maneira muito mais rápida e profunda que a utilizada por pessoas cuja experiência de vida não incluiu tantas técnicas relevantes ao quadro. Pois é evidente que algumas qualidades perceptivas são mais relevantes para um determinado quadro que outras: um virtuosismo em classificar a maleabilidade de linhas flexíveis — uma técnica que muitos alemães, por exem- Lran- 11.M. Baxandall, Painting and experience in fifteenthb century Italy, Londres, 1972. 12. id. p.38 155 XV era religiosa, não somente em seu tema, mas também nos fins que se destinavam a servir. Quadros tinham a função de tornar os seres humanos mais profundamente conscientes das dimensões espirituais da vida; eram um convite visual a reflexões sobre as verdades do cristianismo. Frente a uma imagem atraente da Anunciação, da Assunção da Virgem, da Adoração dos Reis Magos, da Exortação a São Pedro, ou da Paixão, o observador deveria complementá-la, refletindo sobre seu próprio conhecimento do evento, ou sobre seu relacionamento pessoal com os mistérios que a pintura registrava. “Pois uma coisa é adorar um quadro” — como se expressou um pregador dominicano defendendo a pureza da arte —, “e outra bem diferente é aprender o que adorar através de uma narrativa pintada ”!5 Apesar disso, a relação entre idéias religiosas e imagens pictóricas (e pessoalmente creio que isso se aplica à arte de um modo geral) não era meramente expositiva; quadros não eram ilustrações do catecismo. O Pintor, ou pelo menos o pintor religioso, tinha como objetivo encorajar seu público a interessar-se pelas coisas primeiras e últimas, e não forne- cer uma receita ou um substituto para este interesse, nem uma transcrição dele. Sua relação, ou mais exatamente a relação que sua pintura apresentava com a cultura a seu redor, era interativa, ou, como diz Baxandall, complementar. Referindo-se à Transfiguração de Giovanni Bellini, uma representação da cena que é bastante indefinida, quase tipológica, mas, ao mesmo tempo, maravilhosamente plásti- ca, cle a chama de uma relíquia da cooperação entre Bellini e seu público — “a experiência que o século XV tem da Transfiguração era uma interação entre o quadro, a confi- guração na parede, e a atividade de visualização na mente do público - uma mente com equipamento e predisposições 15. Citado em ibid, p. 41. 157 diferentes das nossas.”'é Bellini podia contar com a colabo- ração de seu público, e desenhou seu painel para atrair essa colaboração, e não para representá-la. Sua vocação era cons- truir uma imagem a que uma espiritualidade específica pudesse forçosamente reagir. Como observou Baxandall, o público não necessita aquilo que já possui. Necessita, sim, um objeto precioso, no qual lhe seja possível ver aquilo que sabe; precioso o bastante, para que, ao ver nele o que sabe, possa aprofundar esse seu conhecimento. Existiam, na Irália do século XV vários tipos de institui- ções culturais ocupadas em formar a sensibilidade do públi- co, que convergiam com a pintura para criar o “olhar da época”; e nem todas eram religiosas, assim também como nem todos os quadros tinham motivos religiosos. Entre as instituições religiosas, talvez as mais importantes fossem os sermões populares, que classificavam e subclassificavam os eventos revelatórios e os personagens da mitologia cristã, e estabeleciam os tipos de atitude — inquietação, reflexão, questionamento, humildade, dignidade, admiração — apro- priados para cada caso, bem como ofereciam máximas sobre como deveriam ser as representações visuais desses temas. “Pregadores populares... treinavam suas congregações em um conjunto de habilidades interpretativas que eram cen- trais para a resposta que o século XV dava à pintura?” Os gestos eram classificados, as fisionomias caracterizadas, as cores transformadas em símbolos, e a aparência física das figuras principais discutida com um cuidado apologético. “Vocês me perguntam”, um outro pregador dominicano anunciava, a Virgem era morena ou loura? Albertus Magnus diz que ela não era só morena, nem simplesmente ruiva, nem só loura. Pois qualquer uma dessas cores, sozinha, dá à pessoa uma 16. Ibid,, p. 48. 17. Ibid. 158 não principalmente, com o movimento rítmico. A dança, portanto, não só dependia da capacidade de distinguir o intercâmbio psicológico entre figuras estáticas agru padas em desenhos sutis, uma espécie de organização de corpos, como aguçava essa capacidade — uma habilidade que os pintores também possuíam e usavam para provocar uma resposta do público. Especialmente a bassa danza, uma dança de passos lentos e movimentos geométricos que era popular na Itália da época, tinha configurações de agrupa- mento de figuras que pintores tais como Botticelli, na sua Primavera (que, como sabemos, gira em torno da dança das Graças) ou em seu Nascimento de Vênus, utilizou para organizar seu trabalho. A sensibilidade que a bassa danza representava, diz Baxandall, “compreendia uma capacidade por parte do pú- blico de interpretar as configurações de figuras, e uma experiência generalizada de arranjo semidramático [de cor- pos humanos] que permitiu a Botticelli e a outros pintores presumir que este mesmo público fosse igualmente capaz de interpretar os grupos que pintavam.”! Dada uma ampla familiaridade com formas altamente estilizadas de dança, que consistiam essencialmente em sequiências individuais de tableaux vivants, o pintor podia contar com uma compreen- são visual imediata do tipo de quadros de figuras, uma compreensão que não é tão comum em uma cultura como a nossa onde a dança é mais uma questão de movimento emoldurado entre poses que poses emolduradas entre mo- vimentos, e onde não existe muita sensibilidade para o gesto tácito. “A transmutação de uma arte social e popular de agrupamentos, em um tipo de arte onde um grupo de pessoas — pessoas que não estão gesticulando ou investindo, ou fazendo trejeitos — ainda consegue estimular um forte 19. Ibid., p: 80. 160 sentimento de... intercâmbio psicológico, é o problema: é pouco provável que nós tenhamos a predisposição adequa- da para perceber espontaneamente alusões tão sutis. Na sociedade como um todo, é principalmente entre as classes mais educadas, existe uma tendência a considerar a mancira como as pessoas se agrupam, a posição de cada uma delas em relação às outras, os ordenamentos da postura em que se colocam quando na companhia de outro, não como acidental e sim como resultado do tipo de relacionamento que existe entre essas pessoas. É esta tendência que serve como pano de fundo e ao mesmo tempo aprofunda a concepção de danças e pinturas como padrões de agrupa- mentos de corpos com um significado específico e implícito. No entanto, esta penetração mais profunda dos hábitos visuais na vida social, e da vida social em hábitos visuais, é mais aparente na segunda atividade que, na visão de Baxan- dall, teve uma influência formativa na maneira como os renascentistas viam sua pintura: aquilo que chamamos de avaliação. Foi importante para a história da arte, observa Baxandall, que só a partir do século XIX (e, ainda assim, só no Ocidente) começassem a embalar mercadorias em recipientes com um tamanho padrão. “Antes disso, um recipiente — barris, sacos ou fardos — eram únicos, e, portanto, a capacidade de calcular o volume de cada recipiente de forma rápida e precisa era uma condição essencial para que qualquer em- presa progredisse.”*! O mesmo acontecia com comprimen- tos, como no caso do comércio com tecidos; proporções, no caso da corretagem; ou índices, no caso de inspeções. Não era possível sobreviver no mundo do comércio sem essas 20. ibid, p. 76. 21. Ibid., p. 86. 161