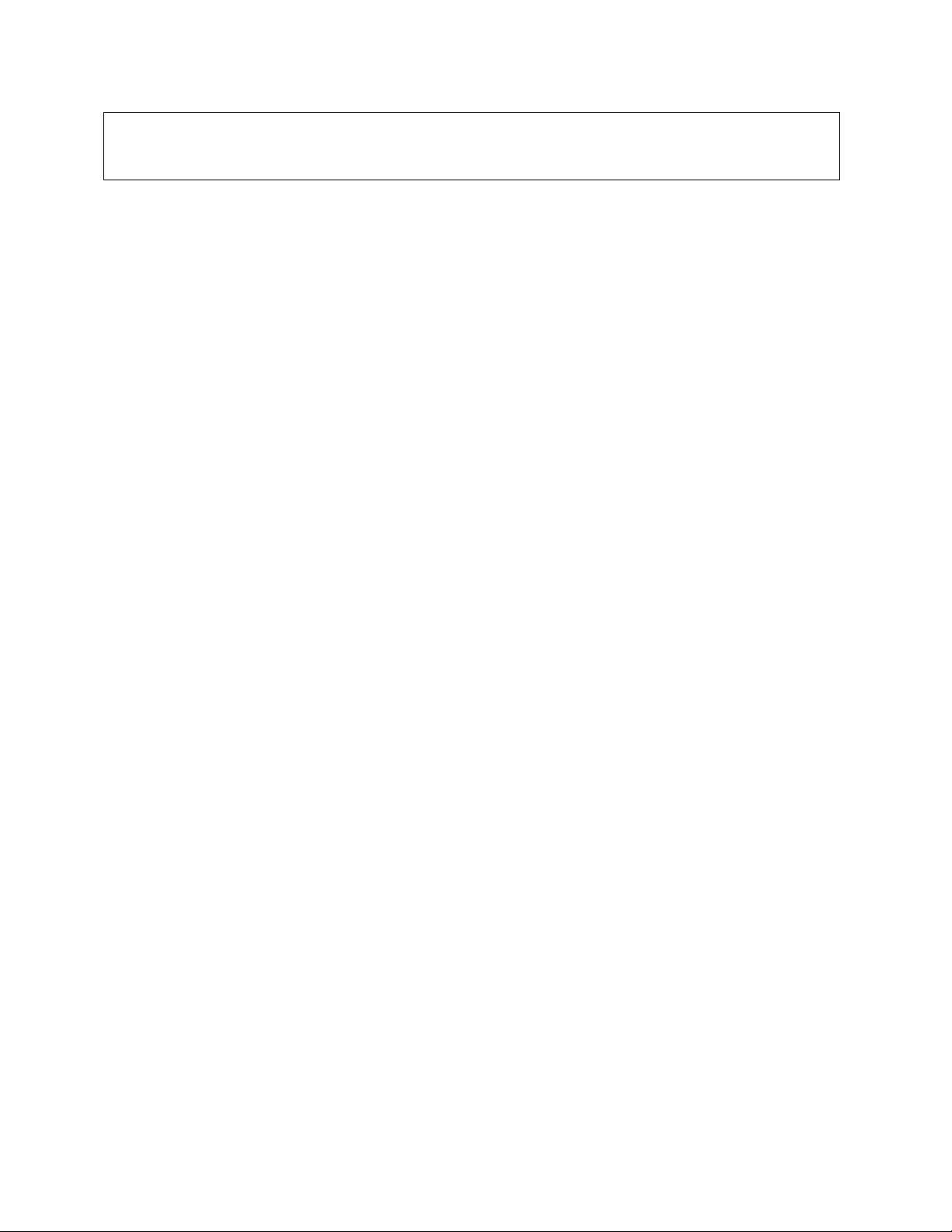

























Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity
Os melhores documentos à venda: Trabalhos de alunos formados
Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade
Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.

Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Comunidade
Peça ajuda à comunidade e tire suas dúvidas relacionadas ao estudo
Descubra as melhores universidades em seu país de acordo com os usuários da Docsity
Guias grátis
Baixe gratuitamente nossos guias de estudo, métodos para diminuir a ansiedade, dicas de TCC preparadas pelos professores da Docsity
A produção etnográfica independente de missionários protestantes e católicos em moçambique, destacando figuras como henri-alexandre junod, yohanna barnabé abdallah, emily dora earthy e columbus kamba simango. Aborda a influência da antropologia na pesquisa sobre diferentes grupos étnicos, como os tsonga, yao, ndaus e macua, e contextualiza o desenvolvimento da antropologia em moçambique durante o período colonial.
Tipologia: Resumos
1 / 31

Esta página não é visível na pré-visualização
Não perca as partes importantes!
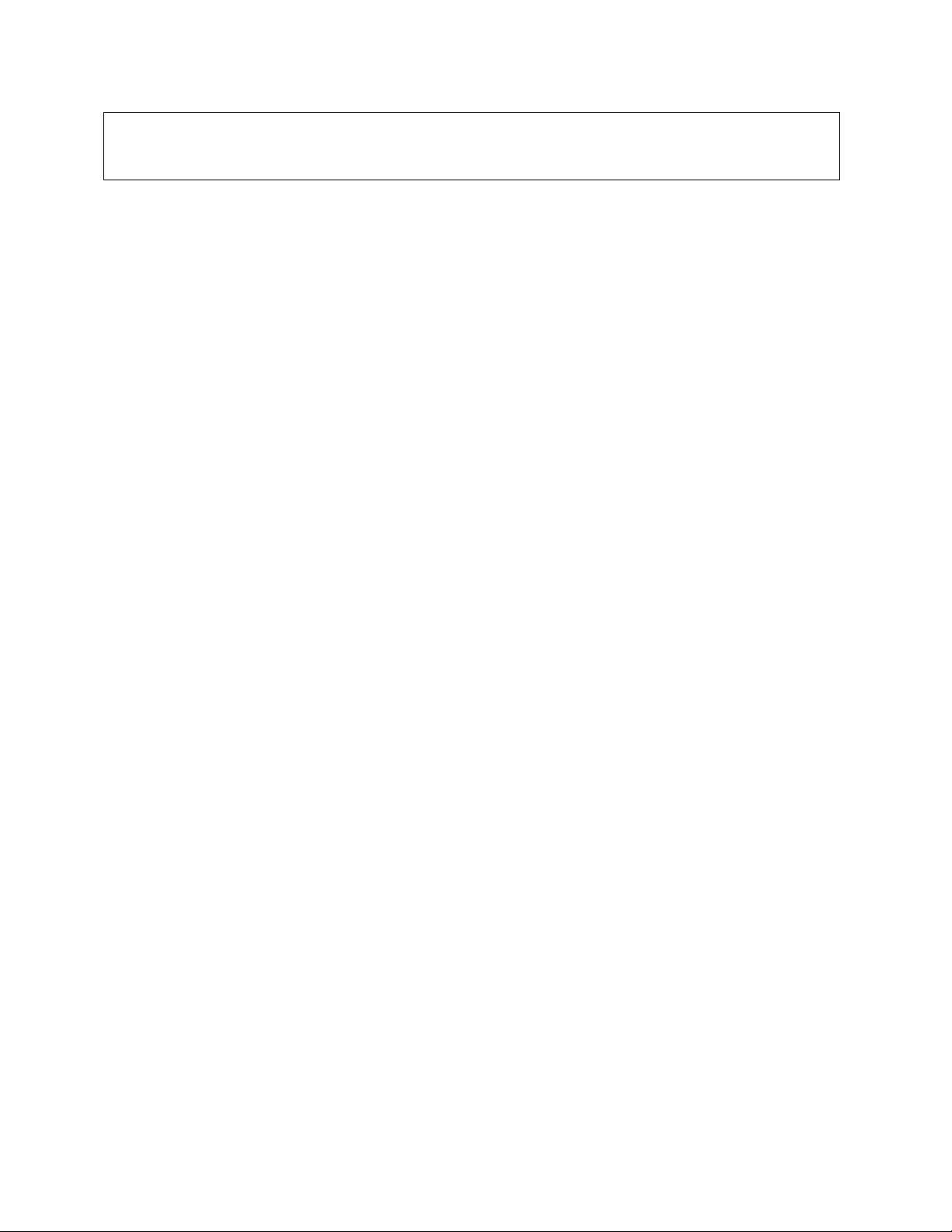























Identificar as linhas de produção antropológica que marcam este período; Identificar os principais representantes dessas linhas; e Compreender as temáticas e as metodologias utilizadas nessa produção antropológica. ÍNDICE:
No período compreendido entre a Conferência de Berlim (segunda metade do Séc. XIX) e a implantação do Estado Novo (anos 30) assiste-se à emergência de duas linhas de produção antropológica em Moçambique, nomeadamente: Produção antropológica oficial, que é o conjunto da produção que era do interesse das autoridades coloniais portuguesas e gozava do seu patrocínio e encomenda. No caso concreto de Moçambique, essa produção neste período é representada pela acção dos Serviços de Negócios Indígenas; e Produção antropológica independente, onde encontramos trabalhos antropológicos produzidos por iniciativa e vontade própria dos autores, mas que de certa forma as autoridades coloniais portuguesas acabam tirando proveito das suas contribuições, quer aceitando os resultados ou rejeitando-os. Neste conjunto encontramos a produção feita por: o Antigos governantes, militares e exploradores; e o Missionários (protestantes e católicos).
Só depois do fim do mandato de Augusto Cabral, em 1935, é que novos questionários foram postos a circular, como o de 1937 sobre a escravidão (Liesegang 2008: 314-315). Um segundo exemplo de recolha de informação etnográfica é Francisco Alexandre Lobo Pimentel que em 1927 publicou o Relatório sobre os usos e costumes no Posto Administrativo de Chinga. Crê-se que essa obra é fruto da influência de Pereira Cabral. Assim, aponta-se que foi provavelmente em 1924 que Francisco Pimentel recebeu em Muite a visita de Augusto Cabral, que lhe transmitiu a noção [errada], possivelmente ganha em Inhambane, que a população africana de Moçambique estava a diminuir, e talvez o incitasse a dedicar-se à etnografia (Liesegang 2008: 314). A obra de Pimentel aparece a contribuir para a história dos povos africanos. Embora seja um testemunho bastante personalizado e descrevendo problemas do momento, acabou omitindo outros. Algumas informações são erradas, mas há certamente observações reconfirmadas por outras fontes, temáticas onde as observações completaram as descrições e explicações de fontes orais e escritas. Há também informações não confirmadas que parecem dignas de crédito (Liesegang 2008: 320). No que toca à história, informa sobre movimentações das populações macuas que Pimentel pode observar entre 1915 e 1927. Estas observações são provavelmente válidas em parte para o séc. XIX. Descreve uma estrutura clânica aparentemente estável, mas uma população bastante móvel no interior, mobilidade que tinha talvez contribuído para a homogeneidade linguística da população macua da região (Liesegang 2008: 321). O seu trabalho ilustra o dia-a-dia dentro da estrutura colonial numa certa fase histórica do norte de Moçambique. A sua própria linguagem aproxima-se as vezes daquela dos discursos de capatazes e de alguns colonos que ainda se podiam ouvir nos anos 60 do século XX. Ela própria é parte de um contexto colonial e em si um documento (Liesegang 2008: 321). Uma considerável parte do trabalho é um discurso dentro da classe dominante na qual havia vozes discordantes sobre o africano, sobre a maneira de administrar etc.. Partilha muitos preconceitos, mas questiona outros (Liesegang 2008: 321). Um terceiro exemplo foi a publicação em 1928, pela Companhia de Moçambique de uma obra semelhante a de Pimentel, cuja autoria foi de Gustavo Bívar Pinto Lopes (1864-1944), um participante nas guerras de ocupação, e que tinha preparado a obra em 1922-23, condensando aparentemente respostas ao mesmo questionário (Liesegang 2008: 314).
Com efeito, Loforte (1987: 62) aponta que na literatura dos finais do Séc. XIX encontramos relatórios de descrições de teor etnográfico feitos por militares e governantes durante o período de ocupação efectiva e no surgimento da sua acção nas “campanhas de pacificação”. Nota-se nesta altura uma preocupação em substituir as autoridades tradicionais por novas estruturas que sirvam os interesses da nova administração. Essas informações são apresentadas em forma de comunicações em congressos, ou em obras patrocinadas pelo Ministério da Marinha e do Ultramar. Entre os exemplos dessas comunicações, podem se apontar: AYRES D’ORNELLAS E VASCONCELOS E A COMUNICAÇÃO SOBRE AS RAÇAS E LÍNGUAS DOS INDÍGENAS DE MOÇAMBIQUE Aires de Ornelas e Vasconcelos nasceu no Funchal, Santa Cruz, São Lourenço, Camacha, a 5 de Março de 1866. Concluídos os estudos secundários frequentou os estudos preparatórios ministrados na Escola Politécnica de Lisboa e ingressou no curso de Estado-Maior da Escola do Exército. Concluiu o curso em 1889, ano em que foi despachado Alferes da Arma do Estado-Maior do Exército Português. Foi promovido a Tenente em 1892 e em 1895, a convite do então Capitão do Estado Maior Eduardo Costa, foi enviado para Lourenço Marques, integrado na expedição liderada por António Enes que naquele ano foi enviada para a África Oriental. Em Moçambique, tomou parte nas operações contra o régulo vátua Gungunhana, destacando-se na preparação das colunas que tomaram Marracuene e Inhambane e tendo os seus serviços sido classificados, oficialmente, de relevantes. Revelou- se um militar exímio, alcançando grande reputação no Exército e junto da opinião pública. Destacou-se no combate de Marracuene pela sua valentia e sangue frio, qualidades que confirmou nos combates
Capítulo IV: Etnologia do Macua Capítulo V: Etnografia do Macua Capítulo VI: Lex Macua: Secção 1ª – Organização tribal; Secção 2ª – Direito penal; Secção 3ª – Normas de Direito civil; Secção 4ª – Normas de direito de propriedade; devolução da propriedade Capítulo VII: Influência Islâmica Capítulo VIII: Ocupação portuguesa 3.2. PRODUÇÃO ETNOGRÁFICA INDEPENDENTE DE MISSIONÁRIOS PROTESTANTES No conjunto da produção etnográfica independente dos missionários entre a Conferência de Berlim e a implantação do Estado Novo, serão os estudos dos missionários protestantes que irão dominar este período. Com efeito, um pouco por toda a África, durante meio século (1792-1842) os missionários protestantes estiveram praticamente sós em campo, e os evangelizadores protestantes foram muito mais numerosos do que os católicos. A principal razão disto é que no século anterior, a Igreja Protestante tinha experimentado um grande movimento de renovação, enquanto que a Igreja Católica tinha sofrido um sério declínio. O movimento protestante combinava “evangelicalismo” (viver de acordo com o Evangelho) com o “evangelismo” (pregação do Evangelho) (Baur 2014: 103). A penetração de missionários protestantes em Moçambique iniciou no Sul, nas actuais províncias de Maputo, Gaza e Inhambane, tendo ainda atingido alguns núcleos da Zambézia, Tete e da região a volta do Lago Niassa (Gonçalves 1960: 123). Do conjunto dos missionários protestantes que trabalharam por estas terras, destacam-se os trabalhos antropológicos de: Henri-Alexandre Junod, missionário da Missão Suíça que trabalhou na região Sul de Moçambique, em Ricatla, no actual distrito de Marracuene; Yohanna Barnabé Abdallah, pastor da Missão de Unangu que trabalhou na actual província de Niassa sobre os Yao; Emily Dora Earthy, missionária da Missão Inglesa que escreveu sobre os Ndaus de Sofala (da actual Província de Sofala) e sobre as mulheres valenges (da actual província de Inhambane); e Henri-Phillipe Junod, missionário da Missão Suíça, filho de Henri- Alexandre Junod e que trabalhou sobre os Chopes, Tsongas e Ndaus. Columbus Kamba Simango, missionário da American Board, e a colaboração com Franz Boas e Melville Herskovits na pesquisa sobre os Ndaus.
Henri-Alexandre Junod nasceu em Neûchatel, um cantão da parte francesa da Suíça, em 1863, e viveu desde 1889 na região sul de Moçambique (Rikatla (1889-94) e Lourenço Marques (1894-96)). Sua ida para Ricatla, região da então “África Oriental Portuguesa”, ao norte de Lourenço Marques (actual Maputo), deu-se como parte de suas actividades como missionário da Igreja Presbiteriana de Moçambique, geralmente conhecida como Missão Suíça (Feliciano 1996: 15). Esta Missão, que havia iniciado a sua actividade na África Austral em Spelonken (Transvaal) em 1875, expandiu-se rapidamente para leste, constituindo um conjunto de bases em Moçambique – Magude (1881), Rikatla (1887), Lourenço Marques (1889), Antioka (perto de Magude,
“Les conceptions physiologiques des Bantu Sud-Africains et leurs tabous” (1910); e Usos e Costumes dos Bantus, a monografia em dois volumes, que Bronislaw Malinowski, um dos fundadores da moderna Antropologia, definiria mais tarde como “o melhor livro de Etnografia” (Feliciano 1996: 17). A primeira edição em inglês, Life in a South African Tribe, foi publicada em 1913 e traduzida para português em 1917 pela Sociedade de Geografia de Lisboa. Outra versão corrigida foi editada em francês (1936) com tradução portuguesa em 1944, reeditada em 1974 e a terceira edição em 1996, pelo Arquivo Histórico de Moçambique (Feliciano 1996: 17). De 1921 a 1934, Junod se estabeleceu definitivamente na Suíça onde viveu sua maturidade intelectual, participando dos debates académicos tanto através de publicações em revistas quanto como professor visitante em algumas universidades europeias. É nesse período que revisa sua monografia e publica a 2ª edição actualizada em 1927. Após sua morte, em 1934, seus restos mortais foram levados para Ricatla (Gajanigo 2006: 173). Leituras adicionais: Feliciano, José Fialho. 1996. “Prefácio”. In Henri A. Junod. Usos e Costumes dos Bantu (Tomo I). Maputo: Arquivo Histórico de Moçambique pp. 15- Gajanigo, Paulo Rodrigues. 2006. “O Sul de Moçambique e a História da Antropologia: Os usos e Costumes dos Bantos, de Henri Junod”. Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Campinas, SP. Ngoenha, Severino E. 2011. “A actualidade de Junod” in Severino E. Ngoenha & José P. Castiano Pensamento Engajado: Ensaios sobre Filosofia. Maputo: Editora EDUCAR, Universidade Pedagógica, pp. 97- 110
Nos documentos consultados não há nenhuma indicação sobre a idade e data de nascimento de Yohanna Barnabé Abdallah. As fontes missionárias e o próprio Abdallah até são divergentes a respeito de quem foi o seu pai (Liesegang 1988: 16). A data de nascimento que é apresentada por Liesegang (1988: 14) é de cerca de 1870. Em 1887 Yohanna decidiu enveredar pela carreira eclesiástica. A Missão (anglicana e britânica) das Universidades na África Central (U.M.C.A.) para a qual entrou, tinha o seu centro regional em Zanzibar desde 1864, onde possuía uma escola central em Kiungani, na mesma ilha, onde também havia uma imprensa. Nesta missão, o acolhimento que teve foi provavelmente melhor, porque nos anos 80 fizeram-se muitos esforços para recrutar africanos livres (não escravos) para a missão. A missão não tinha encontrado muitos adeptos em Zanzibar e na zona costeira, onde o meio era fortemente islamizado. Pelo contrário, ela era aceite em certas zonas do hinterland como Chiwata, Chitangali, Masasi e Newala (Liesegang 1988: 18-19). Abdallah estudou algum tempo em Kiungani, onde funcionava também uma espécie de colégio teológico e, em 1893-1894, trabalhou ali como missionário. A sua área de trabalho era o subúrbio de Ngambo, nos arredores da cidade de Zanzibar. Foi escolhido porém para trabalhar numa missão do interior, na actual província de Niassa, que tinha sido fundada em meados de 1893. Em 12 de Agosto de 1894, pouco antes de partir, Abdallah foi ordenado diácono. Saiu de Zanzibar com uma formação que devia corresponder a cerca de dez anos de ensino formal, falava e escrevia fluentemente o inglês e também o swahili, e tinha conhecimentos de
Alpers sublinha que Abdallah se dirigiu principalmente aos Yao, para os quais queria escrever uma história nacional, e que ali se documenta uma certa viragem na sua personalidade, que se demarca da anterior integração no mundo europeu. Mas, como se verá, Abdallah nunca deixou de ter orgulho no que toca à sua origem social e mantinha certas tradições africanas, deslocando-se, por exemplo, com mais pessoas do que aquelas que um missionário britânico teria considerado necessário (Liesegang 1988: 16). Em 1924, Abdallah morreu acometido de doença súbita em Montepuez, quando fazia viagem para a costa, onde pretendia passar alguns meses de férias com a sua família. Na altura considerou-se que Unango estava “um pouco fora de contacto com o resto da diocese” e o lugar de Abdallah não foi reocupado, talvez até porque o cristianismo não esperava tornar-se ali religião dominante, dado o rápido avanço do Islão (Liesegang 1988: 23). Com a proclamação da Independência em Moçambique, e a reestruturação do Arquivo Histórico de Moçambique, foi possível a este organismo proceder à publicação da tradução anotada da obra de Yohanna Abdallah a partir da versão inglesa reeditada em 1973 (Arquivo Histórico de Moçambique 1983). Leituras adicionais Abdallah, Yohanna B. 1983 [1919] Os Yao. Maputo: Arquivo Histórico de Moçambique – Universidade Eduardo Mondlane Liesegang, Gerhard. 1988 “Achegas para o estudo das biografias de autores de fontes narrativas e outros documentos da história de Moçambique, I: Yohana Barnaba Abdallah (ca. 1870-1924) e a Missão de Unango” ARQUIVO 3: 12-
Emily Dora Earthy nasceu em 1874 em Great Warley, Essex, no Reino Unido. Aos 35 anos de idade, Dora Earthy tornou-se missionária da Anglican Society for the Propagation of the Gospel (SPG) [Sociedade Anglicana para a Propagação do Evangelho]. Antes de ser enviada para Moçambique, Dora Earthy trabalhou na África do Sul, em Johannesburg e Potchefstroom, entre 1911 e 1916. Entre Setembro de 1917 a Dezembro de 1930, Dora trabalhou em Moçambique, mais concretamente em Maciene (Gaitskell 2000; Gaitskell 2012). A sua transferência para Moçambique contribuiu para uma edificação evangélica baseada nas tradições culturais africanas e numa pesquisa antropológica bem como na contribuição para a protecção e validação da autonomia das viúvas cristãs contra novos casamentos coercivos (Gaitskell 2000). Dora Earthy tinha uma certa facilidade de aprendizagem de línguas, comparada com outras missionárias da sua congregação. No seu anterior emprego de indexação e catalogação de documentos na Royal Society em Londres, Dora teve de lidar com questões de línguas, pelo que por volta de 1910 ela procurou aprender Francês,
menos 4 obras, nomeadamente: A obra de R.R. Marett, Anthropology , publicada pela Home University Library; Notes and Queries on Anthropology , da British Association; Les Rites de Passage , de V. Gennep; e Anthropology , de Edward Tylor. O interesse inicial da Dora Earthy em Antropologia como ciência começou quando ela estava a trabalhar na Royal Society em Londres onde tinha que catalogar e indexar papers de antropologia, entre outros. Dora Earthy seguiu as recomendações de Margaret Stevenson e encomendou as obras referenciadas e outras. Foi por estas alturas, em 1923, que Dora Earthy recebeu encorajamento para a pesquisa de Alfred Haddon, quando ela escreveu-lhe a pedir aconselhamento (Gaitskell 2012). Haddon era um eminente antropólogo da Universidade de Cambridge, organizador da famosa Expedição ao Estreito de Torres em 1898 e um dos fundadores da moderna Escola Britânica de Antropologia Social, e na altura considerado o mentor inicial de Winifred Hoernlé, a chamada “Mãe da Antropologia Social na África do Sul” (Gaitskell 2012). Por outro lado, Dora Earthy manteve contacto com antropólogos sul- africanos ou que estavam na África do Sul. E neste grupo, as figuras que se destacaram foram Radcliffe-Brown e Winifred Hoernlé. E as instituições que deram mais apoio ao trabalho dela foram a South African Association for the Advancement of Science (SAAAS) e a respectiva revista South African Journal of Science (SAJS) ; bem como o Transvaal Museum , com a sua publicação Annals of the Transvaal Museum (Gaitskell 2012). O ano de 1925 constitui um marco importante para Dora Earthy em termos de publicação, pois publicou:
South Chopiland, Portuguese East Africa; e
Portuguese East Africa.
Na altura da sua publicação, a obra foi considerada de grande valor, não só para os estudantes como também para os antropólogos trabalhando em diferentes áreas. A originalidade da pesquisa residia no método usado que foi de uma aproximação simpática e íntima para o estudo da vida social, religiosa e económica, um tema em que os antropólogos do sexo masculino estavam claramente em desvantagem, pois há capítulos na obra que tratam de temas como gravidez, parto e ritos secretos de iniciação para as raparigas que demonstram as vantagens da pesquisa por uma mulher. A descrição sobre os ritos de iniciação para as raparigas foi considerada provavelmente como a mais completa que até então havia sido feita para uma tribo Negro Bantu (Wilfrid Hambly American Anthropologist 1934, 36: 470). A introdução da obra refere que este aspecto especializado de pesquisa tem o seu background geral na obra de Henri Junod Usos e Costumes dos Bantus, o que constitui uma vantagem que proporciona uma visão geográfica, histórica e etnológica geral, antes de se abordar a investigação de uma determinada cultura a partir de um determinado aspecto, tais como sexo, alimentação ou magia. (Wilfrid Hambly American Anthropologist 1934, 36: 470). A introdução enfatiza a necessidade de tornar os estudos dinâmicos e não demasiados formais. Uma pesquisa simpática está preocupada com o funcionamento de uma cultura e com os ajustamentos a novas condições emergentes de contactos culturais. Mas, para ter o espírito das pessoas, um estudo através das coisas materiais, incluindo a colecta de objectos, constitui as vezes o melhor método. (Wilfrid Hambly American Anthropologist 1934, 36: 470). O livro começa com a descrição da origem e história dos Valenge, através da consideração das suas tradições tribais, mostrando isso através de nomes pessoais e dos clãs. (Wilfrid Hambly American Anthropologist 1934, 36: 470).
O início precoce na pesquisa antropológica na África Austral nos estágios finais da Primeira Guerra Mundial, coloca Dora Earthy a frente com um avanço de uma década em relação aos estudantes de Malinowski – a Monica Hunter, Hilda Kuper e Audrey Richards. Contudo, Emily Dora Earthy continua a ser negligenciada como uma das pioneiras no estudo científico da sociedade da África Austral. Dora Earthy possui 11 publicações, sendo uma delas uma obra.
A história da Dora Earthy levanta questões acerca das relações entre as missões cristãs e a antropologia científica no início do século XX, bem como as questões de género e poder história da sociologia do conhecimento. Leituras adicionais “Notes and News” in Journal of the International African Institute , vol. 3 no^ 2 1930: 231-234. Earthy, E. Dora. 1931. “The VaNdau of Sofala”. Journal of the International African Institute , vol. 4 no^ 2: 222-230. Earthy, E. Dora. 1926. “The customs of Gazaland women in relation to the African church”. International Review of Missions , vol. 15 no 60: 662-674?. Earthy, E. Dora. 1933. “An African Tribe in Transition from Paganism to Christianity”. International Review of Missions , vol. 22 Earthy, E. Dora. 1924. “On the significance of the body markings of some natives of Portuguese East Africa”. South African Journal of Science , vol. 21: 573-587. Earthy, E. Dora. 1925. “The role of the father’s sister among the valenge of Gazaland, Portuguese East Africa”. South African Journal of Science , vol. 22: 526-529. Earthy, E. Dora. 1925. “Initiation of girls in the Masiyeni District, Portuguese East Africa”. Annals of the Transvaal Museum , part 2 vol. 11: 103-117. Earthy, E. Dora. 1925. “Note on the decorations on carved wooden food-bowls from South Chopiland, Portuguese East Africa”. Annals of the Transvaal Museum , part 2 vol. 11: 118-124. Earthy, E. Dora. 1925. “On some ritual objects of the Vandau in South Chopiland Gaza, Portuguese East Africa”. Annals of the Transvaal Museum , part 2 vol. 11: 125-128. Earthy, E. Dora. 1926. “Some agricultural rites practiced by the valenge and vachopi (Portuguese East Africa)” Bantu Studies , vol. 2 no^ 4: 265-267.