

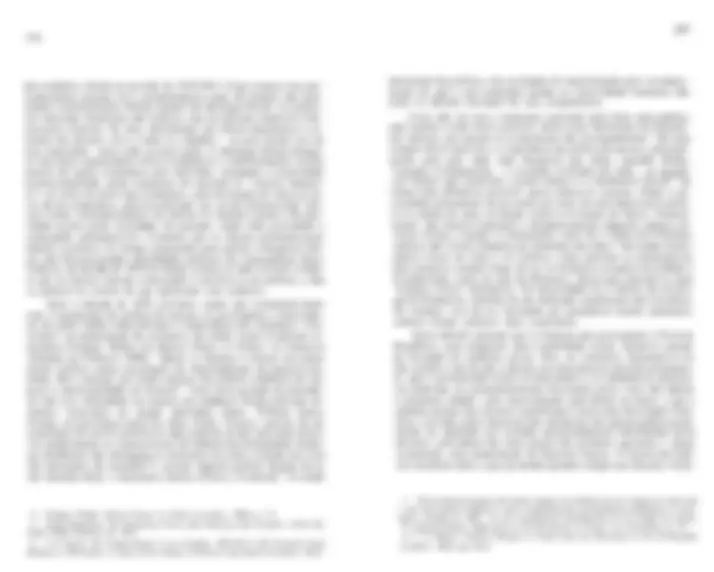





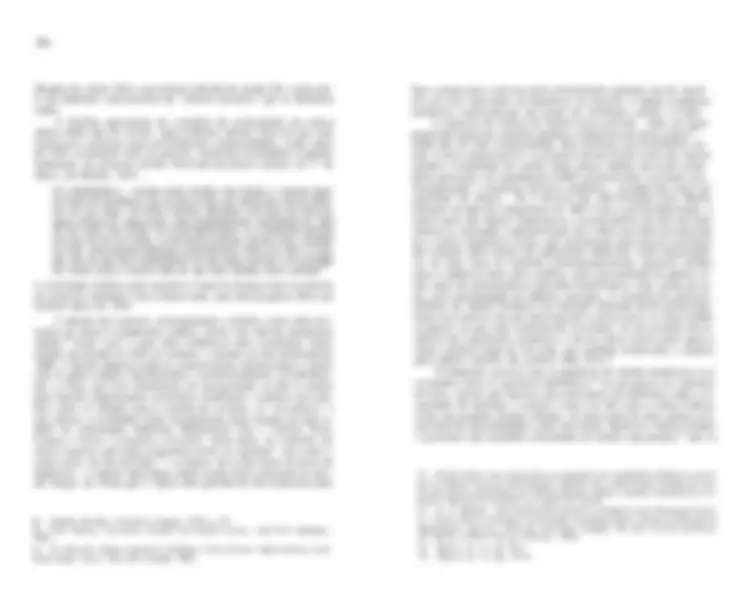
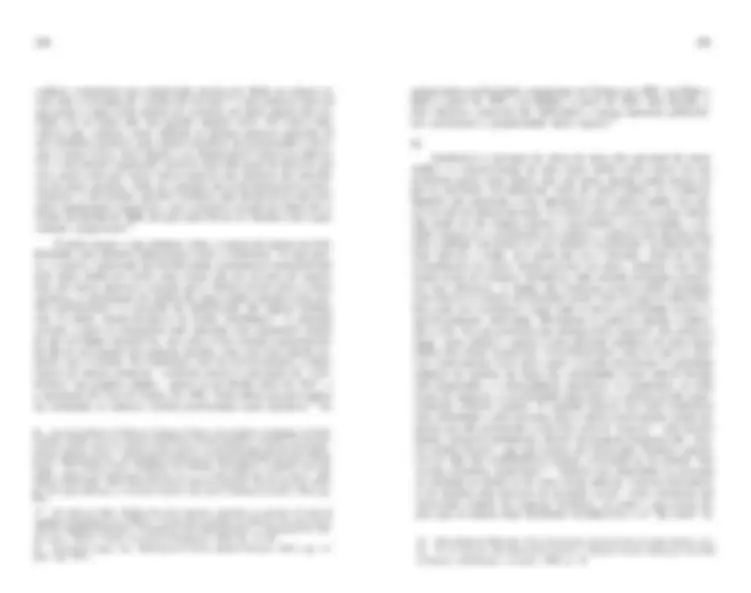



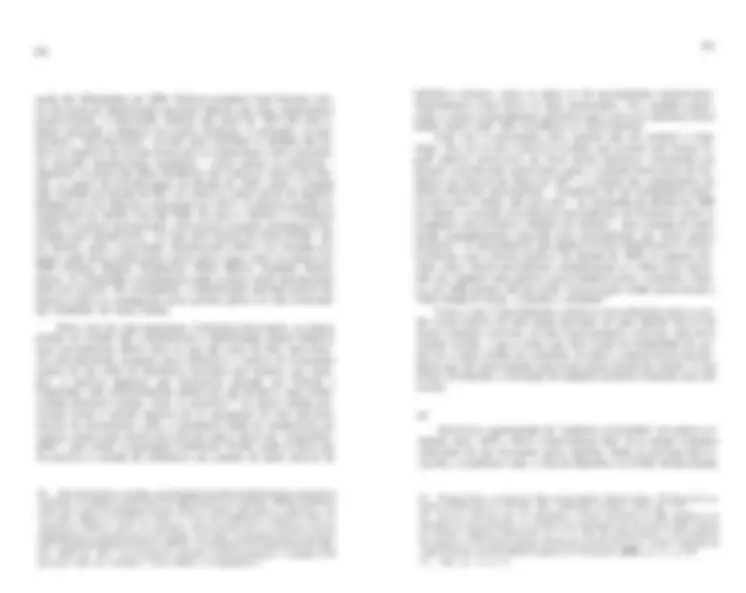
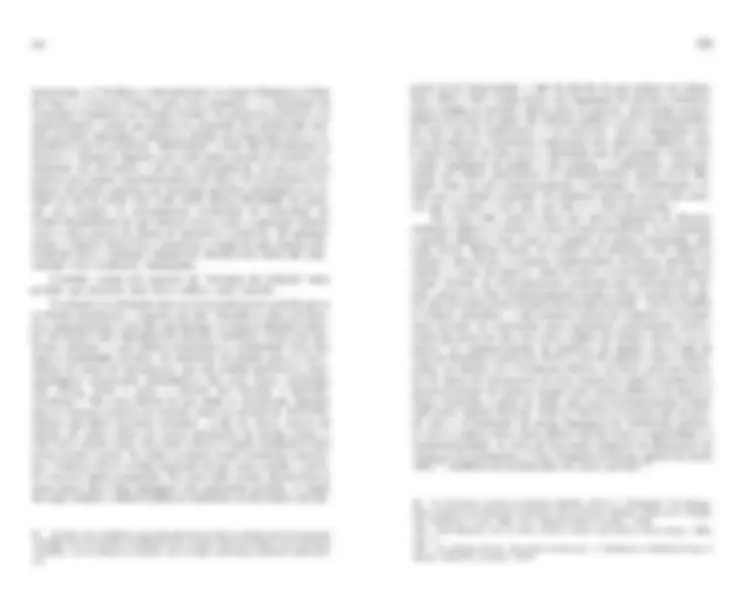
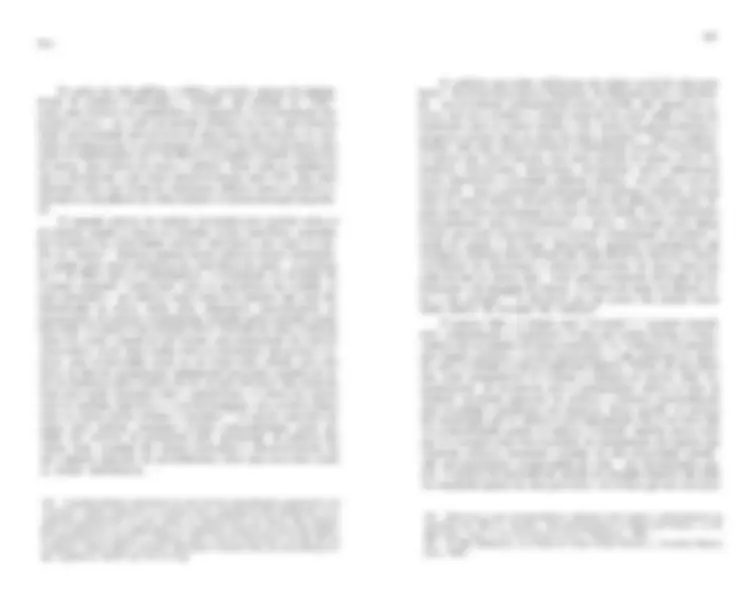



Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity
Os melhores documentos à venda: Trabalhos de alunos formados
Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade
Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.

Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Comunidade
Peça ajuda à comunidade e tire suas dúvidas relacionadas ao estudo
Descubra as melhores universidades em seu país de acordo com os usuários da Docsity
Guias grátis
Baixe gratuitamente nossos guias de estudo, métodos para diminuir a ansiedade, dicas de TCC preparadas pelos professores da Docsity
Este texto discute como os desafios políticos da era da industrialização foram principalmente representados pela mobilização política das massas, através da religião, da consciência de classe e do nacionalismo. O documento explora como os governantes e observadores da classe média redescobriram a importância dos elementos 'irracionais' na manutenção da estrutura social, oferecendo um apelo demagógico tanto contra o liberalismo capitalista quanto contra o socialismo proletário. Além disso, o texto examina como o esporte desempenhou um papel importante na identificação e na separação da elite nacional da classe média, bem como na expansão da elite da classe média alta.
Tipologia: Provas
1 / 24

Esta página não é visível na pré-visualização
Não perca as partes importantes!


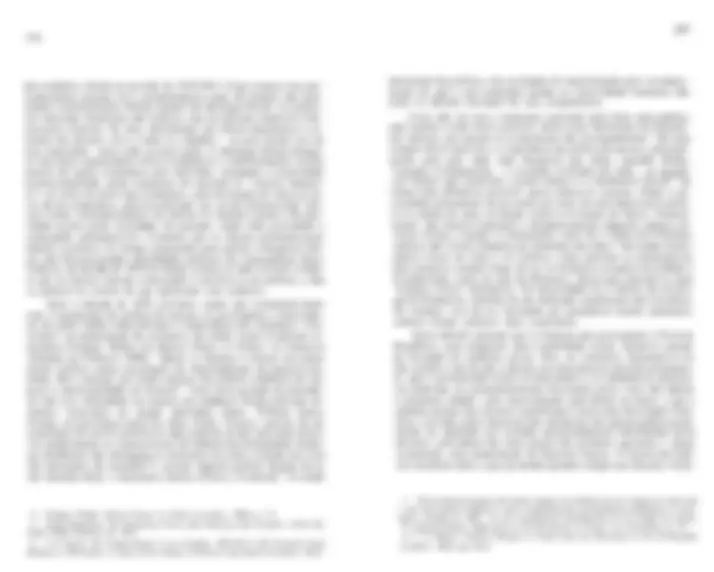





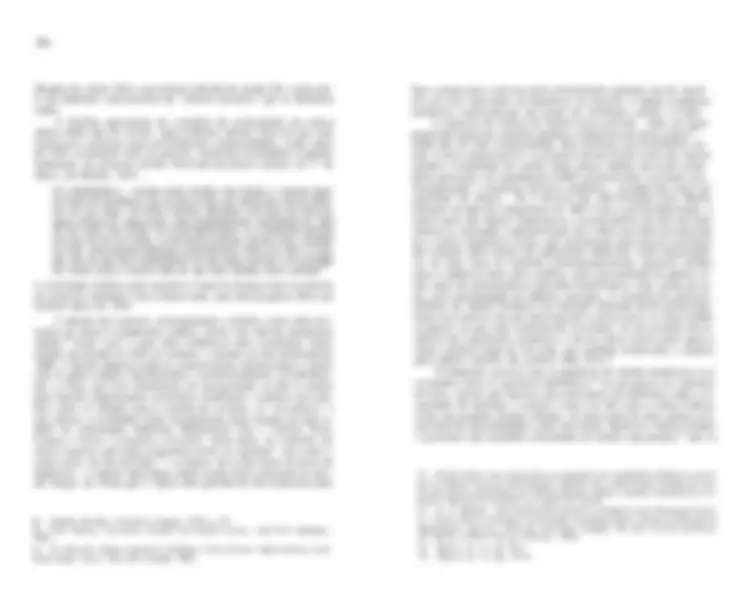
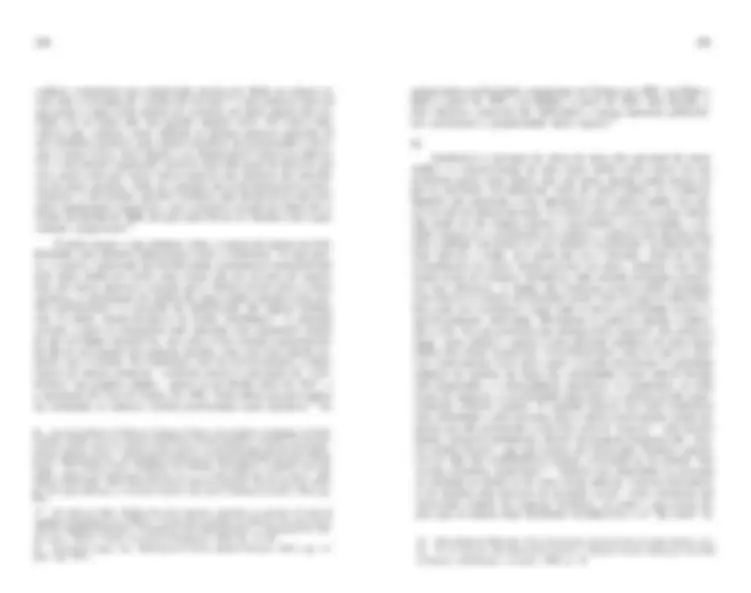



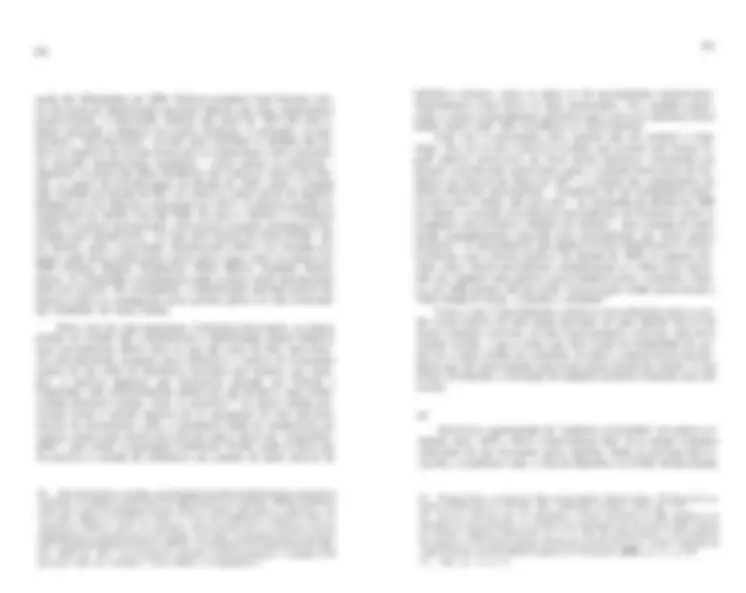
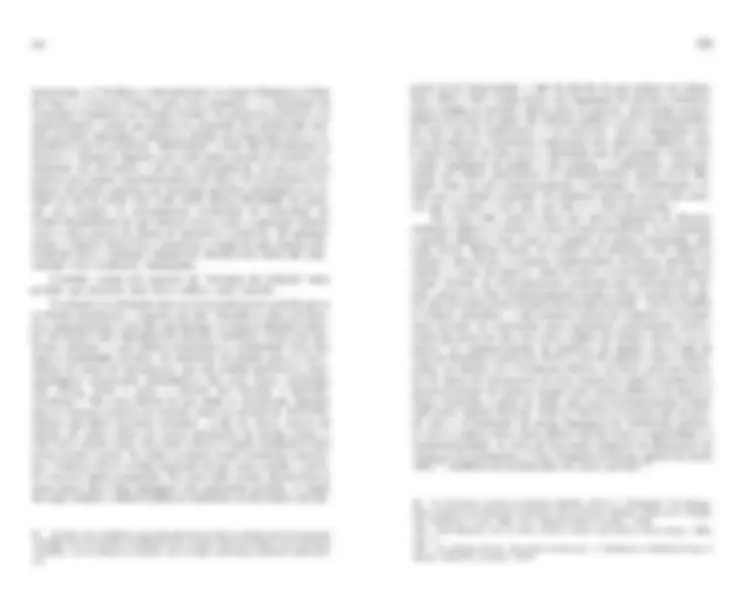
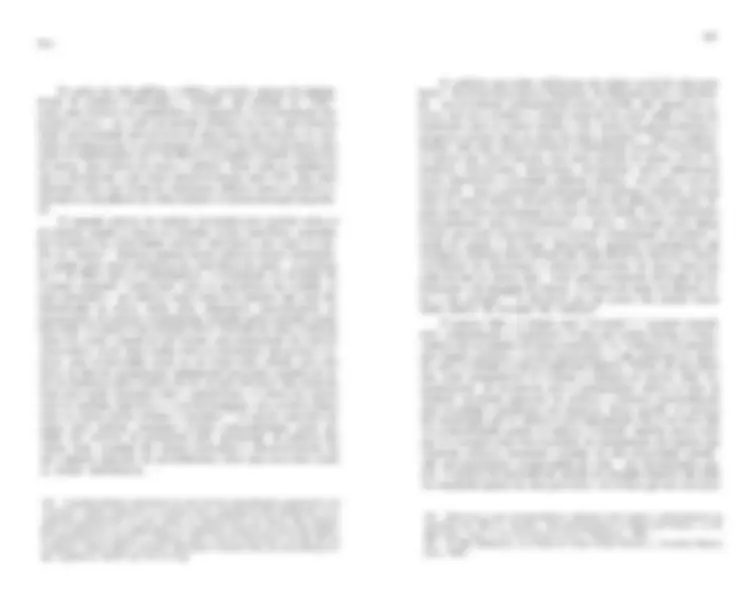

Uma vez cientes de como e comum o fenômeno da invenção das tradições, descobriremos com facilidade que elas surgiram com fre- quência excepcional no período de 30 a 40 anos antes da I Guerra Mundial. Não se pode dizer com certeza que nesse período inventa- ram-se tradições "com maior frequência" do que em qualquer outro, uma vez que não há como estabelecer comparações quantitativas rea- listas. Entretanto, em muitos países, e por vários motivos, praticou-se entusiasticamente a invengao de tradições, uma produção em massa que e o assunto deste capítulo. Foi realizada oficialmente e não-oficialmente, sendo as invenções oficiais - que podem ser chamadas de "políticas" - surgidas acima de tudo em estados ou movimentos sociais e políticos organizados, ou criadas por eles; e as não-oficiais - que podem ser denominadas "so- ciais" - principalmente geradas por grupos sociais sem organização formal, ou por aqueles cujos objetivos não eram específica ou cons- cientemente políticos, como os clubes e grêmios, tivessem eles ou não também funções políticas. Esta distinção é mais uma questão de con- veniência do que de princípio. Pretende chamar a atenção para duas formas principais da criação de tradições no século XIX, ambas refle- xos das profundas e rápidas transformações sociais do período. Gru- pos sociais, ambientes e contextos sociais inteiramente novos, ou ve- lhos, mas incrivelmente transformados, exigiam novos instrumentos que assegurassem ou expressassem identidade e coesão social, e que es- truturassem relações sociais. Ao mesmo tempo, uma sociedade em transformação tornava as formas tradicionais de governo através de estados e hierarquias sociais e políticas mais difíceis ou até impraticá- veis. Eram necessários novos métodos de governo ou de estabeleci- mento de alianças. De acordo com a ordem natural das coisas, a con- sequente invenção das tradições "políticas" foi mais consciente e deli- berada, pois foi adotada por instituições que tinham objetivos políti- cos em mente. Podemos, no entanto, perceber imediatamente que a in- venção consciente teve êxito principalmente segundo a proporção do
sucesso alcancado pela sua transmissão numa frequência que o públi- co pudesse sintonizar de imediato. Os novos feriados, cerimônias, he- róis e símbolos oficiais públicos, que comandavam os exércitos cada vez maiores dos empregados do estado e o crescente público cativo composto pelos colegiais, talvez não mobilizassem os cidadãos volun- tários se não tivessem uma genuína repercussão popular. O Império Alemão não foi feliz ao tentar transformar o Imperador Guilherme I num pai aceito pelo povo, fundador de uma Alemanha unida, nem ao fazer de seu aniversário um verdadeiro aniversário nacional. (Aliás, quem é que se lembra de que tentaram chamá-lo "Guilherme, o Gran- de"?) O apoio oficial assegurou a construção de 327 monumentos a Guilherme ate 1902, mas apenas um ano após a morte de Bismarck, em 1898, 470 municípios haviam resolvido erigir "colunas a Bis- marck".^1 Não obstante, o Estado ligou as invenções de tradição formais e informais, oficiais ou não, políticas e sociais, pelo menos nos países onde houve necessidade disso. Visto de baixo, o Estado definia cada vez mais um palco maior em que se representavam as atividades fundamentais determinantes das vidas dos súditos e cidadãos. Aliás, assim como definia, também registrava a existência civil deles (état ci- vil). Talvez não tenha sido o único palco desta natureza, mas sua exis- tência, limites e intervenções cada vez mais frequentes e perscrutado- ras na vida do cidadão foram, em última análise, decisivas. Nos países desenvolvidos, a "economia nacional", sua área definida pelo territó- rio de estado ou de suas subdivisões, era a unidade básica do desenvol- vimento econômico. Qualquer alteração nas fronteiras do estado ou em sua política acarretava consideráveis e duradouras consequências materiais para os cidadãos do país. A padronização da administração e das leis nela contidas e, especificamente, da educação oficial, trans- formou as pessoas em cidadãos de um país determinado: "camponeses e franceses", segundo o título de um livro oportuno.^2 O Estado era o contexto das ações coletivas dos cidadãos, na medida em que estas fos- sem oficialmente reconhecidas. O principal objetivo da política nacio- nal era, sem dúvida, influenciar ou mudar o governo do Estado ou suas diretrizes, sendo que o homem comum tinha cada vez mais direi- tos de participar dele. Na verdade, a política no novo sentido do sécu-
lo XIX era, basicamente, uma política de dimensões nacionais. Em su- ma, para fins práticos, a sociedade ("sociedade civil") e o Estado em que ela funcionava tornaram-se cada vez mais inseparáveis. Foi, portanto, natural, que as classes existentes na sociedade, e es- pecialmente a classe operária, tendessem a identificar-se através de movimentos políticos ou organizações ("partidos") de âmbito nacio- nal; igualmente natural, que estes agissem de facto basicamente dentro do país.^3 Não surpreende também que movimentos que pretendiam re- presentar uma sociedade inteira ou um "povo" inteiro encarassem sua existência fundamentalmente em termos de um estado independente ou, pelo menos, autônomo. Estado, nação e sociedade eram fatores em convergência. Pela mesma razão, o Estado, visto de cima, de acordo com a pers- pectiva de seus governantes formais ou grupos dominantes, deu ori- gem a problemas inéditos de preservação ou estabelecimento da obe- diência, lealdade e cooperação de seus súditos e componentes, ou sua própria legitimidade aos olhos destes súditos e componentes. O pró- prio fato de que suas relações diretas e cada vez mais intrometidas e frequentes com os súditos e cidadãos como indivíduos (ou no máximo como chefes de famílias) haviam-se tornado cada vez mais essenciais ao seu funcionamento, causou um enfraquecimento dos velhos meca- nismos através dos quais se mantivera com êxito a subordinação so- cial: coletividades ou corporações relativamente autônomas sob o con- trole do governante, mas que controlavam seus respectivos membros, pirâmides de autoridade cujos ápices ligavam-se a autoridades mais al- tas, hierarquias sociais estratificadas em que cada camada aceitava seu lugar, e dai por diante. Em todo caso, transformações sociais como as que substituiram os estamentos ( ranks) por classes, desgastaram-nas. Os problemas dos estados e dos governantes eram sem dúvida muito mais graves onde os súditos se haviam tornado cidadãos, ou seja, pes- soas cujas atividades políticas eram institucionalmente reconhecidas como algo que devia ser considerado - mesmo que fosse apenas sob a forma de eleições. Agravaram-se ainda mais quando os movimentos políticos de massas desafiaram deliberadamente a legitimidade dos sis- temas de governo político ou social, e/ou ameaçaram revelar-se in- compatíveis com a ordem do estado ao colocar as obrigações para com alguma outra coletividade humana - geralmente a classe, a igreja ou a nacionalidade - acima dele.
das tradições oficiais no período de 1870-1914. O que tornava isso par- ticularmente urgente era a predominancia tanto do modelo das insti- tuições constitucionais liberais quanto da ideologia liberal. As primei- ras ofereciam obstáculos não teóricos, mas no máximo empíricos à de- mocracia eleitoral. De fato, dificilmente um liberal dispensaria a ex- tensão dos direitos civis a todos os cidadãos - ou pelo menos aos de sexo masculino - mais cedo ou mais tarde. A ideologia liberal alcança- ra seus mais espetaculares êxitos econômicos e transformações sociais através da opção sistemática pelo indivíduo, relegando a coletividade institucionalizada, pelas transações de mercado (o "vínculo financei- ro") ao invés de pelos laços humanos, pela hierarquia de classe ao in- ves da de estamentos, pela Gesellschaft, em vez da Gemeinschaft. Dei- xou, assim, sistematicamente, de cultivar os vínculos sociais e de auto- ridade aceitos pelas sociedades do passado, tendo aliás pretendido e conseguido enfraquecê-los. Contanto que as massas permanecessem alheias à política, ou fossem preparadas para apoiar a burguesia libe- ral, não haveria grandes dificuldades políticas em consequência disso. Todavia, da década de 1870 em diante tornou-se cada vez mais eviden- te que as massas estavam começando a envolver-se na política, e não se poderia ter certeza de que apoiariam seus senhores. Após a década de 1870, portanto, quase que certamente junto com o surgimento da política de massas, os governantes e observado- res da classe média redescobriram a importância dos elementos "irra- cionais" na manutenção da estrutura e da ordem social. Conforme co- mentaria Graham Wallas em Human Nature in Politics (A Natureza Humana na Política) (1908): "Quem se dispuser a basear seu pensa- mento político numa reavaliação do funcionamento da natureza hu- mana, deve começar por tentar superar sua própria tendência de exa- gerar a intelectualidade do homem".^4 Uma nova geração de pensado- res não teve dificuldade em superar tal tendência. Redescobriram ele- mentos irracionais na psique individual (Janet, William James, Freud), na psicologia social (Le Bon, Tarde, Trotter), através da an- tropologia em povos primitivos cujas práticas já não pareciam preser- var simplesmente as características da infância da humanidade moder- na (Durkheim não distinguiu os elementos de toda a religião nos ritos dos aborígines da Austrália?^5 ), mesmo naquele perfeito bastião da ra- zão humana ideal, o helenismo clássico (Frazer, Cornford).^6 O estudo
intelectual da política e da sociedade foi transformado pelo reconheci- mento de que o que mantinha unidas as coletividades humanas não eram os cálculos racionais de seus componentes. Creio não ser este o momento oportuno para fazer uma análise, nem mesmo a mais breve possível, deste recuo intelectual do liberalis- mo clássico, que apenas os economistas não acompanharam.^7 Há uma relação óbvia entre ele e a experiência da política de massas, principal- mente num país onde uma burguesia que tinha, segundo Burke, "rasgado violentamente... o recatado cortinado da vida,... as agrada- veis ilusões que tornavam o poder manso e a obediência liberal"^8 da forma mais definitiva possível, agora achava-se exposta, afinal, a ne- cessidade permanente de governar por meio de uma democracia políti- ca à sombra de uma revolução social (a Comuna de Paris). Natural- mente, não bastava lamentar o desaparecimento daqueles antigos ali- cerces sociais, a igreja e a monarquia, como fez o Taine pós-Comuna, embora não tivesse simpatia por nenhuma das duas.^9 Era ainda menos prático trazer de volta o rei católico, como queriam os monarquistas (eles próprios estando longe de ser os melhores exemplos de piedade e fé tradicional, como no caso de Maurras). Havia que construir-se uma "religiao cívica" alternativa. Tal necessidade foi o núcleo da sociolo- gia de Durkheim, trabalho de um dedicado republicano não-socialista. No entanto, teve de ser instituída por pensadores menos eminentes, embora fossem políticos mais experientes. Seria ridículo insinuar que os homens que governaram a Terceira República, para atingirem uma estabilidade social, fiaram-se apenas na invenção de tradições novas. Eles, ao contrário, basearam-se no fato político real de que a direita era uma minoria eleitoral permanen- te, que o proletariado social revolucionário e os inflamáveis parisien- ses poderiam ser permanentemente derrotados pelos votos das aldeias e pequenas cidades, com representação equivalente ou maior, e que a genuina paixão dos eleitores republicanos rurais pela Revolução Fran- cesa e seu ódio pelos interesses dos detentores do capital poderia geral- mente ser aplacado por estradas apropriadamente distribuídas pelos distritos, pela defesa dos altos pregos dos produtos agrícolas e, quase certamente, pela manutenção de impostos baixos. O aristocrata radi- cal socialista sabia o que pretendia quando redigiu seu discurso eleito-
ral, recorrendo a evocação do espírito de 1789 - não do de 1793 - e a um hino à República, em cujo climax garantiu sua lealdade aos inte- resses dos viticultores do seu eleitorado do Languedoc.^10 Entretanto, a invenção da tradição desempenhou um papel fun- damental na manutenção da República, pelo menos salvaguardando-a contra o socialismo e a direita. Pela anexação deliberada da tradição revolucionária, a Terceira- República apaziguou os social-re- volucionários (como a maioria dos socialistas) ou isolou-os (como os anarco-sindicalistas). Em consequência disso, era agora capaz de mobilizar até mesmo a maioria de seus adversários potenciais da es- querda para defender uma república e uma revolução do passado, constituindo uma frente única com as classes que reduziu a direita a uma permanente minoria no país. Alias, conforme se explica no ma- nual da política da Terceira República, Clochemerle, a principal fun- ção da direita era ser alvo da mobilização dos bons republicanos. 0 movimento operário socialista negou-se a ser cooptado pela República burguesa até certo ponto; daí a instituição da comemoração anual da Comuna de Paris no Mur des Federes (1880) contra a institucionaliza- ção da República; daí também a substituição da "Marselhesa" tradi- tional e agora oficial, pela nova "Internationale", seu hino durante o caso Dreyfus, e principalmente durante as controvérsias sobre a parti- cipação socialista nos governos burgueses (Millerand)." Mais uma vez, os republicanos jacobinos radicais continuaram, dentro do simbo- lismo oficial, a assinalar sua separação dos republicanos moderados e dominantes. Agulhon, que estudou a mania típica de erigir monumen- tos, em sua maioria da própria República, durante o período de 1875 a 1914, observa, de maneira perspicaz, que nos municípios mais radicais Marianne trazia pelo menos um dos seios nus, enquanto nos mais mo- derados ela estava sempre recatadamente vestida.^12 No entanto, o mais importante era que quern controlava todas as metáforas, o simbolis- mo, as tradições da República eram os homens do centro mascarados de homens da extrema esquerda: os socialistas radicais, proverbial- mente "iguais aos rabanetes, vermelhos por fora e brancos por dentro, sempre do lado que mais lhes interessa". Assim que eles pararam de controlar as fortunas da República - desde a época da Frente Popular em diante - os dias da Terceira República ficaram contados.
Ha provas suficientes de que a burguesia republicana moderada reconhecia a natureza de seu principal problema politico ("falta de ini- migos da esquerda") desde a decada de 1860, e pds-se a resolvS-lo logo que a Republica firmou-se no poder.^13 Em termos da invengao da tra- digao, tres novidades principais sao particularmente importantes. A primeira foi o desenvolvimento de um equivalente secular da igreja - educagao primaria, imbuida de principios e conteiido revolucionario e republicano, e dirigida pelo equivalente secular do clero - ou talvez, dada a sua pobreza, os frades - os instituteurs.^1 " Nao resta diivida de que esta foi uma criagao deliberada do inicio da Terceira Republica e, considerando-se a centralizagao proverbial do governo frances, de que o cpnteudo dos manuais que iriam transformar nao so camponeses em franceses, mas todos os franceses em bons republicanos, foi cuidado- samente elaborado. Alias, a "institucionalizagao" da propria Revolu- gao Francesa na, e pela, Republica ja foi estudada com maior vagar.^15 A segunda novidade foi a invengao das cerimonias publicas.^16 A mais importante delas, o Dia da Bastilha, foi criado em 1880. Reunia manifestagoes oficiais e nao-oficiais e festividades populares - fogos de artificio, bailes nas ruas - confirmando anualmente a condigao da Franga como nagao de 1789, na qual todo homem, mulher e crianga franceses poderiam tomar parte. Embora deixasse espago, para mani- festagoes populares mais belicosas, mal podendo evita-las, sua tenden- cia geral era transformar a heranga da Revolugao numa expressao conjunta de pompa e poder do estado e da satisfagao dos cidadaos. Forma menos permanente de celebragao publica eram as exposigoes mundiais exporadicas que deram a Republica a legitimidade da pros- peridade, do progresso tecnico - a Torre Eiffel - e a conquista colonial global que procuravam enfatizar.17, A terceira novidade foi a produgao em massa de monumentos publicos ja comentada. Pode-se observar que a Terceira Republica - ao contrario de outros paises - nao era favoravel aos edificios publicos
da monarquia, exército e aristocracia prussiana, utilizar as divisões potenciais entre os vários tipos de oposição e evitar tanto quanto possível que a democracia política influenciasse as decisões do gover- no. Grupos obviamente irreconciliáveis que não podiam ser divididos
Os edificios e monumentos eram a forma mais visível de estabele- cer uma nova interpretação da história alemã, ou antes uma fusão en- tre a "tradição inventada" mais velha e romântica do nacionalismo alemão pré-1848 e o novo regime: os símbolos mais potentes foram os que conseguiram a fusão. Assim, o movimento de massa dos ginastas alemães, dos liberais e dos grande-alemães até a década de 1860, dos
bismarckianos após 1866 e, finalmente, dos pan-germânicos e anti- semitas levou a sério três monumentos cuja inspiração era basicamen- te não-oficial: o monumento a Armínio, o Querusco, na Floresta Teu- toburga (em grande parte construído de 1838-46, e inaugurado em 1875); o monumento Niederwald, às margens do Reno, que comemora a unificação da Alemanha em 1871 (1877-83); e o monumento come- morativo do centenário da batalha de Leipzig, iniciado em 1894 por "uma Associação Patriótica Alemã pela Construção de um Monu- mento à Batalha dos Povos em Leipzig", e inaugurado em 1913. Por outro lado, eles não parecem ter manifestado entusiasmo pela propos- ta de transformar o monumento a Guilherme I na montanha Kyffhauser, no local onde, segundo as lendas, o Imperador Frederico Barba Roxa reapareceria, num símbolo nacional (1890-6), e como não houve nenhuma reagao especial a construção do monumento a Gui- lherme I e à Alemanha na confluência do Reno com o Moselle (o "Deutsches Eck", ou Recanto Alemão), dirigidos contra as reivindica- ções francesas à margem esquerda do Reno.^21 À parte tais variações, o volume de construções e estátuas ergui- das na Alemanha neste período foi considerável, enriquecendo os ar- quitetos e escultores adaptáveis e competentes o suficiente.^22 Entre os que foram construídos ou planejados só na década de 1890, podemos mencionar o novo edifício do Reichstag (1884-94), cuja fachada osten- ta elaboradas metáforas históricas, o monumento de Kyffhäuser já ci- tado (1890-6), o monumento nacional a Guilherme I - nitidamente considerado o pai oficial do país (1890-7), o monumento a Guilherme I na Porta Westfálica (1892), o monumento a Guilherme I no Deuts- ches Eck (1894-7), o extraordinário Valhalla de príncipes Hohen- zollern na "Avenida da Vitória" (Siegesallee) em Berlim (1896-1901), uma variedade de estátuas de Guilherme I nas cidades alemãs (Dort- mund 1894, Wiesbaden 1894, Prenzlau 1898, Hamburgo 1903, Halle
em que se utilizaram temas históricos nos selos postais do Império (1899). Este acúmulo de construções e estátuas tráz duas implicações. A primeira refere-se à escolha de urn símbolo nacional. Havia dois dis- poníveis: uma "Germania" indefinida, porém adequadamente militar, que não desempenhava grande papel na escultura, embora figurasse frequentemente nos selos desde o início, uma vez que nenhuma figura dinástica poderia por enquanto simbolizar a Alemanha como um to- do; e a figura do "Deutsche Michel", que realmente surge num papel subordinado no monumento a Bismarck. Ele pertence as curiosas re- presentações da nação, não como um país ou estado, mas como "o po- vo", que passou a animar a demótica linguagem política dos caricatu- ristas do século XIX, e que visava (como John Bull e o Ianque de cava- nhaque - não como Marianne, símbolo da República) expressar o ca- ráter nacional, segundo o ponto de vista dos próprios membros da na- ção. Suas origens e primórdios são desconhecidos, embora, como o hino nacional, tenham sido quase certamente encontrados pela primei- ra vez na Grã-Bretanha do século XVIII.^24 Essencialmente, o "Deuts- che Michel" enfatizava tanto a inocência e a simplicidade tão pronta- mente exploradas pelos forasteiros ardilosos, quanto a força física que podia utilizar para frustrar seus truques e conquistas manhosas quan- do afinal despertada. Ao que parece, "Michel" foi essencialmente um símbolo antiestrangeiro.
A segunda implicação diz respeito a importância capital da unifi- cação alemã por Bismarck com a única experiência nacional histórica que os cidadãos do novo Império tinham em comum, considerando-se que todas as concepções anteriores da Alemanha e da unificação ale- mã eram, de uma forma ou de outra, "grande-alemãs". No contexto desta experiência, a guerra franco-alemã era fundamental. A tradição "nacional" (breve) que a Alemanha possuía resumia-se em três nomes: Bismarck, Guilherme I e Sedan. Isto exemplifica-se claramente nos cerimoniais e rituais inventa- dos (também principalmente no reinado de Guilherme II). Assim, os anais de um ginásio registram nada menos que dez cerimônias entre agosto de 1895 e março de 1896 para comemorar o vigésimo quinto aniversário da guerra franco-prussiana, incluindo amplas comemora- ções das batalhas da guerra, celebrações do aniversário do imperador, a entrega oficial do retrato de um príncipe imperial, iluminação espe- cial e discursos sobre a guerra de 1870-1, sobre o desenvolvimento da
ideia imperial (Kaiseridee) durante a guerra, sobre o caráter da dinas- tia Hohenzollern, e daí por diante.^25 Talvez se possa elucidar melhor o caráter de uma dessas cerimô- nias com uma descrição mais detalhada. Observados por pais e ami- gos, os meninos entravam no pátio da escola, marchando e cantando "Wacht em Rhein" (a "canção nacional" mais diretamente identifica- vel com a hostilidade em relação a França, embora, significativamente não fosse o hino nacional prussiano nem alemão).^26 Formavam de frente para os representantes de cada turma, que traziam bandeiras en- feitadas com folhas de carvalho, compradas com dinheiro arrecadado em cada turma. (O carvalho tem ligações com o folclore, o nacionalis- mo e os valores militares teuto-germânicos - ainda lembrados nas fo- lhas de carvalho que assinalavam a mais alta classe de ornamento mili- tar antes de Hitler: um equivalente alemão adequado dos louros lati- nos.) O líder apresentava as bandeiras ao diretor que, por sua vez, diri- gia-se à assembleia e falava sobre os gloriosos dias do último impera- dor Guilherme I e pedia três fortes vivas pelo presente monarca e sua imperatriz. Depois, os meninos marchavam, seguindo as bandeiras. Seguia-se ainda outro discurso do diretor, antes que fosse plantado um "carvalho imperial" (Kaisereiche) ao som de um coral. O dia encerra- va-se com uma excursão à Grunewald. Todos estes procedimentos eram simplesmente preliminares à comemoração em si do Dia de Se- dan, dois dias depois, e aliás, a um ano letivo repleto de reuniões de ca- ráter ritual, tanto religiosas como cívicas.^27 No mesmo ano, um decre- to imperial anunciaria a construção do Siegesallee, relacionada ao vi- gésimo quinto aniversário da guerra franco-prussiana, interpretada como a insurreição do povo alemão "como um só povo", embora "a- tendendo ao chamado de seus príncipes" para "repelir a agressão es- trangeira e alcançar a unidade da pátria e a restauração do Reich com vitórias gloriosas" (o grifo é meu).^28 O Siegesallee, como já se disse, re-
canismo de assimilação da política municipal e estadual.) Por outro la- do, o sistema educacional foi transformado num aparelho de socializa- ção política através da veneração da bandeira americana que, da déca- da de 1880 em diante, tornou-se um ritual diário nas escolas rurais.^31 conceito do americanismo como opção - a decisão de aprender inglês, de candidatar-se à cidadania - e uma opção quanto a crenças, atos e modalidades de comportamento específicas trazia implícita a ideia correspondente de "antiamericanismo". Nos países que definiam a nacionalidade sob o ponto de vista existencial, podia haver ingleses ou franceses antipatrióticos, mas seu status de cidadãos ingleses ou Fran- ceses não podia ser posto em dúvida, a menos que eles também pudes- sem ser definidos como forasteiros (metèques). Nos Estados Unidos, porém, assim como na Alemanha, quem fosse "antiamericano" ou "vaterlandslose" teria seu status efetivo como membro da nação posto em dúvida. Como se poderia esperar, a classe operária era o conjunto maior e mais visível destes membros duvidosos da comunidade nacional; mais ainda porque nos Estados Unidos eles podiam realmente ser classifica- dos de imigrantes. A esmagadora maioria dos novos imigrantes eram operários; por outro lado, desde pelo menos a década de 1860, a maioria dos trabalhadores em praticamente todas as grandes cidades do país parecia ser estrangeira. Quanto ao conceito de "anti- americanismo", cujas origens parecem datar pelo menos da década de 1870,^32 não parece claro se foi uma reação dos nativos contra os foras- teiros, ou das classes médias protestantes anglo-saxônicas contra os trabalhadores estrangeiros. Em todo caso, ele produziu um inimigo in- terno contra o qual os bons americanos poderiam afirmar seu ameri- canismo, assim como o faziam pela execução escrupulosa de todos os rituais formais e informais, a afirmação de todas as ideias convencio- nal e institucionalmente estabelecidas como características dos bons americanos. Podemos analisar mais brevemente a invenção das tradições do estado em outros países da época. As monarquias, por motivos ób- vios, tenderam a relacioná-las à coroa, e durante este período inicia- ram-se os agora conhecidos exercícios de relações públicas centrados nos rituais reais ou imperiais, bastante facilitados pela feliz descoberta
cerimonial. Essa inovação e até comentada no New English Dictiona- ry." O valor publicitário dos aniversários e nitidamente demonstrado pelo fato de que eles frequentemente ofereceram oportunidade para a primeira emissão de estampas históricas ou semelhantes em selos pos- tais, a forma mais universal de simbolismo público, além do dinheiro, como se vê no Quadro 1.
Q u a d r o 1. Primeira emissão de selos históricos antes de 1914^34
País
Alemanha Áustria-Hungria Bélgica Bulgária Espanha
Grécia Itália Países Baixos
Portugal
Romenia Rússia
Sérvia Suíça
Primeiro
... i. selo
1872 1850 1849 1879 1850
1861 1862 1852
1852
1865 1858
1866 1850
Primeiro selo histórico
1899 1908 1914 1901 1905
1896 1910- 1906
1894
1906 1905-
1904 1907
Jubileu ou ocasião especial
Inauguração de monumento 60 anos de Francisco José Guerra (Cruz Vermelha) Aniversário da revolta Tricentenário de Don Quixote Jogos olímpicos Aniversários Tricentenário de De Ruyter 500º aniversário do Infante Dom Henrique 40 anos de governo Tricentenario da beneficncia de guerra Centenário da dinastia
É quase certo que o jubileu da Rainha Vitória, de 1887, repetido dez anos mais tarde devido a seu incrível sucesso, tenha inspirado co-
memorações reais ou imperiais subsequentes na Grã-Bretanha e em todos os outros países. Até as dinastias mais tradicionalistas - os Habsburgos em 1908, os Romanovs em 1913 - descobriram os méritos desta forma de propaganda. Era nova na medida em que se dirigia ao público, ao contrário dos cerimoniais criados para simbolizar a rela- ção entre os monarcas e a divindade e sua posição no ápice de uma hierarquia de magnatas. Após a Revolução Francesa, todo monarca teve, mais cedo ou mais tarde, de aprender a mudar do equivalente na- tional de "Rei da França" para "Rei dos franceses", ou seja, a estabe- lecer uma relação direta com a coletividade de seus súditos, por mais humildes que fossem. Embora também estivesse presente a opção es- tilística por uma "monarquia burguesa" (estreada por Luís Filipe), ela parece ter sido adotada apenas pelos reis de paises humildes, que que- riam manter uma aparência de modéstia - os Países Baixos, a Escandi- návia - embora até alguns dos reis por direito divino - especialmente o Imperador Francisco José - pareçam ter representado o papel de fun- cionário esforcado, que vivia num conforto espartano. Tecnicamente, não havia grande diferença entre o uso político da monarquia com o objetivo de fortalecer os governantes efetivos (como nos impérios Habsburgo, Romanov, mas também talvez indiano), e de constituir a função simbólica das cabeças coroadas nos Estados parla- mentares. Ambos baseavam-se na exploração da pessoa real, com ou sem ancestrais dinásticos, em ocasiões rituais elaboradas a que se asso- ciavam atividades de propaganda e uma ampla participação do povo, também através do público cativo disponível para doutrinação oficial no sistema educacional. Ambos faziam do governante o foco da uni- dade de seus povos ou seu povo, o representante simbólico da glória e grandeza national, de todo o seu passado e continuidade num presente em transformação. Todavia, as inovações foram talvez mais delibera- das e sistemáticas onde, como na Grã-Bretanha, a restauração do ri- tualismo real era considerada uma compensação necessária para os riscos da democracia popular. Bagehot ja havia reconhecido o valor da deferencia política e das partes "nobres", ao contrário das "eficien- tes", da constituição na época da Segunda Lei Reformista. O velho Disraeli, ao contrário do jovem, aprendeu a ter "reverência pelo trono e seu ocupante" como "urn poderoso instrumento de poder e influên- cia". Ao fim do reinado de Vitória, já se compreendia bem a natureza deste artifício. J. E. C. Bodley escreveu sobre a coroação de Eduardo VII:
O uso de um rito antigo por um povo apaixonado porém prático para as- sinalar as maravilhas modernas de seu império, o reconhecimento de uma coroa hereditária por uma democracia livre, como símbolo do domínio
universal de sua raça, não constituem mera representação, mas um acon- tecimento do maior interesse histórico."
A glória e a grandeza, a riqueza e o poder podiam ser simbolicamente compartilhados com os pobres da realeza e seus rituais. Quanto maior o poder, menos atraente era, pode-se imaginar, a opção burguesa pela monarquia. Podemos lembrar que na Europa a monarquia continuou sendo a forma universal de estado entre 1870 e 1914, exceto na França e na Suíça.
II As tradições políticas mais universais inventadas neste período foram obra dos Estados. Todavia, o surgimento de movimentos de massa que reivindicavam status independente ou até alternativo para os Estados acarretaram progressos semelhantes. Alguns destes movi- mentos, principalmente o catolicismo político e vários tipos de nacio- nalismo, estavam profundamente conscientes da importância do ri- tual, cerimonial e mito, incluíndo, via de regra, um passado mitológi- co. A importância das tradições inventadas torna-se ainda mais notá- vel quando elas surgem entre movimentos racionalistas que eram, pelo menos, relativamente avessos a elas, e que não tinham equipamento simbólico e ritual pré-fabricado. Portanto, a melhor maneira de estu- dar seu aparecimento está num desses casos - o dos movimentos socia- listas operários. O principal ritual internacional destes movimentos, o 1º de Maio (1890) desenvolveu-se espontaneamente dentro de um período sur- preendentemente curto. No princípio, compunha-se de uma greve ge- ral de um dia e uma manifestação reivindicando uma Jornada de tra- balho de oito horas, marcadas numa data já associada durante alguns anos com esta exigência nos Estados Unidos. A escolha desta data foi certamente bastante pragmática na Europa. Provavelmente não tinha importância ritual nos Estados Unidos, onde o "Dia do Trabalho" já havia sido estabelecido no final do verão. Havia sido proposto, com certa razão, que essa data coincidisse com o "Dia da Mudança", a data em que tradicionalmente se encerravam os contratos de trabalho em Nova Iorque e Pennsylvania.^36 Embora este, como períodos con- tratuais semelhantes em certas partes da agricultura traditional euro- péia, tivesse originalmente feito parte do ciclo anual simbolicamente
mais recentes, como as festas nacionais do jornal comunista italiano Unità.) Como todas elas, combinava a animação e entusiasmo público e particular com a afirmação de lealdade ao movimento, elemento bá- sico da consciência da classe operária: a retórica - naquela época, quanto mais longo o discurso, melhor, uma vez que um bom discurso representava inspiração e divertimento - estandartes, emblemas, slo- gans, e daí por diante. De forma ainda mais decisiva, afirmou a pre- sença da classe operária através da mais básica manifestação do poder proletário: a abstenção do trabalho. Pois, paradoxalmente, o sucesso do 1° de Maio tendia a ser proporcional a sua distância das atividades cotidianas concretas do movimento. Era maior onde a aspiração so- cialista prevalecia sobre o realismo político e a prudência sindical que, como na Grã-Bretanha e Alemanha,^44 recomendava que houvesse uma manifestação, todo primeiro domingo do mês, além do dia anual de greve em 1º de Maio. Victor Adler, percebendo a disposição dos traba- lhadores austríacos, insistira na greve, ao contrário dos conselhos de Kautsky,^45 e assim o 1º de Maio austríaco adquiriu uma força e uma repercussão fora do comum. Portanto, como vimos, o 1º de Maio não foi formalmente inventado pelos líderes do movimento, mas aceito e institucionalizado por eles por iniciativa de seus seguidores. A força da nova tradição foi nitidamente avaliada por seus inimi- gos. Hitler, com seu agudo senso de simbolismo, houve por bem não só adotar a cor vermelha da bandeira dos trabalhadores, mas também o 1º de Maio, convertendo-o num "dia oficial nacional do trabalho", em 1933, e mais tarde atenuando suas relações com o proletariado.^46 Pode-se acrescentar en passant que a data era agora um feriado geral trabalhista na Comunidade Econômica Européia. O 1° de Maio e os rituais trabalhistas semelhantes situam-se entre as tradições "políticas" e "sociais", pertencendo ao grupo das primei- ras através de sua associação com as organizações de massas e parti- dos que podiam - e de fato visavam - tornar-se regimes e estados; e ao grupo das segundas porque manifestavam de forma autêntica a cons- ciência que os trabalhadores tinham de serem uma classe a parte, visto que esta consciência era inseparável das organizações corresponden- tes. Embora em muitos casos - tais como a Social-Democracia austría- ca, ou os mineiros britânicos - a classe e a organização tornaram-se in-
separáveis, isso não quer dizer que as duas coisas fossem idênticas en- tre si. "O movimento" desenvolveu suas próprias tradições, comparti- lhadas por líderes e militantes, mas não necessariamente por eleitores e adeptos, e, por outro lado, a classe poderia desenvolver "tradições in- ventadas" próprias, independentes dos movimentos organizados, ou até mesmo suspeitos aos olhos dos ativistas. Vale a pena examinar bre- vemente duas dessas tradições, ambas óbvios produtos de nossa era. A primeira é o surgimento - especialmente na Grã-Bretanha, mas talvez também em outros países - de roupas como expressão de classe. A se- gunda relaciona-se aos esportes de massa. Não é por acaso que a história em quadrinhos que satiriza leve- mente a cultura operária masculina tradicional da velha área indus- trial da Grã-Bretanha (principalmente o Nordeste) tem como título e símbolo o boné, que era praticamente o distintivo da classe proletária quando não estava trabalhando: Andy Capp ("Zé do Boné"). Existia também na França uma equivalência semelhante entre classe e boné, até certo ponto,^47 assim como em algumas partes da Alemanha. Na Grã-Bretanha, ao menos, segundo indícios iconográficos, os proletá- rios não eram universalmente relacionados ao boné antes da década de 1890, mas no fim do período eduardino - como provam fotos de mul- tidões saindo de jogos de futebol ou de assembleias - tal identificação era quase completa. A ascensão do boné proletário ainda está a espe- ra de um cronista. Ele ou ela, supostamente, descobrirá que sua histó- ria tern relação com a do desenvolvimento dos esportes de massa, uma vez que este tipo específico de chapéu surge a princípio como acessório esportivo entre as classes alta e média. Sejam quais forem suas origens, ele tornou-se obviamente característico da classe operária, não só por- que membros de outras classes, ou aqueles que aspiravam a esse status, não quisessem ser confundidos com operários, mas também porque os trabalhadores braçais não estavam interessados em escolher (a não ser, sem dúvida, para ocasiões de grande formalidade) qualquer outra forma de cobrir a cabeça, dentre as muitas existentes. A manifestação de Keir Hardie, que entrou no Parlamento de boné (1892) indica que era reconhecido o elemento de afirmação de classe.^48 É razoável supor que as massas sabiam disso. De alguma forma não muito clara, os pro- letários adquiriram o hábito de usar o boné bem rápido, nas últimas
décadas do século XIX e na primeira década do século XX, como par- te da síndrome característica da "cultura operária" que se delineava então. A história equivalente do vestuário do proletariado em outros países ainda não foi escrita. Aqui podemos apenas observar que suas implicates politicas eram perfeitamente compreendidas, senão antes de 1914, certamente entre as guerras, conforme testemunha a seguinte lembrança do primeiro desfile Nacional-Socialista (oficial) do lº de Maio, em Berlim, 1933: Os trabalhadores... vestiam ternos batidos mas limpos, e usavam aque- les bonés de marinheiro que na época eram um sinal geral externo distin- tivo de sua classe. Os bonés estavam enfeitados com uma tira discreta, quase sempre de verniz preto, mas frequentemente substituída por uma tira de couro com fivelas. Os social-democratas e os comunistas usavam este tipo de tira nos bonés, os nacional-socialistas usavam outro, dividido no meio. Esta pequena diferença repentinamente saltou aos olhos. O sim- ples fato de que mais trabalhadores do que nunca usavam a tira dividida nos bonés trazia a notícia fatal de que uma batalha estava perdida.^49 A associação política entre operário e boné na França entre as guerras (la salopette) também é fato comprovado, mas falta pesquisa sobre sua história antes de 1914. A adoção dos esportes, principalmente o futebol, como culto pro- letário de massa é igualmente confusa, porém sem dúvida igualmente rápida.^50 Neste caso, é mais fácil estabelecer uma cronologia. Entre meados da década de 1870, no mínimo, e meados ou fins da década de 1880, o futebol adquiriu todas as características institucionais e rituais com as quais estamos familiarizados: o profissionalismo, a Confedera- ção, a Taça, que leva anualmente em peregrinação os fiéis à capital para fazerem manifestações proletárias triunfantes, o público nos está- dios todos os sábados para a partida do costume, os "torcedores" e sua cultura, a rivalidade ritual, normalmente entre facções de uma ci- dade ou conurbação industrial (Manchester City e United, Notts County e Forest, Liverpool e Everton). Além disso, ao contrário de outros esportes com bases proletárias locais ou regionais - tais como o rugby union, no Sul de Gales,^51 o críquete, em certas áreas do norte da Inglaterra - o futebol funcionava numa escala local e nacional ao mes- mo tempo, de forma que o tópico das partidas do dia forneceria uma
base comum para conversa entre praticamente qualquer par de operá- rios do sexo masculino na Inglaterra ou Escócia, e alguns jogadores artilheiros representavam um ponto de referência comum a todos A natureza da cultura do futebol neste período - antes de haver penetrado muito nas culturas urbanas e industriais de outros países^52 ainda não foi bem compreendida. Sua estrutura socioeconômica, po- rém, é mais compreensível. A princípio desenvolvido como um esporte amador e modelador do caráter pelas classes médias da escola secun- dária particular, foi rapidamente (1885) proletarizado e portanto pro- fissionalizado; o momento decisivo simbólico - reconhecido como um confronto de classes - foi a derrota dos Old Etonians pelo Bolton Olympic na final do campeonato de 1883. Com a profissionalização, a maior parte das figuras filantrópicas e moralizadoras da elite nacional afastou-se, deixando a administração dos clubes nas mãos de negocian- tes e outros dignitários locais, que sustentaram uma curiosa caricatura das relações entre classes do capitalismo industrial, como empregado- res de uma força de trabalho predominantemente operária, atraída para a indústria pelos altos salários, pela oportunidade de ganhos ex- tras antes da aposentadoria (partidas beneficentes), mas, acima de tu- do, pela oportunidade de adquirir prestígio. A estrutura do profissio- nalismo do futebol britânico era bastante diferente da do profissiona- lismo nos esportes em que participavam a aristocracia e a classe média (críquete) ou que estas controlavam (corridas), ou da estrutura da in- dústria dos espetáculos populares, e da de outros meios pelos quais a classe operária fugia de sua sina, que também forneceram o modelo para alguns esportes dos pobres (luta livre).^53 É altamente provável que os jogadores de futebol tendessem a ser recrutados entre os operários habilidosos,^54 ao que parece ao contrário do boxe, esporte que buscava seus praticantes em ambientes onde a ca- pacidade de dominar o próprio corpo era útil para a sobrevivência, como nas grandes favelas urbanas, ou fazia parte de uma cultura ocu- pacional de masculinidade, como nas minas. Embora o caráter urbano e proletário das multidões aficionadas do futebol seja patente,^55 não se
ram subtraídos da população, como comentou um observador in- glês?" Para complicar a questão, surgiu um terceiro problema: o apa- recimento da mulher de classe média, cada vez mais emancipada no palco público por direito próprio. Enquanto o número de meninos nos lycées franceses entre 1897 e 1907 aumentou apenas discretamente, o número de meninas elevou-se em 170 por cento. Para as classes médias altas ou "haute bourgeoisie", os critérios e instituições que antes serviam para separar uma classe aristocráti- ca dominante forneceram obviamente um modelo: tinham simples- mente de ser ampliados e adaptados. O ideal era uma fusão das duas classes, na qual os novos componentes se tornassem irreconhecíveis, embora isso provavelmente não fosse possível nem mesmo na Grã- Bretanha, onde era totalmente admissível que uma família de banquei- ros de Nottingham lograsse, através de várias gerações, unir-se à reale- za por meio de casamentos. O que tornava possíveis as tentativas de assimilação (na medida em que fossem institucionalmente permitidas) era aquele elemento de estabilidade que, conforme um observador francês, distinguia as gerações da alta burguesia que já haviam chega- do ao topo e se estabelecido como alpinistas de primeira geração."^62 A rá- pida aquisição de fortunas fabulosas poderia também capacitar os plu- tocratas de primeira geracao a pagarem para entrar num contexto aris- tocrático que nos paises burgueses baseava-se não só no título e na descendência como também em dinheiro suficiente para levar-se um estilo de vida adequadamente dissoluto^63 Na Grã-Bretanha eduardi- na, os plutocratas aproveitavam avidamente essas oportunidades.^64 Contudo, a assimilação individual só se aplicava a uma reduzida mi- noria.
O critério aristocrático básico de descendência poderia, entretan- to, ser adaptado para definir uma nova e ampla elite da alta classe me- dia. Assim, surgiu uma verdadeira paixão pela genealogia nos Estados Unidos na década de 1890. Foi antes de mais nada um interesse femi- nino: as "Filhas da Revolução Americana" (1890) subsistiram e flores- ceram, enquanto os "Filhos da Revolução Americana", organização um pouco mais antiga, extinguiu-se. Embora o objetivo manifesto fos- se distinguir os americanos nativos, brancos, protestantes, da massa de novos imigrantes, seu objetivo real era estabelecer uma camada alta
exclusiva entre a classe média branca. A F.R.A. não tinha mais de 30.000 membros em 1900, principalmente nas fortalezas do dinheiro "velho" - Connecticut, Nova Iorque, Pensilvânia - embora também entre os prósperos milionários de Chicago." Organizações como esta diferiam das tentativas muito mais restritas de estabelecer um grupo de famílias como elite semi-aristocrática (através da inclusão num Re- gistro Social, ou coisa parecida), visto que estabeleciam ligações de âmbito nacional. Certamente, era mais provável que a F.R.A., menos exclusiva, descobrisse membros apropriados em cidades como Omaha do que um Registro Social muito elitista. A história da pesquisa da classe média sobre sua genealogia ainda esta para ser escrita, mas a concentração americana sistemática nesta busca era provavelmente, nesta época, relativamente excepcional. Muito mais importante era a educação escolar, suplementada, em certos aspectos, pelos esportes amadores, intimamente ligados a ela nos países anglo-saxônicos. A escolarização fornecia não só um meio conveniente de comparação entre indivíduos e famílias sem relações pessoais iniciais e, numa escala nacional, uma forma de estabelecer pa- drões comuns de comportamento e valores, mas também um conjunto de redes interligadas entre os produtos de instituições comparáveis e, indiretamente, através da institucionalização do "aluno antigo", "ex- aluno" ou "Alte Herren", uma forte teia de estabilidade e continuida- de entre as gerações. Além disso, permitia, dentro de certos limites, a possibilidade de expansão para uma elite da classe média alta, sociali- zada de alguma maneira devidamente aceitável. Aliás, a educação no século XIX tornou-se o mais conveniente e universal critério para de- terminar a estratificação social, embora não se possa definir com pre- cisão quando isto aconteceu. A simples educação primária fatalmente classificava uma pessoa como membro das classes inferiores. O crité- rio mínimo para que alguém pudesse ter status de classe média reco- nhecido era educação secundária a partir de, aproximadamente, 14 a 16 anos. A educação superior, exceto por certas formas de instrução estritamente vocacional, era sem dúvida um passaporte para a alta classe média e outras elites. Segue-se, a propósito, que a tradicional prática burguesa-empresarial de iniciar os filhos no serviço da empresa em meados da adolescência, ou de abster-se da educação universitária, começou a perder terreno. Foi certamente o que ocorreu na Alema- nha, onde, em 1867, 13 de 14 cidades industriais da Renânia recusa- ram-se a contribuir para a comemoração do quinquagésimo aniversá- rio da Universidade de Bonn, alegando que nem os industriais, nem
302
seus filhos a frequentavam.^66 La pela década de 1890, a percentagem de estudantes de Bonn oriundos de famílias da Besitzbürgertum tinha aumentado de cerca de vinte e três para pouco menos de quarenta, en- quanto aqueles oriundos da burguesia profissional tradicional (Bil- dungsbürgertum) haviam baixado de 42 para 31%.^67 Foi provavelmente o que ocorreu na Grã-Bretanha, embora observadores franceses da dé- cada de 1890 ainda registrassem, surpresos, que os ingleses raramente saíam da escola depois dos 16 anos.^68 Decerto, este nao era mais o caso da "alta classe média", apesar de não terem sido feitas muitas pesqui- sas sistemáticas sobre o assunto. A educação secundária fornecia um critério amplo de ingresso na classe média, porém amplo demais para definir ou selecionar as elites em rápida evolução, e que, embora numericamente bem pequenas, e sendo chamadas de classe dominante ou "establishment", eram quem dirigia as questões nacionais dos países. Mesmo na Grã-Bretanha, onde não existia sistema secundário nacional antes do século XX, foi preciso formar uma subclasse especial de "escolas secundárias particu- lares" dentro da educação secundária. Foram definidas oficialmente pela primeira vez na década de 1860, e cresceram tanto pela ampliação das nove escolas então reconhecidas (de 2.741 meninos em 1860 para 4.553 em 1906) e também pelo acréscimo de mais escolas consideradas de elite. Antes de 1868, no máximo duas dúzias de escolas eram sérias candidatas a tal status, mas em 1902, de acordo com os cálculos de Honey, ja havia uma "lista curta" mínima de até 64 escolas e uma "lis- ta longa" máxima de até 104 escolas, com uma margem de aproxima- damente 60 em posição mais duvidosa.^69 As universidades expandi- ram-se neste período pelo aumento de matrículas, ao invés de por no- vas fundações, mas este crescimento foi expressivo o suficiente para produzir serias preocupações com a superprodução de graduados, pelo menos na Alemanha. Entre meados da década de 1870 e da de 1880, o número de estudantes chegou quase a dobrar na Alemanha,
Áustria, França e Noruega, e passou do dobro na Bélgica e Dinamar- ca.^70 A expansão nos Estados Unidos foi ainda mais espetacular. Em 1913 já havia 38,6 estudantes por cada 10.000 habitantes do país, com- parado ao número continental normal de 9-11,5 (e menos de 8 na Grã- Bretanha e Itália).^71 Era preciso definir a elite efetiva no seio do con- junto cada vez maior daqueles que possuíam o passaporte educacional exigido. Num sentido lato, esta elite foi agredida pela institucionalização. O Public Schools Yearbook, publicado a partir de 1889, estabelecia que as escolas que faziam parte da chamada Conferência dos Diretores constituíam uma comunidade nacional ou até internacional reconhecí- vel, senão de iguais, pelo menos de comparáveis; e a obra de Baird, American College Fraternities, com sete edições entre 1879 e 1914, fez o mesmo com os "Grêmios das Letras Gregas", associações cujos membros constituíam a elite entre a massa de estudantes universitários americanos. Ainda assim, a tendência dos aspirantes a imitar as insti- tuiçõ es dos bem-sucedidos fez com que se tornasse necessario tracar um limite entre as "classes médias altas" autênticas, ou elites, e os iguais menos iguais do que o restante.^72 A razão disso não era apenas o esnobismo. Uma elite nacional em desenvolvimento também exigia a construção de redes de interação realmente eficazes. E aí, pode-se dizer, que está a importância da instituição dos "a- lunos antigos", "ex-alunos" ou "Alte-Herren", que ora evoluía, e sem a qual não poderiam existir como tais as "redes de alunos antigos". Na Grã-Bretanha surgiram "jantares de antigos", ao que parece na década de 1870, "associações de antigos" apareceram mais ou menos na mesma época - multiplicaram-se especialmente na década de 1890, logo seguidos da invenção de uma "gravata da ex-escola" adequada.^73 Aliás, só no fim do século e que parece ter-se tornado comum que os pais enviassem os filhos à sua ex-escola: apenas 5% dos alunos de Ar- nold matricularam seus filhos em Rugby.^74 Nos Estados Unidos, a
vés da velha adesão aristocrática ao esporte, transformado num siste- ma de disputas formais contra antagonistas considerados à altura em termos sociais. É importante notar que o melhor critério descoberto para a "comunidade da escola particular" e o estudo de quais escolas estavam prontas para jogarem umas contra as outras,^82 e que nos Esta- dos Unidos as universidades de elite (a "Ivy League") definiam-se, pelo menos no nordeste dominante, pela seleção de faculdades que preferiam disputar campeonatos de futebol, naquele país um esporte basicamente universitário quanto à origem. Nem é por acaso que os torneios esportivos formais entre Oxford e Cambridge tenham evoluí- do apenas depois de 1870, e principalmente entre 1890 e 1914 (veja Quadro 3). Na Alemanha, este critério social foi especificamente reco- nhecido:
A característica típica da juventude universitária como grupo social espe- cial (Stand), que a distingue do restante da sociedade, é a ideia de "Satis- faktionsfähigkeit" (aceitabilidade como desafiante nos duelos), ou seja, a reivindicação de um padrão de honra específico e socialmente definido ( Standesehre)^83
Em outros lugares, de facto, a segregação ocultava-se por trás de um sistema nominalmente aberto. Voltamos então a uma das novas práticas sociais mais importan- tes do nosso tempo: o esporte. A história social dos esportes das clas- ses altas e médias ainda está para ser escrita,^84 mas podem-se deduzir três coisas. Em primeiro lugar, que as últimas três décadas do século XIX assinalam uma transformação decisiva na difusão de velhos es- portes, na invenção de novos e na institucionalização da maioria, em escala nacional e até internacional. Em segundo lugar, tal instituciona- lização constituíu uma vitrina de exposição para o esporte, que se pode comparar (sem muito rigor, naturalmente) à moda dos edifícios públicos e estátuas na política, e também um mecanismo para ampliar as atividades até então confinadas à aristocracia e a burguesia endi- nheirada capaz de assimilar o estilo de vida aristocrático, de modo a abranger uma fatia cada vez maior das "classes médias". O fato de que ela, no continente, restringiu-se a uma elite consideravelmente reduzi- da antes de 1914, não nos interessa aqui. Em terceiro lugar, a institu-
Q u a d r o 3. Torneios regulares entre Oxford e Cambridge
Data
Antes de 1860
1860-
1870- 1880- 1890-
1900-
por data de criação^85
Nº de disputas
4 4 4 2 5 8
Esporte
Críquete, remo, péla, tênis Atletismo, tiro, bilhar, corrida de obstáculos Golfe, futebol, rugby, pólo "Cross country", tênis Luta livre, hóquei, patinação, natação, pólo aquático Ginástica, hóquei no gelo, lacrosse, corrida de motos, cabo-de-guerra, esgrima, corri- da de automóveis, subida de morro em motocicleta (alguns destes mais tarde deixaram de ser disputados)
cionalização constituíu um mecanismo de reunião de pessoas de status social equivalente, embora sem vínculos orgânicos sociais ou econômi- cos, e talvez, acima de tudo, de atribuição de um novo papel as mulhe- res burguesas. O esporte que se tornaria o mais característico das classes médias podera exemplificar os três elementos. O tênis foi inventado na Grã- Bretanha, em 1873, adquirindo seu clássico torneio nacional no mes- mo país (Wimbledon) em 1877, quatro anos antes do campeonato americano e 14 antes do francês. Já em 1900 alcançara sua dimensão organizada internacional (Taça Davis). Como o golfe, outro esporte que apresentaria um atrativo fora do comum para as classes médias, não se baseava no esforço de uma equipe, e seus clubes - que adminis- travam às vezes propriedades imensas, com altos custos de manuten- ção - não se uniam em "Confederações", funcionando como centros sociais potenciais ou reais: no caso do golfe, principalmente para os homens (por fim, na maior parte para empresários), no caso do tênis, para os jovens de classe média de ambos os sexos. Além do mais, e cu- rioso que as disputas entre mulheres tenham surgido logo após a cria-
ção dos campeonatos para homens: as simples femininas passaram a integrar Wimbledon sete anos após a introdução das masculinas, e en- traram nos campeonatos americano e francês sete anos após sua insti- tuição.^86 Quase pela primeira vez, portanto, o esporte proporcionou as mulheres respeitáveis das classes altas e médias urn papel público reco- nhecido de seres humanos individuais, a parte de sua função como es- posas, filhas, mães, companheiras ou outros apêndices dos homens dentro e fora da família. O papel do esporte na análise da emancipa- ção das mulheres requer maior atenção do que a recebida até agora, assim como a relação entre ele e as viagens e feriados da classe média.^87 Quase não é preciso documentar o fato de que a institucionaliza- ção do esporte aconteceu nas últimas décadas do século. Mesmo na Grã-Bretanha, ela praticamente só se estabeleceu na década de 1870 — a taça da Associação de Futebol data de 1871, o campeonato de críquete entre os condados de 1873 - e daí em diante inventaram-se di- versos novos esportes (tênis, tênis com peteca, hóquei, pólo aquático e daí por diante), ou de fato introduzidos em escala nacional (golfe), ou sistematizados (boxe). No restante da Europa o esporte em sua forma moderna era importado conscientemente, em termos de valores sociais e estilos de vida, da Grã-Bretanha, em grande parte por aqueles que eram influenciados pelo sistema educacional da classe alta inglesa, tais como o Barão de Coubertin, admirador do Dr. Arnold.^88 O importan- te é a velocidade com que eram feitas estas transferências, embora a institucionalização como tal tenha levado mais tempo para acontecer. O esporte da classe média combinava, assim, dois elementos da invenção da tradição: o político e o social. Por um lado, representava uma tentativa consciente, embora nem sempre oficial, de formar uma elite dominante baseada no modelo britânico que suplementasse, com- petisse com os modelos continentals aristocrático-militares mais ve- lhos, ou procurasse suplanta-los, e assim, dependendo da situação, se associasse a elementos conservadores e liberais nas classes médias e al- tas locais.^89 Por outro, representava uma tentativa mais espontânea de
traçar linhas de classe que isolassem as massas, principalmente pela ênfase sistemática no amadorismo como critério do esporte de classe média e alta (como por exemplo no tênis, no futebol da Rugby Union, ao contrário da associação de futebol e da confederação de rugby, e nos Jogos Olímpicos). Todavia, representava também uma tentativa de desenvolver ao mesmo tempo um novo e específico padrão burguês de lazer e um estilo de vida - bissexual e suburbano ou ex-urbano^90 - e um critério flexível e ampliável de admissão num grupo. Tanto o esporte das massas quanto o da classe média uniam a in- venção de tradições sociais e políticas de uma outra forma: constituin- do um meio de identificação nacional e comunidade artificial. Isso em si não era novo, pois os exercícios físicos de massa havia tempo que eram associados aos movimentos nacionalista-liberais (O Tuner ale- mão, o Sokols tcheco) ou à identificação nacional (tiro de rifle na Suí- ça). Aliás, a resistência do movimento ginasta alemão, com sentido na- cionalista em geral e antibritânico em particular, freou nitidamente a evolução do esporte de massa na Alemanha.^91 A ascensão do esporte proporcionou novas expressoes de nacionalismo atraves da escolha ou invenção de esportes nacionalmente específicos - o rugby gales dife- rente do futebol inglês, e o futebol gaélico na Irlanda (1884), que ad- quiriram apoio genuíno das massas aproximadamente 20 anos de- pois.^92 Contudo, embora o vínculo específico de exercícios físicos com o nacionalismo como parte dos movimentos nacionalistas tenha conti- nuado a ser importante - como em Bengala^93 - era no momento certa- mente menos importante do que dois outros fenômenos. O primeiro era a demonstração concreta dos laços que uniam to- dos os habitantes do Estado nacional, independente de diferenças lo- cais e regionais, como na cultura futebolística puramente inglesa ou, mais literalmente, em instituições desportivas como o Tour de France dos ciclistas (1903), seguido do Giro d'ltalia (1909). Estes fenômenos foram mais importantes na medida em que evoluíram espontaneamen- te ou através de mecanismos comerciais. O segundo fenômeno consis- tiu nos campeonatos esportivos internacionais que logo complementa- ram os nacionais, e alcangçram sua expressão típica quando da restau-